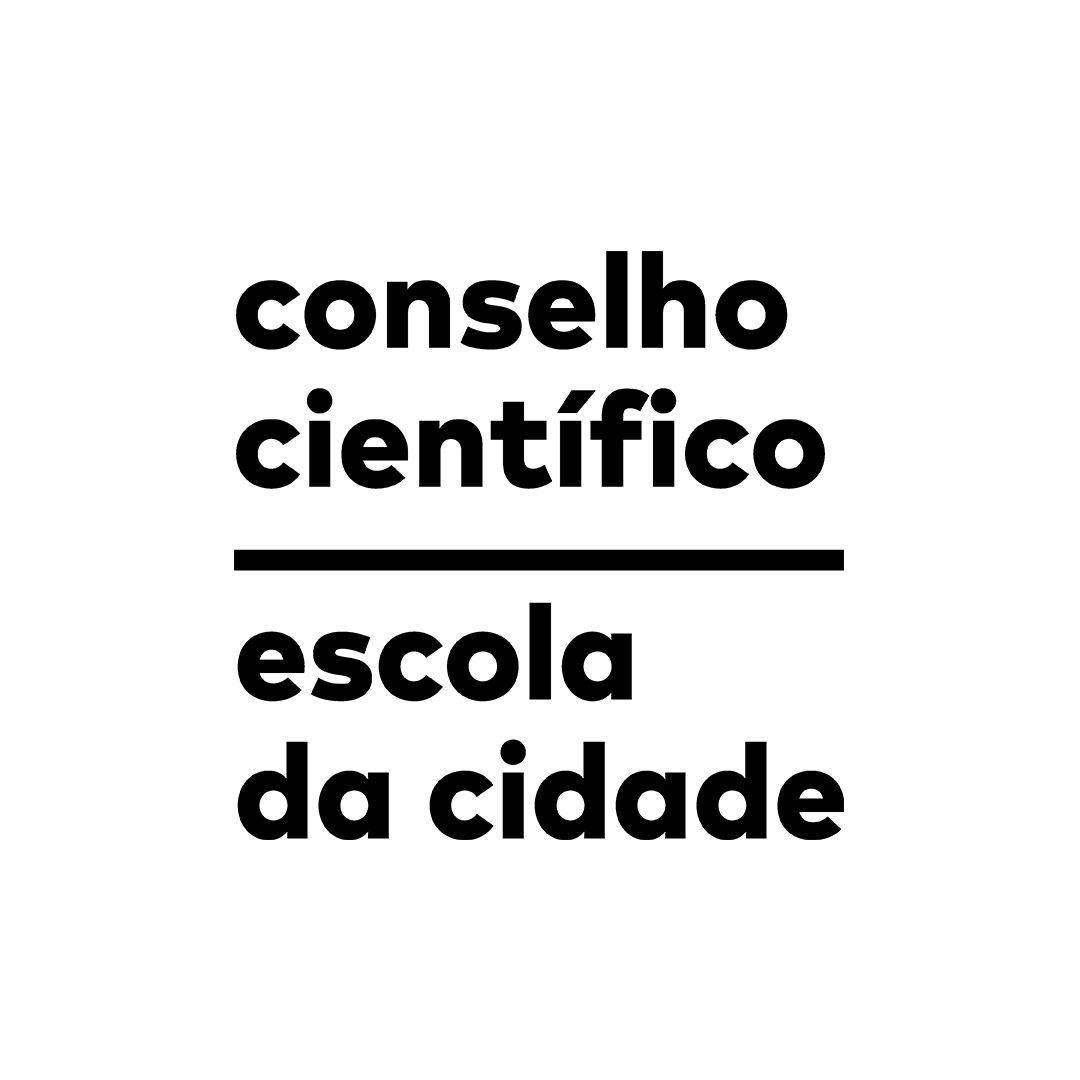LD: Raquel, vamos começar a nossa conversa falando sobre a metodologia empregada no processo de realização do trabalho. Relendo o projeto escrito por você, ficamos sabendo que, num primeiro momento, a sua ideia era ir a campo, ou seja, conhecer o espaço daqueles homens; em paralelo, você estaria coletando material visual e textual sobre o caso. O processo se deu dessa forma? Foi nessa primeira etapa que você se deparou com aquele ponto 23 do artigo 5 do processo do Ministério Público do Trabalho que deflagrou a ideia central da sua obra, qual seja, trabalhar a questão da incidência de luz no espaço?
RG: Foi um processo contrário do que você descreve. Quando a Ligia Nobre e a Carol Tonetti (curadoras do Projeto Contracondutas) fizeram o convite para a minha participação, me enviaram o material do Ministério Público sobre esse TAC (Termo de Ajuste de Conduta). Foi lendo este processo que encontrei esse artigo que você menciona e fiquei muito interessada nesse ponto. Neste ponto, já imaginei o projeto, desenhei esse projeto antes de ir a campo. Foi muito por conta desse artigo. É muito louco, mas foi por conta desse ponto dos autos de infração que fala da insalubridade ligada à luminosidade. Aí eu falei com as curadoras que eu queria visitar os alojamentos. A princípio, a ideia delas era que a gente fizesse tudo por georreferenciamento, porque é uma comunidade. E geralmente, para entrar nesses lugares, você precisa ter algum tipo de acerto. Alguns pontos creio que eram comandados pelo PCC. Tinha umas histórias assim, mas conseguimos finalmente ir a campo. Encontramos três dos alojamentos. Só que, para minha decepção, um dos três alojamentos que conseguimos visitar estava em reforma e os pedreiros não deixaram a gente entrar. O outro estava alugado, e as moradoras não estavam lá. Havia um bar do lado, e conseguimos o telefone do proprietário. O último alojamento que conseguimos encontrar estava para alugar. Este foi um dos alojamentos que eu usei no meu projeto.
Na verdade, eu não consegui adentrar os espaços. Voltei para Vitória (ES) e estou fazendo o projeto desde aqui, com idas frequentes para São Paulo. Chamei dois arquitetos que continuaram esse processo de investigação do espaço em Guarulhos, conseguiram falar com a imobiliária que cuidava do espaço que estava para alugar, conseguiram entrar, começaram a medir.
Por fim, eles conseguiram fazer todo o levantamento de três alojamentos e fizeram para mim maquetes eletrônicas, virtuais. Foi quando entrei nesse espaço. A partir dessas maquetes, com todos os levantamentos das paredes e todas as medidas, foram realizadas as maquetes físicas. Aí você entra no espaço de outra maneira novamente.
Esse dado da luz foi muito curioso porque, por exemplo, em um dos espaços onde foi feito o levantamento, é o segundo filme (são dois filmes, dois espaços), você não tem quase luz no lugar. No primeiro filme, você consegue ter alguma luz. A segunda é um espaço quase escuro. Neste filme, você tem umas vibrações de mudança de luz apenas.
L: Mas é muito mais escuro…
R: É muito mais escuro. É mais difícil, o espaço é todo mais quebrado. Se você pensar, viviam ali naquele espaço de cada maquete uns quinze trabalhadores mais ou menos. Tudo é sempre uma projeção ali, mas o lugar é de fato muito pequeno. As maquetes foram realizadas na escala de 1/10, dá para ter uma boa ideia do confinamento espacial. A segunda maquete tem um corredor imenso que dá nos quartos. E aí tem um muro do lado de fora da casa. Não tem mesmo como a luz entrar. A luz entrava por uma escada, uma claraboia. Então é muito pouca luz mesmo. Mas tentando te responder, eu acho que o projeto foi proposto desde os autos de infração. Ali eu tive um insight do trabalho e fui investigar se dava, se era possível retomar a condição espacial e luminosa dos alojamentos. Não é que eu fui lá e tive a ideia.
L: Entendi, foi o contrário.
R: O projeto de site specific aí não é uma situação de ir para o lugar e ter o insight, a ideia, mas é pensar um site mais alargado. O site era aquilo tudo, desde o material do processo feito pelo MP.
L: Você afirma no seu processo que o site specific/site specificity se refere a um estudo em arte sobre um lugar ou local e alguma ocorrência no mesmo. Sabendo que essa é uma questão cara para você, eu gostaria que nos demorássemos um pouco mais nela, a fim de entender como os parâmetros da ideia de site specific/site specificity atuam dentro dessa obra específica.
R: Eu acho que a gente tem uma ideia do site specific, como descrevem alguns autores que falam sobre isso, como se fosse uma primeira ordem ou genealogia do site, que é esse site físico. Os artistas chegavam no lugar, mediam e aí vinha a ideia do projeto. Os minimalistas trabalhavam dessa maneira. Mas óbvio que esse site vai se modificando e caminhando para ordens mais discursivas. E aí a ideia de lugar se estende a mapas, itinerários etc. Obviamente até o próprio georreferenciamento que fizemos deu uma ideia do lugar. As maquetes também são uma construção da ideia de lugar. Então você tem mecanismos e formas de adentrar no espaço; no espaço político, em camadas espaciais que não são necessariamente entrar num lugar, medir. Isso os arquitetos fizeram e muito bem. Eu acho que seria uma experiência muito interessante eu ter adentrado aquele lugar, em termos de experimentar em escala real algo do confinamento. Mas a maquete já te dá uma boa ideia de projeção sobre o lugar, de como ele é e como a luz não entra, como as paredes ali podem tornar o espaço tão exíguo. E aí, tocando no que você falou do site specific, ele parte já dos autos de infração do texto do Ministério Público como um lugar. Já começa ali o trabalho. É um trabalho que tem um investimento em questões de muitas outras ordens que não só o espaço físico mesmo. Não é só um trabalho de ocupar ou repensar um espaço. É um trabalho que teve um contexto, é contextual, está cheio de informações. Essas informações podem vir de outras ordens e outras camadas, e foi realmente o que aconteceu. O trabalho começa na leitura do processo.
L: Você chegou a procurar saber mais sobre quem eram essas pessoas que passaram por isso, ou não?
R: É muito difícil. Por quê? O que aconteceu? Esses trabalhadores vieram do Piauí. Ficaram ali quarenta dias em 2013. Em minha investigação, fiquei muito interessada, a partir também do levantamento das casas e tal, em como aquelas pessoas viveram naquele espaço tão confinado, sem luz. Fiquei muito interessada nisso. Acho que o meu trabalho, de certa maneira, também tem um modus operandi, a gente não escapa tanto disso. O projeto Contracondutas criou um site com um monte de material, tem vários textos, inclusive o de uma teórica que entrevistou alguns desses trabalhadores. Tem alguns relatos deles. E isso também foi ajudando a pensar o confinamento. Então acho que eu tinha outra escala de aproximação, outra forma de aproximação.
L: Desde o início me interessou a forma que você escolheu para abordar uma questão a princípio tão carregada de narrativa, cujo ponto de partida é uma situação real e de dimensões terríveis. Você busca um modo sutil de entrar nesse território, fazendo uso de maquete, luz, câmeras. Mas o resultado final, longe de ser frio, como alguém poderia suspeitar, é, isto sim, atravessado por certa “emoção”. Algo vibra naqueles quartos mínimos, naquele corredor estreitíssimo, ao longo do seu filme. Ao menos é o que já pude constatar vendo o making of…
R: Não é frio. Acho que na verdade tem uma coisa que é outro ponto de vista da emoção mesmo, de que o Milton Santos falava. Não uma emoção barata, mas aquela que tem relação com o tempo lento de que ele fala também. Acho que é uma perspectiva do tempo como uma projeção política. Os trabalhadores ficaram neste confinamento e espera durante quarenta dias. E a luz projeta no espaço uma condição temporal. Então acho que tem uma relação no meu projeto, de um tempo que revela um processo, que é interessante a gente pensar. E também pensar uma coisa que eu acho que é interessante do ponto de vista das imagens. A mínima luz que adentra aquele espaço, aquela maquete. Aquela luz não é inventada. Um planetarista, uma pessoa que tem conhecimento, fez todo um estudo da perspectiva solar durante aqueles quarenta dias, e ele descobre também um equinócio neste período. Então aquela luz está projetada no filme de acordo com o que aconteceu no tempo/espaço vivido pelos trabalhadores.
L: Naquele período de quarenta dias em que eles viveram ali.
R: Naquele período. Então aquela luz, digamos assim, documental, sempre é uma ficção, mas aquela luz que tenta documentar aquele espaço/tempo vivido pelos trabalhadores nos coloca numa perspectiva de estar na ordem do tempo em que eles estavam vivendo ali, em que eles estavam confinados ali. E aí a narrativa do filme é sobre a passagem desse tempo. Os filmes especulam como aquela luz projetada sobre o espaço poderia de alguma maneira contribuir para uma espécie de emoção, digamos assim. Como se existisse uma coisa que não está ligada necessariamente à ordem da lei, para que houvesse alguma dignidade. Isso a Cristiana Losekann, cientista política que escreveu um texto sobre o meu projeto para o Contracondutas, chama de “bateria moral”.
L: Interessante essa noção de “bateria moral”…
R: É um cientista político que ela está estudando que fala desse termo. De que maneira? Ela descreve esse termo como algo que existe já no sujeito. Essa bateria moral é ativada no momento por algum aspecto, poderia ser do espaço, do tempo, da vida daqueles sujeitos. Losekann usa esse termo para dizer o seguinte: não é o Ministério Público, o TAC, não são essas pessoas da lei, da justiça, que trarão uma espécie de dignidade para esses trabalhadores. Pode ser que essa dignidade tenha existido de uma coisa que está muito mais ligada a eles mesmos. Quem sabe um facho de luz, quem sabe uma música que tenha tocado naquele momento. A gente não sabe o que aconteceu. A gente sabe da história trágica, mas a ideia de emoção que está ligada aos sujeitos é uma coisa muito mais incontrolável, como a luz, como o tempo. Então Losekann aposta numa relação que está no sujeito, antes de estar nos sujeitos da lei e da ordem. Até porque a justiça falha também. Existem disparadores nesses sujeitos e formas de eles também dispararem esperança, digamos assim, emoção, através de coisas que a gente nem controla. A luz é o imponderável, um pouco desse elemento de alguma coisa que estava lá, porque ela foi estudada de acordo com o que estava acontecendo na ordem celeste daqueles dias. Isso é interessante pensar.
L: Muito bom!
R: Muito interessante pensar isso. Então a luz aparece também como metáfora. Quem sabe ela não era um disparador dessa emoção, digamos assim… Emoção que quem sabe também não poderia tornar a vida um pouco mais aprazível durante aqueles dias tão difíceis. E é engraçado que o filme parte de uma questão toda matemática, a maquete, a luz projetada de acordo com o que o planetarista estudou. Tenta ser documental, mas é óbvio que toda aquela situação é uma ficção também. Toda uma ficção sobre aquela realidade. Acho que o trabalho parte de uma condição que busca o documento. Quer dizer, é verdade que não tinha luz, estava lá nos autos de infração. Eu busco isso. É verdade que, quando a gente fez o levantamento do espaço, uma das maquetes nem luz quase tem e isso aparece no filme. É verdade que a luz solar se comportou daquela forma durante aqueles quarenta dias. Só que é óbvio que haverá uma construção que é fílmica. Haverá uma trilha sonora, fatos sonoros ali que modificam, que dão uma espécie de tom para essa narrativa. Infelizmente, a gente está fazendo a entrevista antes de você ver o filme pronto. Mas o que eu posso te contar é isso. Eu já trabalhei um pouco com o Hugo Reis, que está desenhando o som, e ele vai trabalhar muito nos termos de como o som pode processar o espaço e o tempo no sentido de criar um drama também, uma narrativa, uma ordem psicológica também para a cena.
L: Seria interessante te escutar falar sobre duas referências importantes para a sua obra, no que se refere à presença da luz e às questões sonoras, quais sejam, Gordon Matta-Clark (1943-1978) e Andrei Tarkovsky (1932-1986).
R: Tá. Vamos falar sobre eles. O Matta-Clark é um artista que eu já estudo há muito tempo. Ele é uma referência inclusive para as aulas que eu dou. Ele trabalhou numa relação entre espaço, filme e fotografia, e é uma coisa muito interessante pensar como ele orquestrava essas três questões. Eu acho que, para ele trabalhar o espaço, os cortes, por exemplo, ele pensava na luz. E ele falava disso, que a entrada da luz trazia uma questão que era do espaço público para o espaço privado. O arquiteto não era para ele mais importante que o construtor. Por isso ele mesmo fazia, cortava, quebrava, montava. Naquele trabalho Spliting, vemos direitinho no filme que ele está tirando a base da casa, a casa vai descendo e ele com o macaco hidráulico vai articulando a abertura para a luz.
L: Eu revi esse filme no domingo em uma exposição…
R: É maravilhoso! É um filme que eu adoro ver, porque é isso. Ele tem uma coisa do construtor e daquele que arquiteta, não tem diferença hierárquica. E a mesma coisa com o espaço, ele pensa isso assim. O espaço de dentro e o espaço de fora. Não por acaso, ele vai trabalhar a ideia de comunas também, aquele restaurante coletivo, uma ideia de uma Nova York naquele momento do Soho como uma ideia de coletividade. Ele estava enfrentando arquitetos que estavam pensando o plano diretor da cidade. Ele estava muito interessado em contribuir para uma relação completamente oposta. Uma relação que era da cidade como um lugar que é do morador. E não construída, ordenada pelo arquiteto. Um dos arquitetos e urbanistas que estavam fazendo o plano diretor era Peter Eisenman, que foi professor do Matta-Clark em Cornell, e que está vivo e continua construindo uma série de trabalhos importantes. Matta-Clark se opõe numa certa medida a essa escola que estudou. Ele se opôs porque estava muito mais interessado numa arquitetura viva, numa relação espacial viva com a cidade. E a luz é a metáfora para esse lugar, esse elemento questionador dessas ordens hierárquicas mesmo. É um elemento que, na medida em que corta o edifício, vai pensando como a luz tem que entrar. Então ele mais ou menos esculpe a casa, o espaço, de acordo com o movimento da luz, como queria que a luz entrasse ali. Se você assistir ao filme na íntegra, verá a luz no final do dia cortando a casa. Tem aquele Days End também, em que entra num galpão…
Os filmes são muito bem construídos na medida em que ele relacionou também espacialmente filme e ação sobre o espaço. Nos projetos dele, você percebe que, obviamente, havia muita noção estrutural para ele cortar e conseguir caminhar naqueles lugares labirínticos e perigosos também. E o que é muito interessante é que ele fazia isso, mas alguns cortes eram legais e outros ilegais. Os ilegais ele fazia na calada da noite com a ajuda de algumas pessoas, mas ele próprio cortava também. Mas no sentido de transgredir. Espaços que iam ser demolidos. Primeiro ele pensava numa operação, mesmo que momentânea, que depois teria uma duração na fotografia e no filme para essa condução da luz, para essa condução da ordem espacial público-privado, interno-externo, essas oposições espaciais, para que elas pudessem existir nem que fosse por algumas horas, e depois ficassem eternizadas no filme, na película ou na foto. Que elas tivessem uma relação ali com o real. Então, óbvio, acho que tem uma série de questões no trabalho dele que o meu trabalho não tem, mas tem pontos que eu fico muito interessada, como essa condução do tempo, do espaço, da luz, dessa quebra de hierarquias.
Óbvio que, no caso dos espaços dos alojamentos no meu projeto, se a gente pensar naquele espaço confinado que foram os alojamentos dados para esses trabalhadores ficarem como estoque de mão de obra, durante quarenta dias, existia ali uma espera infinita. Ou seja, eles ficaram numa espera infinita. Se endividando e tal, tem uma tragédia aí. E a luz entra como outro elemento em meio a essa tragédia. Ela traz uma relação, eu creio, não de tornar a história menos trágica do que ela é, porque é infinitamente trágica e não tem como mudar. É inexorável e está lá no processo. Então a ideia de liberdade que essa luz traz nos filmes é metafórica também. Mas ao mesmo tempo ela não é ilegítima.
L: O Tarkovsky é outra referência importante…
R: Quanto ao Tarkovsky, acho que tem uma relação muito interessante que os filmes irão explorar que é a referência sonora, porque acho que ele trabalhou o som no cinema de uma maneira muito interessante. Escultórica mesmo. Nos meus filmes, tem sons que são pontuais da cena que está ali acontecendo, mas sons também que trazem uma espécie de extra-diegese. Só pra te dar um exemplo, para pensar o desenho do som, eu e o Hugo Reis, que está fazendo desenho de som, revimos um trecho do filme Stalker. Quando os personagens do filme estão saindo da cidade para adentrar a Zona – que é um lugar que não fora contaminado. A Zona era um lugar puro, pois a cidade já sofrera todos os problemas de ordem ecológica, política etc., tornando-se o caos. Então, é quando os personagens fazem essa transição, junto com o Stalker, que é o único que pode fazer a transição de um espaço para o outro, pois tem alguma coisa especial que o faz capaz de ir para a Zona sem ser confundido, atingido. A Zona tem situações espaciais que confundem a pessoa que vai para lá, de maneira que ela geralmente enlouquece, tem algum tipo de reação ali. Mas o que é muito interessante é que, na trilha sonora desse caminho, reconhecemos o som de um carrinho de levar carga de trem. Você tem o som contínuo. Mas aí vão sendo atribuídas camadas sonoras que se misturam, produzindo uma massa sonora que já é quase uma música. E essa música vai demarcando o tempo da passagem.
Então, este autor é uma referência sonora muito grande para estes meus filmes. Os filmes do Tarkovsky também têm uma questão muito interessante, sobre o tempo mesmo. Acho que tem uma construção dos personagens, das cenas, que fala desses sujeitos distópicos, de uma distopia de um lugar que me interessa.
Pesquisei também sobre o Hitchcock. Adquiri um livro intitulado The wrong house, que tem todos os cenários de Psicose, de Festim diabólico, de todos os filmes dele que tinham uma preocupação com a cenografia, pois o espaço era muito revelador do drama, da cena, enfim, daquela narrativa psicológica que se dava ali. Neste livro, você encontra uma compilação de estudos, maquetes etc. sobre os espaços dos filmes dele. Tem uma coisa muito interessante também sobre o uso da maquete no cinema por vários autores. No Metrópolis, o Fritz Lang realizou maquetes numa escala agigantada para a câmera poder andar, um cinema de estúdio ainda. Tem um filme do Tarkovsky, Nostalgia, em que assistimos a uma casa pegar fogo. A gente vê isso numa cena e aquilo na verdade é uma maquete. É até uma imagem conhecida, que eu coloquei como referência no meu projeto.
L: Vamos falar sobre o título do seu trabalho, Mise-en-scène/Maquete: sérias cenas de violações de direitos humanos e trabalhistas no terminal de Guarulhos em SP. O termo mise-en-scène, muito caro ao cinema, nos remete a jogo de cena, representação, falso e verdadeiro. No projeto você evoca a possibilidade de pensar a posição da empresa, OAS, como uma mise-en-scène. Eles estão ali enganando aqueles trabalhadores, fazendo falsas promessas, iludindo. Como lhe interessam as ideias envolvidas nesse termo dentro do seu trabalho?
R: A mise-en-scène é o que constrói a cena, constrói o que a gente vai ver no filme. E para mim, por exemplo, esse material off, as maquetes e tal, são muito importantes nesse processo todo. O projeto é muito interessante, para além do filme. Para o Contracondutas, eu não conseguirei apresentar tudo, vou apresentar os dois filmes. Mas já estou pensando em como levar isso adiante, uma exposição, em que eu apresente essas maquetes, em que eu apresente, por exemplo, todo o estudo solar que foi feito. Porque é um filme que só existe, aquela cena só existe, porque tem um off. E aí eu vou criando metáforas também, como você lembrou que eu falo no projeto. Tinha um trato enganador, quer dizer, quase como se pudéssemos transpor essa condição que é da construção da cena. Isto é, a cena para existir é uma mentira sempre, é uma reprodução de alguma coisa do real. Por mais que se aproxime do real, ela é falsa. Então é impossível sair desse lugar no filme, desse falso. Aí ele se duplica, triplica, quadruplica, e vai até mesmo para essas ordens que são da condição mesmo da história, da narrativa lá do trabalhador com a empresa OAS. Isso é narrado também num dos textos que está no site do Contracondutas. Quando os trabalhadores chegam nos alojamentos, os mesmos estão vazios. Exatamente como está na maquete. O primeiro olhar deles sobre o espaço possivelmente se aproxima ao da maquete. Não tinha cama, não tinha fogão, os trabalhadores foram adquirindo as coisas. Então eles foram construindo o espaço. Acho, portanto, que a mise-en-scène entra como uma condição primeira, incontornável, da cena. E também acho interessante lembrar que, por mais que a gente tenha documentado todos os passos, fizemos o levantamento numa ordem arquitetônica, matemática. Fizemos o estudo solar de acordo com todos os mecanismos e materiais que existem para estudar a luz hoje. Foi feito uma espécie de heliodon para filmarmos, um mecanismo que refaz a passagem do sol, uma luz de estúdio. Por mais que a gente tenha constituído o espaço como ele foi, nunca mais ele será o mesmo. Nunca mais voltaremos no tempo e teremos aquela experiência. Aquela experiência é sempre uma construção fictícia e uma cena. E aí me interessavam estas camadas… Uma coisa é você entrar naquela situação de acordo com o que o filme propõe, mas eu acho que quero mostrar ainda e ficarei muito satisfeita quando conseguir trazer mais para uma exposição ou para uma mostra dessas outras camadas que fazem parte do trabalho e estão articuladas, e que podem ser articuladas junto com o filme. O filme é a condição final de um processo. Eu estou interessada, como em outros projetos meus, numa relação processual, que não se resume a uma condição final. Por isso eu às vezes apresento um projeto em um display, depois mudo o display e vou para outro em outra exposição com o mesmo material. Tem uma ideia de que o trabalho vai se deslocando também. Em cada exposição ele ganha uma forma outra de exibição e de captura do espectador. Acho que o trabalho contemporâneo tem isso hoje em dia, uma relação mais processual. E acho que podem entrar na expografia, na nova expografia de outra exposição, outros elementos dialogando com aquele elemento anterior. Creio que eu não consiga pensar um trabalho que se esgote. Acho que a minha produção também caminha no sentido de experimentar formas expográficas do mesmo projeto. Fico muito interessada nisso. Não fico satisfeita com uma coisa só. E aí acho que a ideia de mise-en-scène atravessa minha maneira de pensar também. Aprecio essa ideia de uma constelação de coisas que você pode ir reunindo e atualizando no trabalho em narrativas afinadas com cada momento em que você reapresenta aquele trabalho, por exemplo.
L: A questão da duração é importante na sua obra. Assim como uma ideia de tempo lento. Em um artigo intitulado “O tempo nas cidades”, o grande geógrafo Milton Santos discorre sobre os diferentes tempos dentro de uma metrópole. Em certo trecho, ele afirma, e aqui eu o cito rapidamente: “Tempo rápido é o tempo das firmas, dos indivíduos e das instituições hegemônicas e tempo lento é o tempo das instituições, das firmas e dos homens hegemonizados. A economia pobre trabalha nas áreas onde as velocidades são lentas. Quem necessita de velocidades rápidas é a economia hegemônica, são as firmas hegemônicas.” Acho que o seu trabalho pode gerar um diálogo fértil com essas questões levantadas por Milton Santos. Fala-se muito que vivemos em uma época de alta aceleração, mas o fato é que velocidade e nomadismo são verdade somente para uma parcela da população. Para uma grande parte, a vida se resume a trajetos iguais e lentos. Como você enxerga a possibilidade de pensarmos o tempo lento de Milton Santos e o seu trabalho?
R: Eu acho que a questão do tempo lento foi trabalhada, eu trabalhei, sobretudo naquele projeto do Boa Vista, que você também já apresentou em curadorias suas. Tinha aquela coisa do tempo da espera e tinha uma nostalgia que era do trem. Ele é uma referência também para esse trabalho. É uma questão que eu acho muito interessante. O tempo lento, como potencial, aparece também no meu trabalho Work in Field. E a ideia de duração aparece em quase tudo que realizei.
O Milton Santos falava desse tempo das coisas agendadas e do tempo lento. E eu acho tão incrível os homens do tempo lento dele, porque numa hierarquia tempo-espacial poderia parecer que eles são menores, que eles são menos interessantes, menos importantes. Mas, como Santos descreve, eles são sujeitos capazes de ver a cidade, de ter uma experiência com a cidade que a gente nunca vai ter. Então existe aí uma contribuição, um olhar, uma forma de se relacionar com o espaço-tempo que é muito única, muito particular. Sem também querer banalizar a vida deles. Porque ele fala deste tempo como o tempo dos homens pobres, sem fazer um elogio à pobreza. E eu acho que a gente só consegue sair dessa condição de um olhar muito veloz, muito rápido, hegemônico, de que você fala, quando minimamente nos aproximamos dessa condição… Obviamente nunca estaremos nesse lugar do outro.
L: Mas quem sabe minimamente projetar essa relação…
R: Então, de novo a mise-en-scène, de novo essa ideia de um projeto que te coloca num tempo-espaço que é de uma ordem que você não veria normalmente. Não é que estejamos acostumados a olhar as coisas só de uma forma, mas não temos tempo para isso. O tempo lento força essa relação. Depois você vai ver o filme e ele vai ter uma narrativa mais rápida do que a gente pode imaginar. Ele tem uma construção mais cinematográfica, no sentido de uma cena que acontece, que tem acontecimento, do que o Boa Vista. O Boa Vista era mais estendido, ainda mais do que esse filme será, embora seja mais curto. Mas ali você vai perceber que é um trabalho em que interessa entender a parte discursiva dele, para entender que tempo é aquele que está sendo narrado. Um tempo de espera, de estoque de mão de obra. Mas eu acho que é interessante a gente pensar essa relação de uma forma positivada, o que o Milton Santos fez muito bem. Porque esse tempo não vale nada para quem está ligado ao capital, todos nós mesmo. Esse tempo em que as coisas acontecem e quase não tem acontecimento, digamos assim, para nós que vivemos nessa condição de ganhar o dinheiro, ele não tem valor. É um tempo sem valor. E eu acho que Santos traz um valor outro que é muito interessante e que de alguma maneira empodera esses sujeitos pobres, sujeitos do tempo lento. Eu acho que há um empoderamento dos sujeitos através de uma relação que é espaço-temporal, que ele relaciona ali. Ele tem aquela frase célebre: “a força dos fracos é o seu tempo lento”. Então é isso, existe um empoderamento, sim. Até naquele Roda Viva que você me mandou outro dia, que eu revi e tal, tem uma pergunta para ele sobre isso, uma pergunta provocadora de um daqueles jornalistas, que fala: “Ah, então você acha que todo pobre é sábio?” Voltamos para aquilo que eu estava falando anteriormente, não é uma questão de enaltecer essa condição. E Milton Santos responde: “Sim, todo homem do tempo lento, toda experiência de escassez, é uma experiência de sabedoria.” Essas pessoas têm uma sabedoria que a gente não tem. Então tem aí nesse tipo de empoderamento dado por Santos, através dessa condição espaço-temporal que ele cria, algo que é muito interessante e que eu acho que temos que olhar cada vez mais, porque estamos num mundo que está virando as costas para esse lugar e essas pessoas. E eu acho que essa é uma das questões políticas mais importantes que a gente tem hoje, se você quer bem saber.
L: Concordo. Esse é um dos temas principais dos meus estudos…
R: Você lida com essa questão já há muito tempo. Mas eu acho uma questão urgente e que não se esgotou. Acho que o Milton Santos trabalhou muito bem, mas é uma questão que não se esgota. Penso que, quanto mais o tempo se acelera, quanto mais o espaço se comprime, mais a gente tem essas ordens espaciais muito voltadas para o capital, para o dinheiro, para as velocidades, e mais esse tempo deve ser pensado. Por exemplo, podemos pensar naquela relação, voltando para o Matta-Clark. Ele estava muito irritado com o plano diretor da cidade de Nova York. Eram cinco arquitetos fazendo o plano diretor e estavam levando em conta o automóvel, como a cidade deveria se articular, as zonas, estavam promovendo uma espécie de gentrificação das áreas. Então cinco pessoas pensando uma cidade a partir de uma ordem espacial, digamos que hegemônica, pensando em como o Milton Santos falava. Matta-Clark estava pensando em desacelerar. Estava pensando em hortas, comunas, em um restaurante em que as pessoas cozinhassem e fizessem seu próprio alimento. Estava pensando inclusive numa desaceleração dessa ordem espacial. Não é porque se deu nos anos 1970 que tudo mudou. É um trabalho atual, um trabalho para olharmos até hoje. Ele está trabalhando velocidades ali. Está trabalhando espaço-tempo numa outra relação. E que é arquitetônica também. Óbvio que ele usa o conhecimento de arquitetura dele na instituição arte para criticar a instituição urbanismo e arquitetura. Mas é muito interessante esse jogo de interesses.
De um lado, a desaceleração e, de outro, a hiperaceleração da cidade negócio. É muito louco, né? Porque, se pensarmos de novo no meu projeto, aqueles trabalhadores ali ficaram fadados àquele lugar. Eles estavam presos nesse lugar, nesse tempo de espera. E esse tempo de espera não era nem uma condição eleita por eles, era uma condição que era interessante para a OAS, nos termos da exploração humana. O Milton Santos também fala isso; eles estão condenados a esse tempo da espera, mas também pode haver um empoderamento se a gente pensar numa outra perspectiva para essa ordem espaço-temporal que eles estavam vivendo. Eu acho que essa mudança de olhar sobre o tempo é que é interessante.
L: Chegando ao final de um longo processo, com o filme praticamente pronto, como você enxerga o seu trabalho e o Contracondutas de uma maneira mais geral, como forças poéticas e reflexivas capazes de instaurar uma nova postura, quem sabe mais crítica, em relação a esse tipo de ocorrência que sabemos não termina nesse episódio? Afinal, de alguma maneira o Contracondutas é uma forma de “reparação” ao que ocorreu através de um TAC.
R: Eu acho que essa ideia de um projeto reparador, em relação a esse projeto, já me tirou o sono muitos dias. Mas eu fui entender que o dinheiro para fazer um projeto de arte sempre virá de algum lugar, porque sem o dinheiro nós não fazemos as coisas. Por outro lado, apesar ou além de ser o dinheiro de um TAC, é preciso pensar. Eu acho que pensar o TAC ou os projetos como situações que resolvem é totalmente ilusório. Acho que é um projeto que cria um esforço. Não em resolver algo, mas de fazer um projeto que é discursivo: terá um seminário, trabalhos de arte, bases móveis desenhadas pelo Victor César que vão para a rua, oficinas, palestras durante o ano todo, terá uma publicação. É um projeto que tenta pensar essa condição, mas também se coloca numa perspectiva de crise e crítica. Acho que em nenhum momento eu entrei nesse projeto achando que seria um trabalho que resolveria muita coisa em relação ao problema dos trabalhadores de fato. Mas penso ser interessante criar uma situação como essa que a Escola da Cidade está fazendo, de discussão, de publicação, de informação, de produção de informação. Então pensar até que ponto e que escalas conseguimos alertar, entender e trabalhar a partir desta experiência é entender que estes problemas não serão resolvidos do dia para a noite, mas que é um processo de conscientização, de politização. Acho interessante também um trabalho que possa ser produzido numa relação que experimenta outras formas. E que abre caminhos também para a construção do sistema da arte, não só os mais conhecidos, da galeria ou do museu. Claro que tem também uma crise, uma crítica que o trabalho vai se fazendo no percurso.
Não é lugar confortável pra mim. Não é um lugar com o qual eu já saiba lidar. De outro modo, por que não experimentar também trabalhar nessa condição? Por que não pensar nesse trabalho, nesse esforço, como alguma coisa que poderá contribuir para uma politização desse tipo de ocorrência que se banaliza no Brasil e a gente nem fica sabendo direito. Acho que é uma questão que fica em aberto, o que o trabalhador ganha com isso, o que o artista ganha, o que o arquiteto ganha no final das contas. Tudo bem, a gente ganha, tem os ganhos individuais ali. O trabalhador não, porque eu acho que é a ponta mais frágil da corda. Acho que é preciso pensar que pode haver um ganho político, um ganho de politização mesmo destas questões. E da arte também como um instrumento. Óbvio que não é um trabalho que busca se colocar numa perspectiva de uma arte política, digamos, ou de uma arte que se refere ao político de forma alegórica. Ele lida com essas questões de maneira muito mais complexa. E eu tentei fugir mesmo de uma banalização, de formatos também que já foram experimentados. Eu acho que é um caminho a se percorrer.