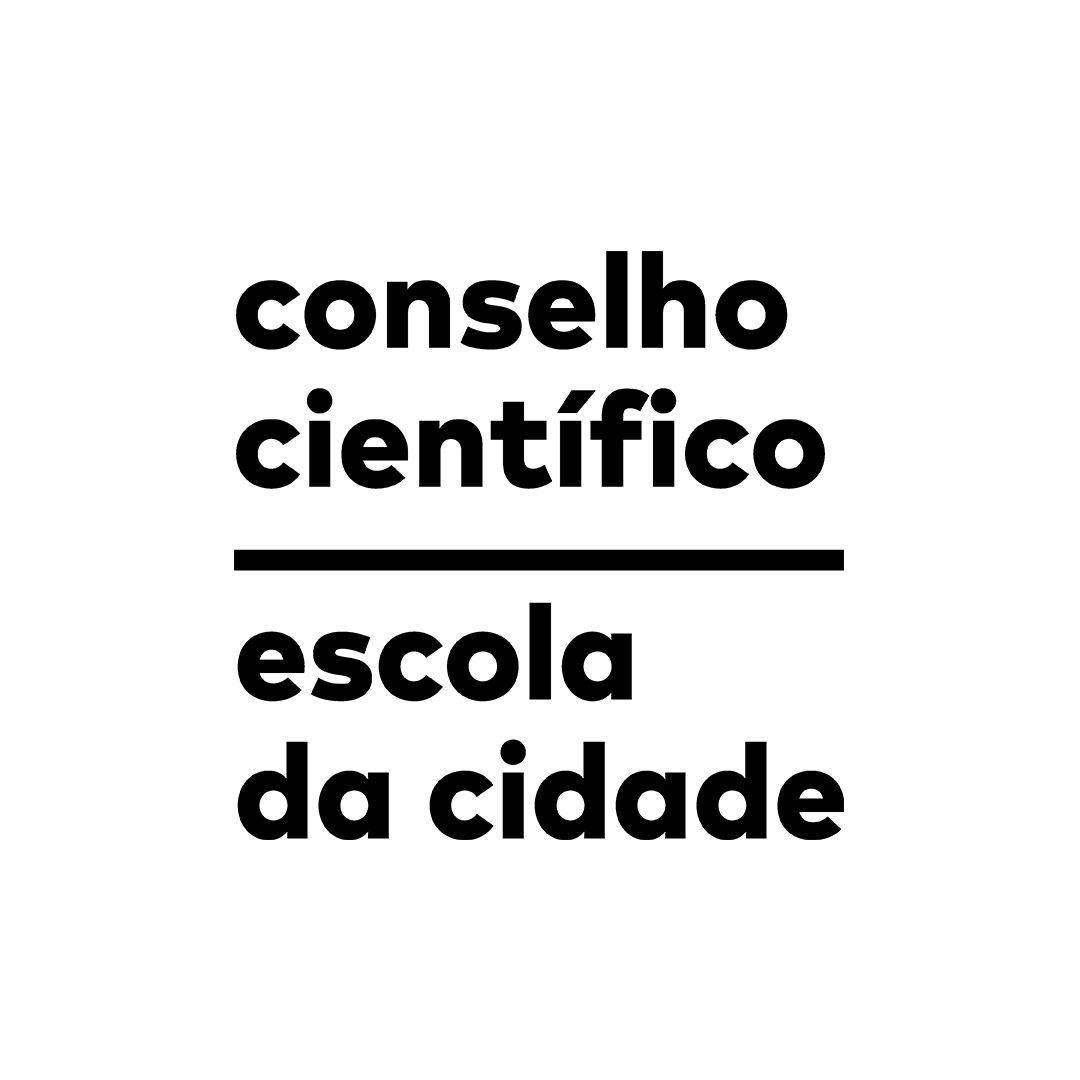1. Os peões
Em 2013, mais de uma centena de trabalhadores em situação análoga à escravidão foi resgatada das obras do Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos. Eles haviam custeado suas próprias passagens do Nordeste para São Paulo, haviam feito exames médicos na empresa e sido alojados em barracos ou em casas apinhadas e sem qualquer mobília, mas nunca chegaram a trabalhar nem receberam um tostão. Perdidos numa cidade gigantesca e desconhecida, não tinham o que comer, roupas apropriadas para o frio do inverno paulista, meios para voltar pra casa. No dia em que foram resgatados por um sindicato de Guarulhos, alguns se ajoelharam e choraram.
Naquela época, segunda metade de 2013, o Brasil vivia um momento bom. O desemprego fecharia o ano em 5,4%, no menor patamar da história (MARTINS, 2014). O Produto Interno Bruto, ainda que muito distante de campeões como China e Índia, apresentava um crescimento sólido, de 2,3% (PORTAL BRASIL, 2014). O escândalo do Mensalão, à época tido como o maior caso de corrupção da história do país, parecia ter ficado para trás, com condenados se entregando à Justiça (PORTAL G1, 2013). Em junho, quando o povo tomou as ruas para gritar contra um aumento de 20% nas passagens de ônibus, políticos atenderam aos anseios das massas e congelaram o preço do transporte (DUAILIBI; GALLO, 2013). A democracia parecia mais consolidada do que nunca.
Aos olhos da comunidade internacional, o Brasil era um país em evidência e parecia confortável em sua posição de líder regional. Mostrava-se moderno e progressista, com uma presidenta ex-guerrilheira sucedendo um operário que, segundo Barak Obama, havia se tornado o político mais popular do planeta (BBC, 2009). Como consequência, o país conseguira ingressar no seleto grupo de nações a sediar uma Copa de Mundo e uma Olimpíada, num intervalo de dois anos.
O desafio trazido pelos maiores eventos do esporte mundial era hercúleo: o cronograma era apertado, e, para cumpri-lo, o país se transformou num grande canteiro de obras. Segundo o tribunal de Contas da União (TCU), apenas nas construções relativas à Copa, os gastos chegariam a R$ 25 bilhões (BRANDÃO, 2014), em obras que iam muito além dos estádios e envolviam um amplo pacote de mobilidade urbana.
No Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, um terminal completamente novo era preparado para receber participantes e espectadores do maior evento do futebol mundial. Teria 192 mil m2, poderia receber até 12 milhões de passageiros por ano, e contaria com tudo que a moderna construção civil podia oferecer.
Um sistema de concreto-armado pré-fabricado permitiria que as fundações fossem construídas com mais agilidade. A iluminação teria ênfase em luz natural e lâmpadas de LED, gerando economia aos futuros operadores do empreendimento. Os vidros duplos, com películas especiais, aumentariam a eficiência térmica, assim como as paredes recheadas com lã de rocha. Elevadores autônomos gerariam energia com o próprio movimento, e haveria sistemas de última geração para reciclagem de lixo e reúso de água da chuva (LEONE; MEIRELLES, 2014).
Antes de essa modernidade toda entrar em cena, contudo, haveria muita lama e muito concreto, haveria muito ferro para se dobrar, e haveria trabalhadores humilhados, num sistema de exploração que teima em não mudar ao longo dos séculos. Em outras palavras, naquele mesmo Brasil que, no início de terceiro milênio, caminhava de peito aberto rumo ao protagonismo, haveria escravidão.
Os 111 de Petrolândia
A denúncia de que a OAS, à época uma das maiores empreiteiras do país, estava mantendo trabalhadores em situação análoga à escravidão só foi possível por causa de uma malandragem dos líderes do Sindcongru – o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil . Eles recebiam constantes denúncias ligadas à obra do Terminal 3, mas nunca conseguiam acesso ao canteiro. A empresa alegava que o sindicato responsável pelo empreendimento era outro, voltado para construções pesadas, e vetava o acesso.
A solução encontrada pelos sindicalistas foi jogar, por cima dos tapumes, uma porção de filipetas que falavam sobre os direitos trabalhistas, ofereciam ajuda em casos de exploração e davam o telefone do sindicato. Em pouco tempo, vieram as primeiras ligações, que levaram às primeiras casas. Os sindicalistas se dividiram em duplas, num mutirão que tomou as ruas esburacadas dos bairros ao redor do aeroporto.
“A gente não ficava mais aqui no sindicato”, contou o diretor do Sindcongru, Marcelo dos Santos. “Vivia na rua. E tinha de andar com dinheiro, porque na hora que encontrava os caras, eles estavam sem comida, sem nada. Aí tnha que negociar com o dono do barraco onde ele tava, porque o barraco era ruim, mas ficar ao relento era pior. Ou tinha de colocar no carro e levar pra algum hotel da região”.
Aos poucos, conforme conversavam com os operários, Marcelo e seus colegas foram entendendo o funcionamento do esquema. Os trabalhadores eram aliciados em cidades do Nordeste, a maioria, em Petrolândia, em Pernambuco, onde carros de som rodavam a cidade oferecendo oportunidades de trabalho em São Paulo. Os que se interessavam tinham de pagar de R$ 300 a R$ 400,oo para uma transportadora, que os despejava direto na obra do aeroporto, como detalha o relatório de inspeção, que mais tarde seria elaborado pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
A partir daí, cada grupo conta histórias um pouco diferentes, mas, no geral, eles faziam um exame médico admissional e eram instruídos a esperar que empresa entrasse em contato. Alguns se hospedavam em barracos na região; outros se amontoavam em casas arranjadas pelos próprios aliciadores.
Como não havia nem trabalho nem salário, muitos pediam comida na vizinhança; outros faziam dívida: em apenas um restaurante local, as refeições vendidas a esse grupo de trabalhadores de operários chegaram a R$ 3 mil.
O armador Lindemberg João da Silva, morador de Petrolândia, resumiu sua epopeia no caso. Contou que foi procurado por Luciano, um conhecido seu que já trabalhava na OAS. Na ocasião, Luciano disse que estava procurando gente para trabalhar numa grande obra em São Paulo e que o salário seria de R$ 1.400,00, com direito a vale alimentação e hora-extra. A passagem sairia por R$ 450,00 e a hospedagem também ficaria por conta do trabalhador, mas não custaria muito, cerca de R$ 50,00 ao mês. Lindemberg aceitou a proposta e, no dia 10 de agosto, às dez horas da noite, embarcou num ônibus com outros 37 peões.
A viagem foi longa. Os assentos estavam em más condições, o banheiro não funcionava e o veículo quebrou cinco vezes. Numa delas, um caminhoneiro emparelhou com o ônibus e alertou que o motor estava em chamas. Apesar dos contratempos, dois dias depois, por volta de uma da manhã, o veículo com o grupo estacionou em frente ao escritório da OAS próximo ao Aeroporto de Guarulhos. Os homens dormiram ali mesmo e, na manhã seguinte, uma parte deles fez exames médicos na construtora. Ficaram por ali até o fim do dia, quando caminharam 20 minutos até a casa que Luciano havia conseguido para eles.
Trinta e oito homens passariam a viver no imóvel com três quartos e apenas um banheiro. Não havia móveis, nem camas ou colchões. Os que tinham colchonetes dormiriam neles, os outros se arranjariam como fosse possível, em papelões ou em lençóis sobre o piso frio. Alguns dias após a chegada, Lindemberg foi informado que a empresa contrataria apenas pedreiros e ajudantes – não havia previsão de quando precisariam de armadores.
Sem alternativa, ele continuou na casa. A cada dois dias faltava água, o banheiro estava sempre quebrado e um cheiro nauseabundo de fossa dominava a casa. Havia pouco ou nada o que comer, até Luciano conseguir que a dona de um restaurante fornecesse uma única refeição por dia aos homens, em caráter fiado. Lindemberg ficou pouco mais de um mês nessa situação, até ser resgatado pelo pessoal do sindicato.
Mais ou menos dois meses depois, a OAS e o Ministério do Trabalho celebrariam um dos maiores acordos judiciais referentes a Trabalho escravo da história do Brasil, no qual a construtora concordaria em pagar R$ 15 milhões por compensação de danos. Desse dinheiro, R$ 7 milhões seriam revertidos a iniciativas que tivessem objetivos filantrópicos, culturais, educacionais, científicos ou que ajudassem a melhorar as condições de trabalho. O projeto Contracondutas, da Faculdade de Arquitetura Escola da Cidade, recebeu parte dessa verba.
E o restante? Bem, o restante é uma incógnita. A princípio o dinheiro deveria ser usado para pagar indenizações trabalhistas, mas uma conta rápida mostra que há um descompasso nos valores. O montante a ser recebido por cada um dos 111 resgatados foi de R$ 3 mil em média para cada um, o que daria um total de R$ 330 mil. Teriam, portanto, sobrado R$ 7,7 milhões nos caixas da OAS para custear despesas de hospedagem e retorno dos resgatados – soma que soa um tanto exagerada.
Por cerca de três meses, procurei o Ministério Público do Trabalho do Estado de São Paulo, responsável por supervisionar o acordo judicial, chegando a formalizar um pedido oficial via Lei de Acesso à Informação. Até o começo de julho, não havia recebido qualquer resposta.
Fumaça na colmeia
Depois que o acordo judicial foi firmado e que a notícia se espalhou pelo bairro onde os operários estavam hospedados, houve uma correria de empresas terceirizadas que trabalhavam junto à OAS para tirar trabalhadores de barracos, cortiços e pensões. Afinal, numa obra do porte do Aeroporto de Guarulhos, só uma parte da mão de obra é de fato contratada pela empresa principal.
Outras várias empreiteiras menores entram como intermediárias, pulverizando o sistema e dificultando a fiscalização. Pulverizar. Essa foi também a estratégia das subcontratadas, depois que o Ministério do Trabalho chegou revirando as gavetas do empreendimento. Tirar o povo de Guarulhos e espalhar pela região.
Porque, ainda que tenham ganhado um tanto de visibilidade, os 111 eram apenas a ponta do iceberg: o pessoal do sindicato conta que algumas semanas depois do acordo, encontrou outra centena de trabalhadores da empreiteira Drenarte, alojados no município de Suzano. Eles tinham sido retirados às pressas de Guarulhos e estavam hospedados num bordel abandonado. “Pegaram aqueles “cafofos” onde eram os quartos íntimos, enfiaram uns beliches de madeira ali dentro e mandaram o pessoal todo pra lá”, contou Marcelo dos Santos.
Em pouco tempo, os casos de operários que se diziam em situação análoga à escravidão eram tantos que o Ministério do Trabalho não dava mais conta de cuidar de todos. Passou a orientá-los a procurar ajuda legal no Sindcongru. Como resultado, o departamento jurídico da instituição contabiliza hoje 171 processos contra a OAS, todos sob a tutela do advogado Jonadabe Rodrigues Laurindo, um homenzarrão negro, alto, cujo terno perfeitamente alinhado destoa da roupa simples de seus colegas de sindicato.
Na maioria dos processos que abriu contra a empreiteira, Laurindo pediu 50 salários mínimos, valor que, diferentemente do estipulado no acordo judicial dos 111, incluía danos morais. O advogado ganhou alguns casos, perdeu outros, e, na média das vitórias, garantiu cerca de R$ 15 mil a seus clientes. No decorrer das ações, conta que viajou várias vezes ao Nordeste, foi à casa dos operários, tomou contato com a realidade de seus novos clientes.
“A gente tem que entender que esses trabalhadores são trecheiros – eles vão aonde tem obra. De tempos em tempos, saem de casa e vão pra qualquer lugar do país para realizar um trabalho por seis meses, um ano. Depois voltam, ficam algum tempo com a família e viajam novamente”, explicou com uma voz pausada que denotava uma paciência acima do comum. “São pessoas que fazem o trabalho mais de formiga mesmo. Armador, ajudante, o cara que vem para amarrar o ferro e ajudar a amarrar o ferro, levar o concreto… A maioria deles faz isso. O trabalho mais simples, mais braçal”.
Ainda segundo o advogado, não são incomuns casos de trabalhadores resgatados de uma situação humilhante, de escravidão, que são mandados de volta para casa e, meses depois, acabam resgatados outra vez, em outra obra, numa situação muito semelhante à anterior.
“Muitos não têm opção. É ficar e ver o gado morrer, os filhos passarem fome, ou se aventurar em busca de um trabalho… Alguns encontram uma boa empresa para trabalhar e conseguem o sustento para os seus familiares; outros têm essa infelicidade de cair em trabalhos degradantes”, concluiu com alguma resignação na voz.
A teoria da máfia
“Era uma questão de máfia”, me disse o presidente do Sindcongru, Edmilson Girão da Silva, o Índio. “Eles cobravam para colocar currículos no topo da pilha de exame admissional. O trabalhador fazia o exame, mas não trabalhava, dava lugar pra outro. Nessa troca, eles faziam como se fosse um banco de mão de obra”, explicou. “[O dinheiro] era dividido entre o administrativo e a parte de engenharia, os caras que tocavam a obra em si. Ali tava tudo combinado. Eu não falo que o dono da OAS sabia, mas aqueles caras que estavam ligados à obra sabiam. Não tinha como esconder”, disse.
Índio conta que teve contato direto com essa suposta máfia. Foi na época em que as denúncias estavam no auge, com os funcionários do sindicato gastando sola de sapato para descobrir um alojamento clandestino depois do outro. Era perto da meia-noite e ele se preparava para dormir quando o telefone tocou. Do outro lado da linha, um dos encarregados da OAS pediu que ele fosse ao escritório da empresa. Índio concordou, se vestiu, mas antes de sair achou por bem deixar a esposa ciente de seu paradeiro: “Olha, se eu não voltar, se acontecer alguma coisa, estou indo para OAS”, teria dito.
O sindicalista contou que quando chegou ao local combinado, por volta da uma da manhã, pediram que ele entregasse o celular, depois o levaram até uma sala com meia dúzia de executivos. Um dos homens teria então perguntado o que ele queria para resolver a situação. Índio me disse que interpretou a pergunta como uma brecha aberta para uma negociação de propina e que tratou de fechá-la no mesmo instante. “Eu quero que os trabalhadores sejam indenizados e que a empresa passe a cumprir a lei”, teria respondido, encerrando a conversa.
A teoria do modus operandi
No caso dos 111 de Petrolândia, vários aspectos se uniram para caracterizar o que o Código Penal (BRASIL, Lei nº 2848/40, 1940) entende como trabalho análogo ao de escravo. Entre eles, condições degradantes, danos à saúde ou risco de vida, isolamento geográfico e servidão por dívida. Por lei, a empresa não poderia sequer trazer trabalhadores de fora sem informar o Ministério do Trabalho e, se o fizesse, teria de oferecer hospedagem e alimentação. O fato de que os operários não chegaram, em nenhum momento, a trabalhar, não exime a empresa de culpa. “Se eles não estavam efetivamente trabalhando, isso é um problema da empresa, não dos trabalhadores”, disse o auditor fiscal do trabalho Renato Bignami, responsável por acolher a denúncia do Sindcongru. Ele me recebeu no escritório da Superintendência Regional do Trabalho, no centro de São Paulo, uma típica repartição pública, com mesas de fórmica lascada, cadeiras mancas, computadores da década passada e pastas de processo empilhadas em todos os cantos.
Bignami não encampa a teoria do Sindcongru, de que o aliciamento de trabalhadores no caso da OAS era fruto de um esquema criminoso, organizado pelos tocadores da obra. “Um mês antes de esse pessoal chegar, a empresa estava desesperada por trabalhadores, colocando anúncio nos jornais da região. Por isso, tudo leva a crer que a OAS sabia que tinha um preposto dela aliciando e puxando turma”, disse. “A gente não conseguiu descobrir se isso era feito com ou sem o conhecimento das instâncias superiores, mas imaginamos que todos sabiam.”
O principal indício a apontar nessa direção é o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) apresentado pela OAS. O estudo, que deveria prever o os efeitos que a vinda de mão de obra de fora poderia causar no ambiente em torno do empreendimento, afirmava que, ao longo dos 73 meses que a obra deveria durar, o pico de trabalhadores no canteiro seria de cerca de 2 mil homens. O documento citava uma suposta “situação de desemprego regional” em Guarulhos e recomendava que fossem contratadas pessoas “residentes nos bairros mais próximos ao aeroporto”.
Esses números, contudo, são bem diferentes daqueles apresentados no histograma da obra – uma previsão de quantos trabalhadores seriam necessários em cada etapa do empreendimento. Ali a empresa afirmou que, nos meses mais intensos, usaria mais de 8 mil homens, um número quatro vezes superior ao previsto no Relatório de Impacto Ambiental.
“O Rima era fraudulento”, disse Bignami. “Ele não estudou de verdade mercado de trabalho para verificar se existia mão de obra em quantidade suficiente para a OAS não precisar recrutar trabalhador de fora. E não precisar trazer, significa não precisar dar alojamento, não arcar com esses custos. Então, ela fingiu que o mercado de trabalho de Guarulhos ia dar conta do que ela precisava em qualquer situação, quer precisasse de 500 ou de 15 homens”.
Mas por que manter uma centena de homens sem de fato trabalhar, como uma quantidade extra de bloco, areia ou pedra brita? Para Bignami, era simplesmente uma forma de baratear os custos. Segundo ele, numa obra do porte do Terminal 3, é muito difícil se prever exatamente quantos braços serão necessários em cada etapa. Por isso, a empresa “estocava” essa reserva de trabalhadores não remunerados. A estratégia, no fim das contas, não foi das melhores, uma vez que o acordo judicial custou R$ 15 milhões aos cofres da empreiteira.
O acordo, contudo, foi uma exceção. E se dermos um passo atrás e olharmos o quadro como um todo, notaremos que, paradoxalmente, a situação dos 111 só se configurou como trabalho análogo ao de escravo porque eles não estavam trabalhando. Por isso, não recebiam e, consequentemente, não tinham o que comer. Estavam desesperados, estavam, de fato, morrendo de fome. Por isso por não terem outra opção, foram buscar ajuda.
Do contrário, se estivessem dobrando ferro, carregando cimento ou batendo pregos dez horas por dia e recebendo seus salários de R$ 1.400,00, aos olhos da sociedade estaria tudo nos conformes. Mesmo que eles tivessem sido clandestinamente trazidos do Nordeste e continuassem empilhados em casas inóspitas, lotadas e imundas. Por lei, essas condições os enquadrariam na condição de trabalhadores escravos, mesmo que estivessem sendo pagos. Mas isso pouco importaria se o dinheiro “pingasse” na conta todo mês. Eles trabalhariam, dormiriam, comeriam, tomariam cachaça nos bares da vizinhança e mandariam algum dinheiro para a família. Quando a obra terminasse, uma parte voltaria para as suas cidades ou iria direto para outro empreendimento em qualquer canto do país. A outra daria um jeito de alugar um barraco, compraria um terreno de invasão e continuaria por ali, à espera da próxima obra.
Isso, de fato, aconteceu com a maior parte dos trabalhadores do Terminal 3, como evidenciam números compilados pelo Ministério do Trabalho, após a denúncia do sindicato. Os auditores do órgão examinaram a condição de todos os trabalhadores que exerciam as mesmas funções dos 111 de Petrolândia: armadores, pedreiros e carpinteiros. Eram, ao todo, 4.652 pessoas. Dessas, 2.534 (o equivalente a 54%) declararam morar fora da região metropolitana de São Paulo. Tratava-se, portanto, de trabalhadores migrantes. Mas nenhum deles ficou alojado em instalações da OAS, como determina a lei.
Ainda segundo o auditor do Ministério do Trabalho, mais do que um caso isolado, esse é o modus operandi de todo o setor da construção civil, o qual ajuda a moldar a cara das grandes cidades e, em última instância, do país. Por conta dele, é raro encontrar alguma grande obra que não tenha terminado cercada por uma favela. “As empresas só reconhecem que têm de fazer alojamento se estiverem em algum local muito ermo, se forem fazer uma hidrelétrica no meio da Amazônia. Aí precisam fazer um alojamento, porque não vai favelizar a selva. Mas quando está na cidade, vira favela”, disse.
A Vila das Malvinas
Homens de terno digitam em seus celulares espertíssimos enquanto caminham apressados sem levantar os olhos da tela, como se fossem uma nova espécie humana, dotada de um misterioso radar biológico. Portas abrem e fecham automaticamente para que eles passem e sigam adiante. Vozes aveludadas despejam números pelos autofalantes onipresentes. Aeromoças de saias justas, saltos altos e cabelos moldados em estáticos coques de baquelite avançam num andar de ritmo próprio: acelerado, elegante, perfeitamente sincronizado com os mecanismos de rolagem das rodinhas que sustentam suas pequenas maletas pretas. Tudo se move no saguão do Aeroporto de Guarulhos – e também além dele, na pista.
Após planarem elegantemente por milhares de milhas, sobre oceanos e planícies, máquinas voadoras de 200 toneladas se chocam contra o solo a 300 Km por hora, depois trafegam preguiçosamente, feito mamutes pós-modernos. Quando finalmente param, são imediatamente conectadas não só a outras máquinas – caminhões de reabastecimento, esteiras para descarregamento de bagagens, guindastes para retirada do lixo e do esgoto –, mas também a todo o complexo do aeroporto, por meio de pontes pênseis metálicas pelas quais todo ano, apenas em Guarulhos, desembarcam 36 milhões de passageiros, quase todos já de olho em seus celulares, sempre com pressa de chegar a algum lugar (AVIAÇÃO BRASIL, 2017).
Estes são seres humanos que voam, e humanos que voam parecem mais importantes do que aqueles que se deixam ficar com os pés monotonamente plantados na terra. Sempre foi assim. Antes, pelo desafio, pelo perigo, pelo mistério de desafiar a gravidade; agora não há mais perigo ou mistério, mas sentido e urgência. Os homens que voam estão sempre vindo de um lugar e indo para outro, e costumam ter clareza, portanto, quanto à necessidade de seguir um caminho, uma necessidade urgente, que os faz parecer importantes.
A cerca de 500 metros do moderno Terminal 3, na viela estreita de terra esburacada que recebe o nome de rua Nossa Senhora Aparecida, ninguém parece ter pressa. Essa parte do bairro Vila das Malvinas é um grande aterro sobre um charco pontuado de pequenas lagoas onde, nos idos de 1980, o povo costumava pescar para comer. A outra porção do bairro, ao norte, antigamente era mais elevada, mas boa parte da terra que ficava ali foi retirada e usada para aterrar o pântano sobre o qual se assentou o maior aeroporto da América Latina.
Quem caminha pelas ruelas estreitas da comunidade, contudo, não nota diferença. Há certa uniformidade nas casas, apesar de nenhuma ser igual à outra. Todas coladas num grande muro incidental, elas são iguais no improviso, na falta de revestimento nas paredes, na criatividade que transforma pedaços de geladeira, placas de rua, restos de automóveis em paredes, portões, telhados.
Parecem estar em mutação constante, sempre em construção, algo que soa natural numa comunidade repleta de pedreiros, carpinteiros e mestres de obra. De uma semana para a outra, surge um segundo andar para acomodar a filha que casou, um puxadinho para abrigar uma venda, um cercado nos fundos para guardar os cavalos – sim, há cavalos por ali, cinco ou seis, e um grupo de amigos que costuma sair nas noites de lua cheia para cavalgadas regadas a cerveja e cachaça que vão até o dia seguinte.
O aeroporto está sempre presente na Vila das Malvinas. Curiosamente, por conta da orientação das rotas aéreas, não há barulho de aeronaves por ali. Mas todo mundo que vive no bairro trabalha, trabalhou ou tem algum parente que trabalha na limpeza, na segurança, na manutenção dos terminais. A modernidade da aviação, entretanto, ainda que sempre à espreita, não contaminou a comunidade. Nem a pressa.
No meio da tarde de uma quarta-feira, as pessoas caminham devagar ou apenas se deixam ficar em algum canto, sentadas, jogando conversa fora e bebendo. O álcool marca presença na comunidade, cerveja ou cachaça. A cada cem ou duzentos metros há uma venda, às vezes uma mesa de sinuca, cadeiras encardidas e homens bebendo, à espera do próximo trabalho. Muitos são idosos, aposentados, mas há também homens jovens, desempregados, muitos deles trabalhadores da construção que viram as obras do entorno minguarem após o advento da operação Lava Jato.
“Depois desses roubos que teve aí, tá tudo parado”, me disse o ajudante de obras Adriano Viana, de 40 anos. “Daqueles tempos pra cá cancelaram tudo, não tem obra nenhuma”. Antes empregado da OAS, ele está há um ano e meio sem emprego e vive da ajuda da mãe, aposentada, numa casa de um cômodo que construiu em 2013.
Na época, após sete anos de carteira assinada, sem imaginar que não voltaria a conseguir trabalho, o ajudante de obra pediu para ser mandando embora para, com o dinheiro da rescisão, comprar a casa própria. Usou R$ 6 mil na terra, mais R$ 4 mil para construir. Adriano é da cidade de Sousa, na Paraíba, e desde que chegou a Guarulhos, mais de 20 anos atrás, fez de tudo no aeroporto: limpou banheiro, reparou fiação e até encerou e lustrou a fuselagem de aviões. Só voar é que nunca voou. “Tenho um medo da porra de altura”, confessou com um sorriso envergonhado.
“Peão de obra é isso”, disse o pedreiro aposentado Dogival Pedro dos Santos, de 59 anos. “Quando tá com um tempozinho de trabalho, você quer o dinheiro. Aí você pede pro encarregado: ‘me manda embora que eu tô precisando de um dinheiro’. Aí você recebe um dinheiro, passa um mês, dois, em casa, comendo e bebendo o dinheiro que recebeu. Depois, volta pra trabalhar. Se conseguir, né? Porque agora tá mais difícil”.
Dogival saiu de Santana do Ipanema, nas Alagoas, aos 19 anos. “Deu vontade de conhecer o mundo, ser trecheiro”, explicou. Nessas andanças, trabalhou em uma porção de obras até que, em meados da década de 1980, foi contratado para ajudar a erguer o aeroporto. Foi também um dos primeiros a morar na Vila das Malvinas, à época só uma porção de terra que alguém, de olho na expansão dos bairrismos locais – impulsionada pela construção da rodovia Ayrton Senna (então Trabalhadores) e do novo aeroporto – resolveu tomar posse e vender. “Os caras cercavam e ou você pagava ou você não tinha nada”, explicou.
Em 2005, Dogival sofreu um acidente que forçaria sua aposentadoria. Ele tirou a jaqueta de couro, arregaçou a manga da camisa xadrez e mostrou uma canaleta funda que subia pelo braço esquerdo. Depois arregaçou um pouco mais a manga para deixar à mostra o músculo do bíceps que, apesar de firme e definido, tinha só metade do tamanho normal, como se alguém tivesse arrancado uma parte fora. “Foi em Itatiba, numa obra pra Sabesp”, explicou. “A gente tava desmanchando um andaime, seis metros de altura, e uma tábua correu. Ia cair bem na cabeça do cara e era dessas tábuas pesadas, ia torar ele no meio. Eu segurei e segurei, amarrado com uma corda aqui na cintura, que não tinha nem cinto de segurança, e ouvi meu braço estralando, e na mesma hora já começou a ficar vermelho. Rompeu, estralou o nervo, os tendão, os músculo tudo… E foi isso… Para não deixar matar o cara, eu segurei… Aí alguém gritou, ele saiu correndo rápido, e eu soltei a tábua”, contou. “Depois fui direto pro hospital. Hoje só durmo cheio de remédio para dor”.
Sem alternativa, Dogival deixou de trabalhar na construção civil e hoje vive do que lhe rende a vendinha na garagem da casa que comprou há 28 anos. O pedreiro aposentado não chegou a tomar conhecimento, mas, em 2013, ali ao lado, no número 70 da rua Nossa Senhora Aparecida, um grupo de migrantes de Petrolândia havia passado semanas de desassossego à espera de um emprego inexistente, prometido por uma das maiores empresas do país – a empreiteira OAS.
2. Os construtores
A OAS foi criada na década de 1970, na Bahia, e um de seus sócios, César de Araújo Matta Pires, era genro do político mais poderoso do Estado, cujo nome talvez esteja tão arraigado no folclore regional quanto o acarajé ou o Pelourinho: Antonio Carlos Magalhães.
Recém-fundada, a empresa já começou a abocanhar um belo filão das obras públicas baianas o que, somado à relação de parentesco entre o construtor e o coronel, gerou uma brincadeira sobre o nome da construtora: as letras OAS, que supostamente fariam referência às iniciais dos nomes dos sócios, seriam, na verdade, uma abreviação de “Obras Arranjadas pelo Sogro”. A anedota está no livro Estranhas catedrais, vencedor do prêmio Jabuti de 2015 na categoria “Economia e Administração”.
Na obra, originalmente uma tese de doutorado defendida na Universidade Federal Fluminense, o historiador carioca Pedro Henrique Pedreira Campos investigou a relação promíscua das grandes empreiteiras com o poder público, especialmente durante o regime militar. Para isso, ele refez todo o histórico do setor, desde a época em que a indústria nacional inexistia e empresas estrangeiras monopolizavam o mercado. Como Campos mostrou no livro, isso perdurou até início do século passado, época em que as maiores obras nacionais se concentravam na expansão de ferrovias e costumavam ser tocadas por empresas terceirizadas, contratadas pelos prestadores de serviço (CAMPOS, 2014). Uma empresa britânica de energia elétrica contratava uma construtora conterrânea para fincar postes e esticar fios, por exemplo. Foi só a partir da década de 1920 que o governo passou a interferir mais intensamente no setor, criando empresas para gerir obras e assumindo o comando de empreendimentos.
Ao mesmo tempo, alguns engenheiros, que haviam atuado em empreiteiras estrangeiras, criaram as primeiras firmas nacionais. Muitos deles operavam num sistema misto: compravam uma área, levavam infraestrutura até ela, depois criavam bairros habitacionais, vendiam terrenos e lucravam duplamente. Um exemplo desse sistema foi a empresa do Barão de Ipanema, que levou infraestrutura e depois loteou e batizou o famoso bairro carioca.
Esse modelo, com o Estado à frente dos empreendimentos, se consolidou no governo de Juscelino Kubitschek e, aos poucos, os governos (União, Estado e municípios) se tornaram os únicos contratantes das obras públicas, o que criou uma condição de dependência e promiscuidade entre políticos e empresários. A partir daí, eles sempre estiveram juntos, uns moldando os outros, numa amálgama de interesses que ajudaria a formar o Brasil da Lava Jato.
Ao final do período JK, as empreiteiras haviam se tornando empresas nacionais, e o setor se consolidara como um dos mais poderosos da indústria brasileira. Veio então a ditadura militar, e a vida se tornou ainda mais doce para nossos construtores: os laços com o Estado se estreitaram. Os empreiteiros ocuparam cargos no governo e chegaram, inclusive, a ajudar na repressão a opositores do regime. O maior exemplo disso é a Operação Bandeirantes (Oban), uma mistura de delegacia com câmara de tortura, operada em parceria entre exército, polícia e sociedade civil, financiada por contribuições privadas, incluindo empreiteiras, como a Camargo Corrêa. “Apesar da heterogeneidade desse grupo de empresários, pode-se dizer que a maioria deles aderiu ao regime, assumiu a ditadura, a aplaudiu e, ao mesmo tempo, a sustentou”, escreveu Campos.
Os generais retribuíram generosamente. No governo Costa e Silva (1967 a 1969), o lema era “Construir é integrar”, e, na década seguinte, o chamado “milagre econômico” foi ancorado, sobretudo, em investimentos estatais em obras. A indústria da construção cresceu sem parar e ganhou peso expressivo no PIB, chegando a uma média de 5,7% no começo dos anos 1980. O ritmo dos canteiros era tão intenso que houve escassez na produção de cimento, aço e asfalto, gerando uma crise no setor. Enquanto o Sindicato da Indústria do Cimento dizia que a produção daria conta da demanda, empreiteiras acusavam a entidade de falsear números. A insuficiência de recursos era compreensível, afinal, apenas obras da hidrelétrica de Itaipu chegaram a consumir 10% da produção nacional de cimento.
Como mostra Estranhas catedrais, o caráter ditatorial, de imprensa amordaçada, com participação popular cerceada, foi benéfico para os empresários das grandes obras. Permitiu que, longe dos olhos da sociedade, eles tivessem mais acesso ao poder, interferindo diretamente em políticas públicas, tocando empreitadas com voracidade, sem muitas preocupações além dos lucros. “Não à toa, o governo mais elogiado pelos empreiteiros foi justamente o mais autoritário, o do general Emílio Garrastazu Médici, sendo o que mais reprimiu e torturou”, escreveu o historiador (CAMPOS, 2014).
Cabeças de cimento
Eu sou um bloco de teNa ditadura, o modo de pensar dos empreiteiros ajudava a ditar os rumos da política e a moldar a nação à sua imagem e semelhança, seguindo os desígnios de uma ideologia que tinha contornos muito bem delineados. Como não podia deixar de ser, tratava-se de uma mentalidade que mantinha os pés fincados nas faculdades de engenharia, onde a maior parte dos líderes do setor havia se formado.
No cerne desse modo de pensar estava o desenvolvimento centrado na implementação de uma ampla rede de infraestrutura, supostamente indispensável para o crescimento econômico. Os recursos para os grandes projetos deveriam vir dos cofres públicos e o orçamento do país devia ser focado em investimento. Medidas de austeridade, que hoje dominam a pauta da economia nacional, eram desprezadas, e preocupações com inflação ou estabilidade monetária soavam como problemas menores frente à estagnação e ao desemprego que, na visão desse grupo, certamente surgiriam se o ímpeto desenvolvimentista fosse refreado.
Nesse grande canteiro de obras que, aos olhos dos empreiteiros, deveria ser o país, havia uma predileção toda especial pelas estradas, talvez equiparadas apenas ao amor às barragens. As rodovias eram a melhor maneira de integrar o país e os automóveis uma forma de transporte inegavelmente superior a todas as outras. Por mais surreal que possa parecer hoje, a construção de estradas foi central até no desenvolvimento da região amazônica, vista como o deserto verde a ser colonizado, uma fonte inexplorada de recursos valiosos e necessários ao desenvolvimento do país. xto. Clique no botão Editar (Lápis) para alterar o conteúdo deste elemento.
A ideia parecia agradar a todos: as mineradoras teriam uma forma de escoar a produção; os agricultores poderiam expandir as fronteiras para o norte; os militares garantiriam a defesa e a integridade da pátria, ocupando áreas de fronteira, e as empreiteiras, claro, estariam à frente do processo, abrindo rios de asfalto e pedra brita na mata inóspita. A Transamazônica é o exemplo clássico desse modo de pensar. As obras começaram sem que um trajeto específico fosse planejado e foram dividas em lotes de 300 Km, cada um entregue a uma empresa. Sem condições de levar pessoal e equipamento, as empreiteiras tinham de abrir pistas de pouso ao lado dos canteiros. Máquinas da Caterpillar eram trazidas dos Estados Unidos em barcaças usadas no desembarque de tropas na Normandia, no dia D.
Apesar de todos os desafios, um primeiro segmento da estrada foi inaugurado em 1972, com direito a solenidade transmitida pela televisão em todo o Brasil. Um ano depois, já havia trechos intransitáveis. A estrada nunca chegaria a funcionar em toda a sua extensão e cidades de nomes como “Brasil Novo” e “Medicelândia”, acabariam tomadas pela vegetação que, ao menos nesse caso, saiu vitoriosa.
Na visão de mundo dos empreiteiros, além da contribuição à economia, suas obras também traziam importantes avanços sociais. Afinal, eles eram os responsáveis por levar habitação popular e saneamento às regiões mais carentes do país, num processo que também gerava emprego e colaborava para uma sociedade mais estável. Havia algo de civilizatório e missionário no universo das grandes obras, como evidencia uma declaração do presidente do Sindicato da Construção Pesada do Estado de Minas Gerais (Sicepot): “Sempre a primeira a enfrentar um ambiente hostil em certas áreas do nosso território, a indústria da construção pesada – antes mesmo de iniciar a obra – cria oportunidades de trabalho e introduz novos padrões de alimentação, higiene, saúde e educação, além de técnicas que beneficiam a comunidade local” (CAMPOS, 2014).
Por fim, na narrativa que criaram para si, os empresários eram frequentemente injustiçados. Seu trabalho não era reconhecido e suas atividades eram mal vistas pela imprensa e pela população em geral. “Balançamos ao sabor dos ventos políticos; mendigamos o que nos é devido, mofamos nas antessalas de espera; não pagamos só quando não recebemos; e, às vezes, realizamos o milagre de pagar sem receber. O pior de tudo é que jamais vimos um de nós concordatário, ressurgir rico”, afirmou o presidente da Associação Paulista de Empreiteiros de Obras Públicas (Apeop) (CAMPOS, 2014). A última parte da afirmação, claro, não tem qualquer respaldo na realidade. Ao final da ditadura, as empreiteiras brasileiras haviam passado de empresas nacionais a líderes de conglomerados econômicos, com atuação em vários países do mundo.
O rei está morto, viva o rei!
Durante a posse de um governador paulista, em algum salão do Palácio dos Bandeirantes, um administrador público teria se aproximado de Sebastião Camargo, dono da Camargo Corrêa. “Olá Senhor Sebastião, o senhor também por aqui?”, teria dito o sujeito, cujo nome e cargo se perderam na história. Ao que o empresário haveria retrucado: “Eu… eu estou sempre aqui… os senhores é que mudam”.
A anedota pode até não ser real, mas certamente reflete a realidade. Entre o final da década de 1970 e meados de 1980, a democracia foi lentamente se insinuando na política brasileira. Quando ela finalmente chegou lá, tímida e vacilante, os velhos empreiteiros de sempre já estavam à espera, nublando o futuro do país com a fumaça de seus charutos, os pés confortavelmente cruzados sobre a mesa de centro dos rumos da nação. Esse espaço para a continuidade no poder havia sido conquistado durante a metade final da ditadura, com uma atuação cada vez mais próxima junto a parlamentares. Os laços de amizade e os favorecimentos, antes focados no executivo e nos políticos da Arena (partido da situação durante a ditadura), se estenderam ao PMDB (sim, eles também já estavam lá), depois PTB e PDT. Políticos passaram a ser convidados a dar palestras e engenheiros passaram a ter cargos de destaque no governo. Logo surgiria uma “bancada da infraestrutura”, composta por parlamentares que focavam suas atividades na fiscalização de obras e tinham as campanhas financiadas por empreiteiras.
A promiscuidade com a política ao longo dos anos de chumbo fez com que o poder se concentrasse: um número reduzido de padrinhos poderosos acolhia um número reduzido de empresas. E quando o país caminhava para a democratização, o setor era dominado por quatro gigantes: Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez, Norberto Odebrecht e Mendes Júnior. Ao final da ditadura, elas tinham quase o mesmo patrimônio das quatro maiores montadoras de veículos do Brasil – Volks, GM, Ford e Fiat. “Essas quatro macroempresas se postulavam, com seu porte, a desenvolver atividades internacionais e deter amplo protagonismo no processo de transição política, além de realizar, mais intensamente que outras, um processo de ramificação de suas atividades”, escreve Pedreira Campos (2014). A Camargo Correa, por exemplo, era dona de marcas de calçados (Havaianas), alimentos (Supergel), roupas (Santista Têxtil) entre várias outras.
Reinando praticamente absolutas, as quatro megacorporações souberam realizar a transição para o regime democrático sem sobressaltos, e mantiveram intacto o poder que tinham junto ao Estado. A diferença básica é que essa atuação se tornou muito mais descentralizada e complexa. Se, no tempo dos generais, bastava ter proximidade com alguns cargos-chave do poder executivo, na cacofonia da democracia, a influência teve de se fragmentar.
Numa tarde de abril, conversei com o autor de Estranhas catedrais. Falando por telefone, do Rio de Janeiro, ele explicou que, apesar de ter se dedicado ao período ditatorial, a ideia do livro surgira de “inquietações referentes à atuação das empreiteiras no governo Lula”. Ou seja, ele pesquisou e refletiu bastante sobre as diversas fases do sistema, e sobre como chegamos ao momento atual. “A impressão que tenho é de que, pelo menos até a Lava Jato, essas empresas usavam mecanismo e estratégias de atuar nos nichos de poder: parlamento, imprensa, partidos políticos etc. Assim, conseguiram manter a influência, a proeminência e a projeção de que dispunham sobre Petrobras, estatais, agências de controle” (CAMPOS, 2017).
Nesse processo, meteram-se em campanhas políticas, fizeram lobby por emendas parlamentares e reformas de leis, e gritaram na imprensa sobre a necessidade de obras. Num período em que diversas ideologias políticas se sucederam no poder, apegaram-se ao fisiologismo, grudaram nos governantes e continuaram a submeter a política nacional às suas necessidades econômicas. “Saúde, educação, salário de professor de médico… Tudo isso se torna secundário diante de obras inadiáveis que devem ser feitas o quanto antes. Eles [os empreiteiros] definem prioridades da agenda pública, eles definem prioridades de empreendimentos e de políticas estatais. Essa é a forma como esses empresários se colocam, criando consenso de que há interesses gerais e demandas públicas em torno de projetos dos quais eles sãos os principais beneficiários”, afirmou o autor (CAMPOS, 2017).
Essa capacidade de ditar os rumos do país não parece ter arrefecido nem mesmo quando um governo que se dizia de esquerda chegou ao poder. Um bom exemplo disso foi o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), lançado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2007. O plano soava como o remédio necessário para a tão esperada realização do sonho de um Brasil grande, mas parecia com algo do passado, ecoando os 50 anos em 5 de JK (SILVA, s./d.), propondo investimentos pesados em infraestrutura, grandes obras para gerar emprego ou, em outras palavras, a ideologia dos empreiteiros repaginada e vendida como uma solução para a esquerda.
A arquiteta e pesquisadora da Faculdade de Arquitetura da USP Karina Oliveira Leitão se debruçou sobre esse assunto em sua tese de doutorado, na qual estudou os impactos do PAC em seu estado natal, o Pará (LEITÃO, 2009). No trabalho, ela mostrou que o desenvolvimento proposto pelo programa, ao obedecer a interesses capitalistas nacionais e internacionais, relevou as diferentes necessidades regionais, homogeneizou o desenvolvimento e criou uma série de problemas em um país de dimensões continentais, com necessidades diversas e específicas. “O plano de investimento do PAC para o estado não só sintetiza a maneira como o território paraense é visto no programa, bem como revela serem as empresas transnacionais, aliadas ao capital nacional, os verdadeiros beneficiários dos investimentos públicos do governo e do setor de infraestrutura na região”, escreve Karina (Ibid., p. 267). “Cabe questionar se é pertinente assumir essa relevante opção política, adotada à revelia de qualquer tipo de debate nacional, em nome de um crescimento econômico que não necessariamente incorpora os excluídos do sistema e de uma estratégia de desenvolvimento territorial que, em última instância, favorece ganhos privados, socializa custos socioespaciais e impactos ambientais” (Ibid., p. 268).
Uma das obras que recebeu críticas de Karina Leitão foi a Ferrovia Norte Sul, que terá quase 5 mil Km de extensão e ligará o Paraná ao Pará. Para a pesquisadora, a obra atende a interesses de empresas exportadoras de grãos e de mineradoras, e evidencia como o Pará é visto pelos que planejam o desenvolvimento do país: um espaço para expansão de fronteiras, uma fonte de recursos aparentemente inesgotáveis a serem explorados pelos agentes do capital. Para Leitão, a ferrovia – e as obras de seu entorno – reproduz modelos de ação predatória, cria ilhas de desenvolvimento, com melhorias que não se espalham pela região e, ao mesmo tempo, trazem impactos negativos ao ambiente.
A ferrovia Norte-Sul é um excelente exemplo da atuação das empreiteiras no país. Não apenas pelas críticas como as que Karina Leitão desfiou em sua tese, mas também porque, três décadas atrás, essa mesma obra foi indiretamente responsável por expor, de maneira até então inédita, as entranhas de um dos maiores problemas para o funcionamento da democracia: a forma como as licitações ocorrem no país.
Três décadas de conchavos
Pouco mais de 30 anos atrás, o telefone do então repórter da Folha de S.Paulo Janio de Freitas tocou mais cedo do que de costume. Era ninguém menos do que o ex-ministro da economia, outrora responsável pelo famigerado Milagre Econômico: “Janio, é Delfim Netto. Você não imagina a tempestade que está aqui em Brasília”. Freitas não entendeu de pronto, e Delfim foi adiante. “É uma chuva de telefonemas com a tua reportagem na Folha”.
O economista se referia à matéria vencedora do Prêmio Esso, que até os dias de hoje é assunto obrigatório nos cursos de comunicação, exemplo duradouro de bom jornalismo. No dia 13 de maio de 2017, por ocasião do aniversário da publicação, Freitas escreveu sobre os bastidores da história e contou o que lhe chamara atenção para o caso: a obra da ferrovia norte-sul era gigantesca, tinha um custo inicial de R$ 2 bilhões, mas ninguém falava no assunto e nem o governo alardeava a façanha, como se quisesse que a coisa acontecesse sem o conhecimento da população em geral (FREITAS, 2017). Com a pulga atrás da orelha, o repórter passou a escarafunchar os meandros da obra e, por meio de um informante, conseguiu ter acesso às empresas vencedoras das licitações de 18 trechos antes que os concursos para decidir quem levaria as obras ocorressem.
Era um furo de reportagem, mas havia um problema. Se publicasse o material que tinha, corruptos e corruptores poderiam simplesmente cancelar o trato. A solução, encontrada por Freitas, mais do que o escândalo em si, fez o caso entrar para os anais do jornalismo: ele publicou um anúncio cifrado nos classificados do próprio jornal, no qual adiantou os vencedores da licitação. O texto revelando a mutreta, como lembrou Freitas, era “seco, direto, sem adjetivo ou qualquer consideração”. Feito para enfrentar o crivo de provável processo: “Foi fraudulenta e determinada por corrupção a concorrência pública, cujos resultados o governo divulgou ontem à noite, para a construção da ferrovia Maranhão-Brasília (ou Norte-Sul): a Folha publicou os 18 vencedores, disfarçadamente, há cinco dias, antes mesmo de serem abertos pela estatal Valec e pelo Ministério dos Transportes, os envelopes com as propostas concorrentes” (FREITAS, 1987).
Freitas de fato acabou sendo alvo de inquéritos que não levaram a nada. Os concursos fraudulentos foram cancelados, e a obra continuou como se nada de anormal houvesse acontecido. E talvez, no fim, fosse isso mesmo. Talvez nada de anormal houvesse acontecido, a não ser a intromissão de um repórter impertinente – afinal, desvios, mutretas, favorecimentos e enriquecimentos ilícitos parecem ser indissociáveis das grandes obras nacionais. “É incalculável a riqueza que, nessas três décadas, a educação, a saúde, a moradia, a segurança perderam para a corrupção movida por empreiteiras e similares”, refletiu Janio de Freitas no artigo em que relembrou a reportagem. “Mas é verdade o que Emilio Odebrecht há pouco disse por escrito: ‘Tudo isso acontecia nas barbas das elites, políticos, empresários, imprensa, entidades representativas’” (FREITAS, 2017). Desde que foi iniciada até os dias de hoje, a ferrovia Norte-Sul já consumiu R$ 28 bilhões de reais e teve menos da metade do trajeto finalizado (Ibid.).
Os escolhidos
Ninguém tem dúvida de que grandes obras sejam necessárias, ainda mais num país em desenvolvimento, onde 40% da população ainda não tem acesso a itens primordiais, como saneamento básico (AMORA, 2016). Diante disso, como o governo é incapaz de efetuar todos os tipos de serviços e de produzir tudo o que se necessita para os mais diversos empreendimentos, faz sentindo que ele compre esses bens e contrate pessoas que saibam construir pontes, erguer postes, instalar redes de esgoto. Para isso, quantias assombrosas de dinheiro público, proveniente do imposto pago por todos os cidadãos do país, têm de ser movidas dos cofres da nação para bolsos particulares. Para que esse delicado fluxo de dinheiro da esfera pública para a privada ocorra sem grandes aberrações, há uma série de mecanismos que regulamentam as compras governamentais, com destaque para as licitações.
Apesar de sua importância, elas só ganharam uma legislação específica em 1986, e apenas dez anos depois, com promulgação da lei 8.666 (BRASIL, Lei nº 8.666, 1993), as coisas assumiram mais ou menos o contorno que têm hoje (MARQUES, 2003). De forma genérica, a lei tem o objetivo de garantir que nenhuma empresa será favorecida em detrimento de outra e, consequentemente, que o serviço em questão será feito da maneira mais barata, com melhor qualidade, no menor tempo. De garantir, em suma, que o dinheiro do contribuinte será gasto da melhor forma possível. Para isso, as empresas participantes das licitações devem cumprir uma série de exigências que, no entanto, ao menos no setor da construção civil, vêm se tornando cada vez mais brandas.
Teve Copa
As obras da Copa do Mundo e das Olimpíadas contribuíram um bocado para que os mecanismos de licitação fossem afrouxados no país. Eram obras demais, grandes demais e havia pressa. Não existia margem para atrasos, Obama tinha dado uns tapinhas nas costas de Lula: “Esse é o cara”, tinha dito. Agora, o país que elegera “o cara” como presidente não podia fazer feio em rede planetária de televisão. Era preciso simplificar, flexibilizar, deixar tudo menos engessado. Então, criou-se o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), que abrandava os requisitos para as licitações nas obras da Copa, Olimpíadas, e Paraolimpíadas (NEITSCH, 2013). Mas diante de tantas obras com urgência, alguém deve ter se perguntado: não seria possível facilitar também em outras áreas? Que mal isso traria? Assim, a coisa foi se tornando mais ampla, e o RDC logo passou a ser permitido em obras do PAC, do Sistema Único de Saúde, de presídios e outras mais (BRASIL, Lei 12.462, 2011).
Por esse sistema, o governo pode lançar mão da “contratação integrada”, o que lhe permite licitar obras que possuam apenas um anteprojeto. É mais ou menos o que aconteceu com a Transamazônica, com a diferença de que agora resolveram colocar a falta de planejamento no papel.
Em entrevista por e-mail, o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU-BR), Haroldo Pinheiro afirmou que o RDC é uma “explícita e absurda permissão legal” (PINHEIRO, 2017). Segundo ele, o anteprojeto é uma “peça técnica insuficiente para definir o empreendimento, pois só o projeto completo reuniria os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou o serviço” (Ibid.).
Segundo Pinheiro, com o RDC o poder público deixa o empreiteiro com “a faca e o queijo na mão, pois, orientado apenas pelo lucro, ele define orçamento, a qualidade dos materiais e os prazos de execução” (Ibid.).
A despeito das críticas, contudo, os mecanismos trazidos pelo RDC tendem a se tornar ainda mais frequentes, caso seja aprovado o projeto de lei 6.814, que altera a lei de licitações (BRASIL, Lei nº 8.666/1993). Se aprovado, o PL permitirá, por exemplo, que a contratação diferenciada seja utilizada em qualquer obra acima de R$ 20 milhões – o que, em se tratando de obras públicas, não é muito dinheiro (BRASIL, Projeto de lei nº 6.814, 2017). Atualmente o texto agora está na Câmara dos Deputados e pode virar lei a qualquer momento. Claro que sua aprovação ou rejeição perde um tanto de importância se nada se alterar no universo de desvios e ilicitudes que, nos últimos três anos, tem sido revelado pela operação Lava Jato.
O Clube
José Aldemario Pinheiro Filho, mais conhecido como Leo Pinheiro, é um homem parcialmente calvo, de barba grisalha e, no vídeo em questão, vestia camisa azul-claro, colete de lã cinza, e paletó preto. No momento em que o juiz federal Sergio Moro, da força tarefa da Lava Jato em Curitiba, começou o interrogatório sobre supostos presentes dados pela OAS ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a boca de Leo Pinheiro faz um arco para baixo, qual um emoticom triste em uma mensagem instantânea.
Quando chegou a hora de responder, o executivo mostrou certa humildade, postura diversa da que se esperaria de homens poderosos como ele que, de 1997 a 2014, foi presidente da empreiteira OAS e de duas holdings do grupo. Durante as quase três horas que durou o depoimento, não foram poucas as ocasiões em que ele pareceu querer oferecer respostas que de fato não possuía.
Leo Pinheiro cumpriu três dos 26 anos de prisão a que foi condenado, em segunda instância, por ter atuado de maneira ilícita em uma série de contratos da empreiteira que comandava com a Petrobrás. Desde que foi preso, o empresário vem negociando uma delação premiada – mecanismo pelo qual condenados têm a pena reduzida ou extinta por colaborar com a Justiça –, mas o processo sofreu diversos avanços e retrocessos ao longo do tempo e, no momento do depoimento, não havia nada acertado em definitivo. O empresário, portanto, estaria ali apenas por sua vontade de esclarecer as coisas, de passar a panos limpos a história recente da empresa, que se agigantou sob sua gestão. Estava ali, em suma, para fazer o bem.
O vídeo, a exemplo dos demais depoimentos da Lava Jato, é enfadonho e avança a conta-gotas, o tempo inteiro interrompido por questões burocráticas. A maioria das perguntas feitas pelo Juiz Sergio Moro tinha a ver com um apartamento triplex no Guarujá que a OAS supostamente teria dado a Lula, mas a importância do imóvel parecia se apequenar quando o empreiteiro falava do nosso assunto em questão: licitações.
A história que Pinheiro contou a Moro remontava aos meados da década passada, entre 2003 e 2006. À época, ele estava inquieto e procurava políticos de sua confiança que o ajudassem a transpor um muro invisível, erguido diante da estrada rumo a um futuro faraônico que a OAS imaginara para si, pois, apesar do tamanho, da experiência, do histórico de atuação em grandes obras, e da proximidade com o poder político nacional desde o berço, a empresa não conseguia amealhar grandes contratos com a Petrobras.
O executivo sabia muito bem por que isso acontecia, pois dificilmente teria chegado à posição de destaque se ignorasse as regras do jogo em que se dispunha a competir na liga dos profissionais. E o motivo era simples: a OAS não fazia parte do “clube”.
A existência desse “clube” tornou-se fato conhecido dos brasileiros em novembro de 2014, quando o presidente da empreiteira Toyo Setal, Augusto Ribeiro de Mendonça Neto, selou sua delação premiada com o Ministério Público Federal. Nela, Mendonça Neto narrou o esquema pelo qual um grupo de 16 empreiteiras dividia entre si as obras mais suculentas da Petrobras.
A coisa era bastante organizada, segundo depoimentos diversos colhidos pela operação Lava Jato. Havia reuniões periódicas, nas quais as obras e as empreiteiras participantes eram discriminadas numa planilha. A partir daí, o butim era amigavelmente dividido, levando-se em conta a familiaridade de cada empresa com a área, as peculiaridades de cada empreendimento, se ela operava na região, se seus executivos tinham afinidade com os responsáveis pela obra na estatal e outras especificidades sazonais. Com tudo acertado, as empresas se inscreviam nas licitações, mas suas propostas eram elaboradas de tal forma que, no final, os contratos acabavam distribuídos de acordo com o esquema combinado. Os certames para as principais obras da maior estatal do país, portanto, não passavam de uma fachada para os brasileiros lerem nos jornais ou assistirem na TV Globo enquanto esperavam a novela começar. “Essas investigações se inserem dentro de um imenso esquema de corrupção”, afirmou o procurador da Lava Jato Deltan Dallagnol (AFFONSO; BRANDT; MACEDO, 2014) sobre o clube. “Dentro dele, empreiteiras se organizaram em cartel e em um clube para corromper funcionários públicos de alto escalão da Petrobras. Eram pagos valores que correspondiam de 1% a 5% do valor total de contratos bilionários”.
Quem comandava esse esquema, que teve de nove a mais de vinte empresas ao longo do tempo, era Ricardo Pessoa, presidente da construtora UTC. Entre outras atribuições, ele era o responsável por efetuar pagamentos de propina a Renato Duque, apadrinhado do ex-líder petista José Dirceu e diretor de serviços da Petrobras (FAVERO, 2014). A disposição em pagar propina, contudo, não garantia participação no conluio e a OAS, ao menos até 2006, ficava de fora das negociatas. Leo Pinheiro, então, resolveu cobrar sua parte no festim dos contratos públicos. “Pessoalmente, procurei o governo para demonstrar nossa insatisfação, pelo porte que nós já tínhamos na época, de não poder estarmos participando da licitação desses contratos”, disse o empreiteiro. “Tivemos de ter uma atitude muito dura com o mercado. Ou nós vamos participar disso, ou vamos dar um preço muito menor, e isso vai acabar”, contou.
Diante das ameaças, “o clube” abriu espaço para a OAS, e, em pouco tempo, os contratos com a petroleira passaram a representar de 20% a 25% dos ganhos da empreiteira (ÍNTEGRA, 017).
O esquema
Os 442 contratos da Petrobras com as empreiteiras do “clube” somam R$ 76,4 bilhões, segundo cálculos do site Contas Abertas, e há estimativas de que cerca de R$ 10 bilhões tenham sido desviados dos cofres públicos para o bolso de políticos e contas não declaradas de campanhas eleitorais (INFOGRÁFICO ESTADÃO, s./d.). É bem possível, contudo, que esse número venha a crescer diante de novas revelações. A entrada de novos atores, como a gigante de proteína animal J&F, também deve mostrar que as empreiteiras eram apenas uma parte de um esquema muito maior e pulverizado pelos mais diversos setores do capitalismo nacional.
Ainda é cedo, historicamente, para entender a amplitude do mar de propinas que inundava o meio político-empresarial do país. Mas, na avalanche de informações que a operação Lava Jato produziu em mais de três anos de existência, existe um documento que detalha saborosamente a relação entre empreiteiros e políticos. Trata-se da delação de Claudio Melo Filho, ex-diretor de relações institucionais da Odebrecht. O texto, de 82 páginas, já começa bem, com o autor descrevendo suas funções na empresa: “Resumindo, minha atuação, por ser da área de relações institucionais, é no sentido de manter perene e diretamente, com apoio das entidades de classe que representam os setores afetos às empresas do grupo, relações institucionais com parlamentares, que preferencialmente exercem forte liderança em seu partido e em seus pares”, escreveu, com algum prejuízo à norma culta. “Minha empresa tem interesse na permanência desses parlamentares no Congresso e na preservação da relação, uma vez que, historicamente, eles apoiam projetos de nosso interesse, e possuem capacidade de influenciar os demais agentes políticos. O propósito da empresa, assim, era manter uma relação frequente de concessões financeiras e pedidos de apoio com esses políticos, em uma típica situação de privatização indevida dos agentes políticos em favor de interesses empresariais, nem sempre republicanos.”
Após esse detalhamento, Melo Filho elenca dezenas de políticos com os quais manteve contado frequente, dando destaque para o que chamou de “núcleo dominante do PMDB”: Romero Jucá (atual líder do governo no Senado), Eunício de Oliveira (presidente do Senado) e Renan Calheiros (líder do partido no Senado). Ainda segundo a delação – que, não custa lembrar, ainda precisa de provas materiais – alguns desses agentes políticos pediam “patrocínio financeiro”, vantagens indevidas que foram prontamente entregues, mas, em contrapartida, tinham suas ações acompanhadas com lupa pela empresa.
O melhor exemplo da relação entre empresário/lobista e políticos/padrinhos está no trecho dedicado ao senador Romero Jucá, codinome Caju, que Melo Filho apontou como seu principal interlocutor no Congresso. “O relevo de sua figura”, escreveu o ex-executivo, “pode ser medido por dois fatos objetivos: (i) a intensidade de sua devoção aos pleitos que eram de nosso interesse e (ii) o elevado valor dos pagamentos financeiros que foram feitos ao Senador ao longo dos anos”. O “elevado valor”, no caso, foi especificado mais adiante pelo delator: R$ 22 milhões. E também as contrapartidas oferecidas por Jucá. Ele fez a balança pender para o lado da empresa em matérias que vão da tributação da Nafta ao parcelamento de débitos tributários, passando pela contribuição previdenciária sobre salários dos trabalhadores. “No extenso período de sua posição de líder no governo, os temas afetos à Odebrecht foram tratados por ele nas diversas discussões técnicas com a empresa e, sobretudo, na defesa de nossos pleitos perante o Poder Executivo. O senador sempre esteve à frente de todas as decisões importantes do Congresso, em especial em temas de referência tributária, em que ele tem grande domínio técnico”.
A delação de Melo Filho é uma entre várias, e se destaca por esmiuçar, de forma bastante meticulosa, o sistema elaborado e sedimentado de compra de interesses que, ao longo dos anos, foi desenvolvido por sua empresa. Mas a Odebrecht não foi a única a institucionalizar e normatizar a propina. No início de maio, foi a vez de o ex-diretor-presidente da área internacional da OAS Agenor Medeiro falar a Sérgio Moro. No depoimento (DANTAS; DANTAS; SCHMITT, 2017), sem causar grande surpresa, ele informou que sua empresa também mantinha um departamento que operacionalizava “vantagens indevidas” – era chamado de “controladoria”, e os valores que passavam por lá não eram nada modestos: apenas em uma obra da Petrobras, a Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, teriam sido desviados R$ 16 milhões. “Existe uma área na empresa que é justamente a área que trabalha nessa parte de vantagens indevidas, uma área que chamamos de controladoria, em que são feitas doações a partidos até de forma oficial. Essa área cuidava de pagamentos de fornecedores de campanha, gráficas e outras coisas mais”, disse o delator.
Purificação
A OAS ocupa hoje quatro andares de um edifício novo em folha, na avenida Marquês de São Vicente, no bairro da Barra Funda, em São Paulo. O prédio, um caixote bege de concreto e vidro, imponente e comum, é a tradução material dos impactos da Lava Jato sobre a empresa.
Em recuperação judicial desde 2015, ela teve seu corpo de funcionários e colaboradores reduzido de cerca de 100 mil, antes da operação, para aproximadamente 30 mil atualmente. Em janeiro de 2016, as instalações passaram de sete andares no bairro de Higienópolis, um dos mais nobres da capital paulista, a quatro na Barra Funda, uma região mais modesta da cidade. Nas dependências da empresa impera uma aura de funcionalidade impessoal. A sala de reuniões onde fui recebido pelo compliance officer Andre Tourinho, por exemplo, tinha uma mesa escura imponente cercada por confortáveis cadeiras de couro preto, e mais nada. Ficava no 20o andar, e dava vista para uma série de galpões industriais que avançavam pela região da marginal Tietê, escalando rumo à Serra da Cantareira. Naquela manhã cinzenta de maio, eles se perdiam em meio à nevoa seca da poluição, trazendo à paisagem elementos de uma distopia futurista, uma metáfora bastante adequada ao futuro da empreiteira: cimento, aço e nevoa seca de incerteza. “Quero ser bem sincero, como eu sempre fui aqui”, disse André Tourinho (2017), assim que se sentou ao meu lado, numa das confortáveis cadeiras de couro. “E é de interesse da empresa ser sincera, ser aberta para que todo mundo entenda o que aconteceu. A intenção da empresa é virar a página e seguir em frente”.
O executivo vestia terno preto sem gravata, usava óculos de armação leve, e, apesar da barba curta, tinha algo de um menino que brinca no escritório do pai. A impressão talvez se devesse à compleição franzina e à baixa estatura. E soava como o oposto do que ele dizia, e do que se poderia esperar de alguém em sua função, nada corriqueira. Em termos simplificados, Tourinho tem a missão de fazer com que a empresa siga as regras e aja de maneira ética.
Quando perguntei sobre a liberdade que de fato possuía dentro da empresa, ele começou a responder pelas beiradas: “A gente sabe que ocorreu alguma coisa que não estava correta no passado. A gente quer entender aquilo que aconteceu para que não aconteça nunca mais. Por isso, hoje a área de compliance é fortíssima. A alta administração deposita, em mim e na minha equipe, uma confiança muito grande, porque a gente quer realmente conseguir virar a página e seguir em frente”.
O setor que Tourinho comanda há um ano e meio tem oito funcionários, que se dedicam em regime exclusivo, e outros que se juntam a eles esporadicamente. Segundo o executivo, é completamente autônomo, subordinado a um comitê de compliance que não é subordinado a mais ninguém. Surgiu em 2013, por conta da lei anticorrupção, mas ganhou musculatura com o advento da Lava Jato. Ainda que não tenha propriamente crescido, não foi reduzido como quase todas as áreas da companhia, o que, na prática, representa um aumento de importância.
Atualmente, o trabalho do setor de compliance da OAS tem basicamente duas frentes. A primeira é receber e investigar denúncias contra a empresa. Desde 2014 até a manhã de maio em que conversamos, Tourinho disse ter recebido cerca de quinhentas queixas, metade delas de forma anônima. Das que tiveram seus autores conhecidos, a maioria veio dos próprios funcionários da empresa. O fenômeno é visto com bons olhos pelo setor, e há campanhas para incentivar a delação de companheiros que estejam agindo de maneira antiética, ilegal ou displicente. “Faça o certo, denuncie o errado”, é o mote de um vídeo interno que deverá circular em breve. Quanto aos resultados práticos dessas denúncias, Tourinho prefere não dar números exatos, mas fala em algumas dezenas de funcionários demitidos desde 2013.
A segunda linha de trabalho do setor de compliance é o acompanhamento e a fiscalização de todos os processos internos da empresa. Análises prévias de contratos, monitoramento de aproximadamente 10 mil fornecedores ativos em cerca de 12 países, fiscalização do balanço de quase cem empresas do grupo.
Diante desses números, parece razoável questionar a real eficácia do departamento. Oito pessoas são realmente capazes de fiscalizar esse universo de informações? Tourinho explica que não é possível averiguar todos os processos, mas a coisa é feita por amostragem: “Temos um know-how para saber onde olhar especificamente, cirurgicamente, para ver o que é que tem de desvio o que não tem”, disse. Certo, mas há de se convir que os processos de corrupção são feitos para não serem notados. Ainda que em algum momento se tenha chegado a absurdos como o “setor de operações estruturadas” da Odebrecht, ou a “controladoria” da OAS, normalmente as operações de desvio são discretas, difíceis de serem identificadas. Prova disso é que, no caso da Odebrecht, o famigerado departamento de propinas continuou funcionando mesmo com a Lava Jato a todo vapor (BRÍGIDO, 2017).
“Não saberia te dizer o que acontecia lá”, disse Tourinho sobre o fato de a Odebrecht ter mantido os desvios enquanto era devassada em rede nacional. “O que eu posso dizer é que alteramos a diretoria e quem está aqui hoje, está focado em realmente mudar essa percepção das pessoas, de como funciona uma empresa de construção civil no Brasil”.
Além disso, ainda segundo o compliance officer, cumprir as regras é uma questão de sobrevivência, o que simplifica a atuação do setor: “Vou ser bastante sincero e o que eu vou falar vai parecer até brincadeira. Mas é fácil fazer isso [zelar pelo cumprimento das leis]. É muito fácil fazer isso. Por um simples motivo: a Lava Jato. Como falei, a maioria dos diretores foram alterados. Quem é o diretor que está assumindo hoje que vai pensar em fazer alguma coisa errada?”, questionou para trazer a resposta em seguida: “Nesse cenário de Lava Jato, e mais do que Lava Jato, de recuperação judicial, a gente não pode errar. Se a gente errar, a empresa acabou”.
Além da fiscalização e do recebimento de denúncias, o setor de compliance também atua na educação e conscientização dos empregados, em ações que vão além do estimulo à delação de colegas. O foco da próxima campanha interna será os pequenos delitos. Colocar o almoço com a família na conta da empresa, superfaturar o boleto do táxi, imprimir documentos pessoais no escritório. “Não adianta reclamar que o diretor da empresa está errado, que os políticos estão errados, se você não fizer o seu papel”, disse Tourinho.
No final da conversa, mencionei o caso dos 111 de Petrolândia. Tourinho não sabia os detalhes e pareceu não acreditar totalmente na narrativa breve que fiz a ele: “Não sei se foi exatamente assim que aconteceu, mas se eventualmente vier a acontecer alguma coisa semelhante no futuro, vamos conseguir identificar e estancar imediatamente”, disse. Para ele, uma forma de impedir que outros casos de trabalho análogo a de escravo aconteçam no futuro é por meio de treinamentos, que são feitos nas mais diversas áreas – incluindo aí os operários e recrutadores de mão de obra. Com as devidas diferenciações, claro. “Há treinamentos e treinamentos”, ponderou. “Para diretor, gerente, e para alguns cargos específicos, é presencial. A gente faz uma palestra de mais ou menos uma hora. Para o pessoal de obra, não dá para fazer presencial para todo mundo, porque atrasaria muito”. Além disso, segundo o executivo, o canteiro apresenta outros problemas: “Já visitei várias obras, falando ‘ó estou aqui; precisando de mim, sou do compliance’. Mas o que é compliance? A gente se preocupou em dizer o que é, porque se falar em compliance para o pessoal de obra, eles não sabem nem pronunciar”, explicou. Nos quatro primeiros meses de 2017, ele disse ter visitado apenas uma obra da OAS.
Compliance?
O pedreiro aposentado Chico Cordeiro mora bem na entrada da Vila das Malvinas e não faz a menor ideia do que seja compliance. Chico é de outro tempo, em que ninguém sonhava com algo como a Lava Jato, com suas delações e recuperações judiciais; muito menos com a aplicação de leis contra Trabalho escravo. Saiu do Canidé, no Ceará, na década de 1960, para trabalhar na finalização das obras da recém-inaugurada Brasília, onde ficou por seis anos.
Quando os empregos na construção minguaram na Capital, rodou o país carregando tijolo, virando massa, dobrando ferro, chapiscando parede, batendo laje. Disse que se aposentou como “cachimbo”, tocador de obra, e que no final da carreira não trabalhava mais, “só mandava”. Antes, viu de um tudo pelos canteiros do Brasil. Contou, por exemplo, de alojamentos com percevejos capazes de levantar um homem. “Sabe por que levanta um cabra?”, perguntou por trás de um bigodão preto que contrastava com a calva quase completa. “Porque ele pica, a mordida é tão doída que o cabra levanta”, disse, e soltou uma gargalhada.
Segundo ele, a hospedagem nunca foi o forte da construção. Os alojamentos, quando existiam, eram sujos, lotados e perigosos. “Era toda noite um que morria na faca”, contou o pedreiro aposentado, que sempre arrumava um canto para pagar por conta própria. Foi assim que acabou na Vila das Malvinas, ao lado do Aeroporto. Ele acompanhou a obra toda, de longe, mas nunca chegou a trabalhar por lá. “Nem fodendo”, gritou exagerando a indignação. “O que? Você sabe a lama que era aquilo? Nem fodendo que eu ia entrar ali. Me chamaram, mas eu não fui, porque não sou otário”. Disse que aconteceu a mesma coisa no Vale do Anhangabaú. “Eu passei lá, dei uma espiada dentro do buraco, me chamaram pra trabalhar. Mas eu, hein? Você é louco? Eu vou trabalhar dentro da lama? No buraco?”.
Diante de tamanha resistência, perguntei o que o incomodava tanto na ideia de trabalhar num buraco. “O quê? E se aquilo ali cai, caralho? Eu vou morrer e vou acabar enterrado ali? Você tá é louco?”, disse, e contou que cansou de ver operários morrerem nos canteiros de antigamente. “O cara vai lá, dentro da lama, fazer uma instalação elétrica. Leva um choque, morre e aí vão fazer o quê? Vão parar a obra e tirar o corpo do cabra lá de dentro? Nem fodendo! Joga cimento em cima manda ver. Essa cidade aí é um baita cemitério de trabalhador, cara. Onde você pisa tem gente enterrada. E a família do cabra tá lá, no Nordeste, até hoje. Até hoje esperando ele dar uma notícia, até hoje esperando ele voltar”.

Referências bibliográficas
AFFONSO, J.; BRANDT, R.; MACEDO, F. “Procuradoria aponta 16 empreiteiras alvos de ‘clube’ do cartel” [12/12/2014]. Disponível em: < http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/procuradoria-aponta-16-empreiteiras-alvo-de-clube-do-cartel/> (Acesso: 16 jun. 2017).
AMORA, D. “Plano de saneamento do Brasil vai sofrer atraso de pelo menos 20 anos” [11/01/2016]. Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/01/1727996-plano-de-saneamento-do-brasil-vai-sofrer-atraso-de-pelo-menos-20-anos.shtml > (Acesso: 15 jun. 2017).
AVIAÇÃO BRASIL. “Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos” [06/05/2017]. Disponível em: < http://www.aviacaobrasil.com.br/aeroporto-internacional-de-sao-pauloguarulhos/> (Acesso: 15 jun. 2017).
BBC. “Obama diz que Lula é ‘o político mais popular da Terra’” [02/04/2009]. Disponível em: < http://www.bbc.com/portuguese/multimedia/2009/04/090402_lulaobamavideo.shtml > (Acesso: 14 jun. 2017).
BRANDÃO, M. “TCU contabiliza R$ 25,5 bilhões de gastos com a Copa do Mundo” [03/12/2014]. Disponível em: < http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-12/tcu-contabiliza-r-255-bilhoes-de-gastos-com-copa-do-mundo >. (Acesso: 14 jun. 2017).
BRASIL. Art. 149 Do Código Penal. Decreto Lei nº 2848/40, de 07 de dezembro de 1940. Disponível em: < https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10621211/artigo-149-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940> (Acesso: 15 jun. 2017).
BRASIL. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm> (Acesso: 15 jun. 2017).
BRASIL. Lei nº 12.462, de 04 de agosto de 2011. Institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC; altera a Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, a legislação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e a legislação da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero); cria a Secretaria de Aviação Civil, cargos de Ministro de Estado, cargos em comissão e cargos de Controlador de Tráfego Aéreo; autoriza a contratação de controladores de tráfego aéreo temporários; altera as Leis nos 11.182, de 27 de setembro de 2005, 5.862, de 12 de dezembro de 1972, 8.399, de 7 de janeiro de 1992, 11.526, de 4 de outubro de 2007, 11.458, de 19 de março de 2007, e 12.350, de 20 de dezembro de 2010, e a Medida Provisória no 2.185-35, de 24 de agosto de 2001; e revoga dispositivos da Lei no 9.649, de 27 de maio de 1998. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12462.htm> (Acesso: 15 jun. 2017).
BRASIL. Projeto de lei nº 6.814. Institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e revoga a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e dispositivos da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011. Disponível em
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=
9DE30DFBCABBB816D8C4042B238AE3F1.proposicoesWebExterno2?codteor=1524890&filename=Avulso+-PL+6814/2017> (Acesso: 15 jun. 2017).
BRÍGIDO, C. “‘Departamento da propina’ da Odebrecht operou mesmo com a Lava-Jato e movimentou R$ 2 bi, diz delator” [16/05/2017]. Disponível em: < https://oglobo.globo.com/brasil/departamento-da-propina-da-odebrecht-operou-mesmo-com-lava-jato-movimentou-2-bi-diz-delator-21349794> (Acesso: 16 jun. 2017).
CAMPOS, P. H. P. Estranhas catedrais. Rio de Janeiro: Eduff, 2014.
______________ Entrevista concedida a Tomás Chiaverini. São Paulo, abril de 2017.
DANTAS, D.; DANTAS, T.; SCHMITT, G. “Ex-diretor diz que OAS tinha ‘departamento de propina’” [04/06/2017]. Disponível em: https://oglobo.globo.com/brasil/ex-diretor-diz-que-oas-tinha-departamento-de-propina-21295903 (Acesso: 16 jun. 2017).
DUAILIBI, J.; GALLO, F. “Haddad e Alckmin anunciam redução de tarifas do transporte público em SP” [19/06/2013]. Disponível em: < http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,haddad-e-alckmin-anunciam-reducao-de-tarifas-do-transporte-publico-em-sp,1044416> (Acesso: 14 jun. 2017).
FAVERO, D. “Saiba como funcionava o clube de empreiteiras na Petrobras” [20/11/2014]. Disponível em: <https://www.terra.com.br/noticias/brasil/politica/saiba-como-funcionava-o-clube-de-empreiteiras-na-petrobras,2937b427dadc9410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html> (Acesso: 16 jun. 2017).
FREITAS, J. “Concorrência da Ferrovia Norte-Sul foi uma farsa” [13/05/1987]. Disponível em: < http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/1987/05/13/2/#> (Acesso: 15 jun. 2017).
_________. “Escândalo da concorrência na ferrovia Norte-Sul completa 30 anos” [13/05/2017]. Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/05/1883699-escandalo-da-concorrencia-na-ferrovia-norte-sul-completa-30-anos.shtml> (Acesso: 15 jun. 2017).
INFOGRÁFICO ESTADÃO. “Operação Lava Jato” [s./d.]. Disponível em: http://infograficos.estadao.com.br/public/politica/operacao-lava-jato/esquema/ (Acesso: 16 jun. 2017).
ÍNTEGRA do depoimento de Leo Pinheiro para Moro Juliano Camargo. 2’58” [20/04/2017]. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Uf2Xp6W4gTo (Acesso: 16 jun. 2017).
LEITÃO, K. O. A dimensão territorial do Programa de Aceleração do Crescimento: um estudo sobre o PAC no Estado do Pará e o lugar que ele reserva à Amazônia no desenvolvimento do país. Tese de Doutorado. FAU/USP, São Paulo, 2009.
LEONE, C.; MEIRELLES, C. R. M. “Terminal 3 de Guarulhos: projeto, sustentabilidade e inovação”. In: 10º Seminário Internacional NUTAU – Megaeventos e sustentabilidade: Legados tecnológicos em Arquitetura, Urbanismo e Design. São Paulo, Anais do 10º Seminário Internacional NUTAU, 2014 (Acesso: 14 jun. 2017).
MARQUES, E. C. Redes sociais, instituições e atores políticos no governo da cidade de São Paulo. São Paulo: Fapesp/Annabulme, 2003.
MARTINS, D. “Taxa média de desemprego em 2013 é a menor da história” [30/01/2014]. Disponível em: < http://www.valor.com.br/brasil/3413340/taxa-media-de-desemprego-em-2013-e-menor-da-historia > (Acesso: 14 jun. 2017).
NEITSCH, J. “Expansão do RDC ‘ameaça’ Lei Geral de Licitações” [24/01/2013]. Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/justica-direito/expansao-do-rdc-ameaca-lei-geral-de-licitacoes-b7fvoulm8bs0d428w321fvzwq> (Acesso: 15 jun. 2017).
PINHEIRO, H. Entrevista concedida a Tomás Chiaverini. São Paulo, abril de 2017.
PORTAL BRASIL. “Em 2013, PIB cresce 2,3% e totaliza R$ 4,84 trilhões” [27/02/2014]. Disponível em: < http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2014/02/em-2013-pib-cresce-2-3-e-totaliza-r-4-84-trilhoes > (Acesso em: 14 jun. 2017).
PORTAL G1. “Condenados no mensalão se entregam à Polícia Federal” [19/11/2013]. Disponível em: < http://g1.globo.com/politica/mensalao/noticia/2013/11/condenados-no-mensalao-se-entregam-policia-federal.html > (Acesso: 14 jun. 2017).
SILVA, S. B. “O Brasil de JK > 50 anos em 5: o Plano de Metas” [s./d.]. Disponível em < http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/artigos/Economia/PlanodeMetas >. (Acesso: 15 jun. 2017).
TOURINHO, A. Entrevista concedida a Tomás Chiaverini. São Paulo, maio de 2017.