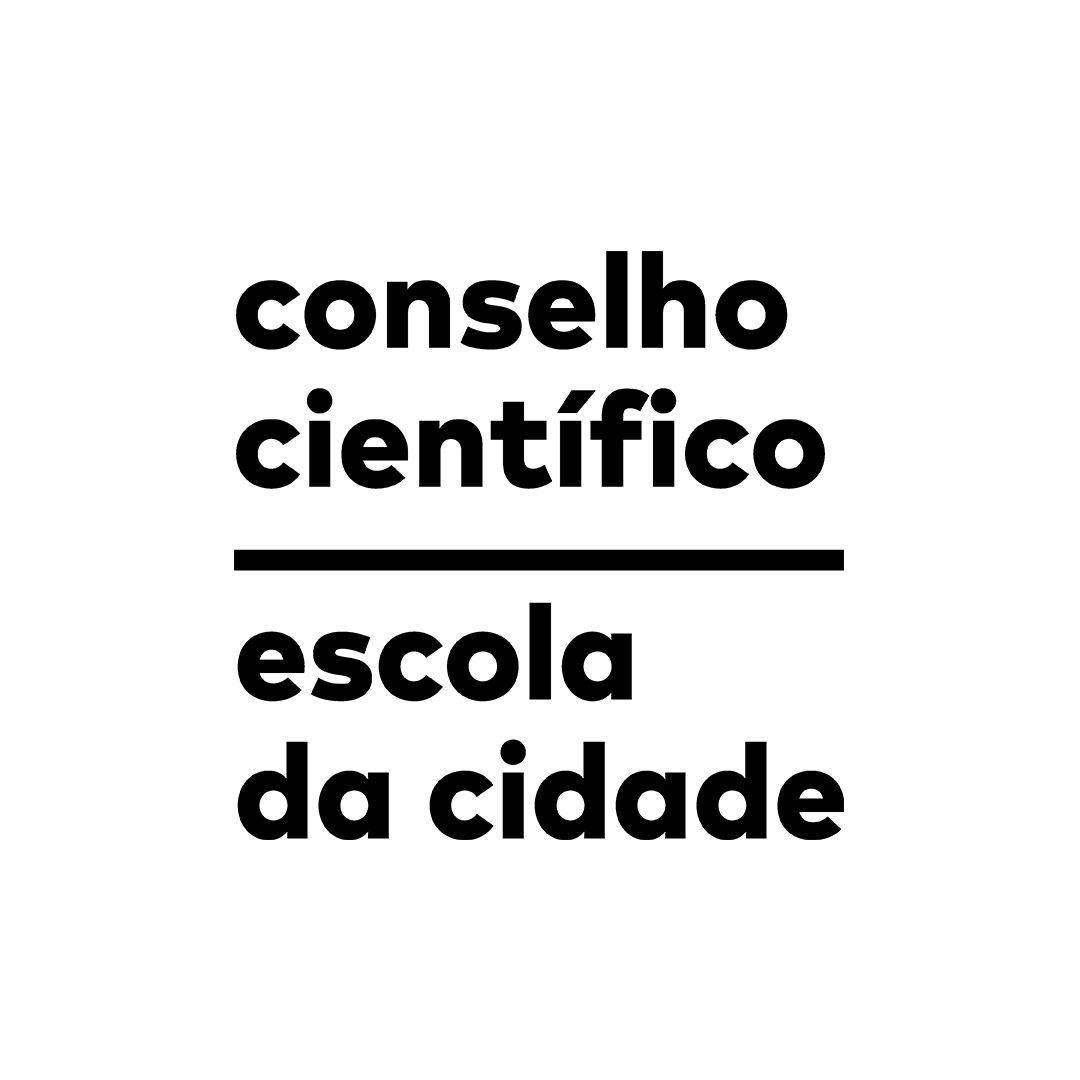No canteiro de obras em Ermelino Matarazzo, zona leste de São Paulo, os operários chegaram cedo para não trabalhar. No dia anterior resolveram que parariam a obra porque estavam sem receber o salário de dezembro, o décimo terceiro e, com janeiro de 2017 já no fim, havia pouca esperança de que o salário daquele mês fosse pago. Os materiais de construção, no entanto, continuavam chegando; a escavadeira alugada também permanecia no canteiro, com um funcionário da locadora à disposição para operá-la. Eram seis e meia da manhã e os trabalhadores iam chegando do alojamento, distante menos de 500 metros da obra, e subindo a ladeira de barro que dava no refeitório. No refeitório sem energia elétrica, esperavam pelo café da manhã fornecido pela empreiteira que os contratou. A comida chegou no baú de um motoboy: pão com um embutido, café e leite.
Após o desjejum, Luiz Carlos dos Santos Filho, Daniel dos Santos e João Messias de Almeida, integrantes da equipe de base do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil em São Paulo (Sintracon-SP), realizaram uma assembleia com os operários para falar dos seus direitos trabalhistas e das violações que estavam sendo cometidas contra eles pela contratante. A equipe do Sintracon-SP estava ali porque havia recebido uma denúncia de não pagamento de salários e de condições degradantes no alojamento. Decidiu-se coletivamente que a obra ficaria paralisada até que a contratante pagasse o que devia. Na entrevista realizada pela reportagem após a assembleia, alguns trabalhadores relataram ser ameaçados e pressionados pelos empregadores ao reivindicarem seus direitos. Após a reunião e inspeção no canteiro, a equipe do sindicato seguiu para o alojamento acompanhada pelos operários.
Dois banheiros, 20 homens
Um sobrado de cerca de 70 m2, dois banheiros e quase nenhuma ventilação era casa de cerca de 20 homens. O número de habitantes aumentava conforme a empresa ia contratando mais operários e instalando-os no mesmo endereço. O cheiro de esgoto era forte já à entrada do imóvel devido ao uso excessivo das privadas em número insuficiente. Os colchonetes fornecidos pela empresa aos trabalhadores já eram usados, vindos de outro alojamento. A maioria estava gasta, suja e com furos. O ajudante de pedreiro Tiago Santos dias, de 23 anos, foi parar no hospital por conta de uma crise alérgica desencadeada por picadas de percevejos. Como não havia camas suficientes, os próprios trabalhadores improvisaram beliches feitas com retalhos de madeira. “Gatos” na fiação elétrica estavam por toda parte, com fios desencapados e ao alcance do corpo de quem circulava pela casa.
Os operários culpavam a empreiteira contratante pelas condições precárias e falta de pagamento; esta culpava a construtora majoritária que a subcontratou; já a construtora culpava o governo do Estado de São Paulo pelo não repasse das verbas. A obra em questão é um conjunto com 117 unidades habitacionais construídas pelo CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) ao custo de mais de R$ 7,2 milhões. As obras tiveram início em primeiro de agosto de 2014 e deveriam ter sido concluídas em fevereiro de 2016.
Quando a reportagem deixou o canteiro, por volta de meio-dia, o impasse estava longe de ser solucionado. A equipe do sindicato já havia entrado em contato com a construtora e com a empreiteira, mas o jogo de empurra só acentuava a insegurança e precariedade dos trabalhadores, que não tinham perspectiva nem de morar melhor e nem de serem pagos. Segundo a equipe do sindicato, esta é uma situação comum que se repete igualmente em obras públicas e privadas.
Coreografia da degradância
A descrição acima dá conta das violações de direitos em relação aos alojamentos, as mais visíveis na construção civil. São estas violações que costumam engendrar ações do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e do Ministério Público do Trabalho (MPT) no combate ao trabalho análogo ao escravo. A degradância das condições de vida nos alojamentos é, de certa forma, mais facilmente aferível e, por isso, enquadrá-la na definição de trabalho análogo ao escravo descrita no artigo 149 do Código Penal é tarefa objetiva. “A questão do alojamento acaba pegando mais porque você tem vários atributos que levam à degradância. No desenvolvimento do trabalho em si, pode-se verificar o Trabalho escravo. O problema é que o que qualifica a degradância [no exercício do trabalho no canteiro] fica um pouco em aberto. Por exemplo: jornada extenuante é um dos itens que qualificam a degradância. O que é o extenuante? Até que ponto? Tem gente que defende que o extenuante é aquilo que vai além do limite máximo da jornada que existe. Hoje a jornada é de 8 horas, mas você pode, de acordo com permissões legais, fazer uma prorrogação de até 2 horas diárias, então o máximo seria uma jornada de 10 horas. Passou de 10 já seria extenuante. O problema é que isso é um conceito doutrinário que ainda não foi incorporado pela lei e nem pelos tribunais. Então é muito provável que você tenha esse trabalho extenuante na construção civil sem que ele seja identificado. Você pode ter isso em relação a outros atributos, como o excesso de perigo, as questões de segurança etc. O problema é que sem essa definição específica, e não havendo consenso, o que fica sendo o núcleo duro em relação ao Trabalho escravo é a questão do alojamento, a fraude no transporte de trabalhadores [aliciamento] e a falta de registro [na carteira de trabalho]”, explica o procurador do MPT de São Paulo Ruy Fernando Cavalheiro.
A coreografia dos corpos no canteiro, forjada pela história das relações de exploração da mão-de-obra, aparece como normal aos olhos. É comum dizer que o trabalho na construção civil é pesado e perigoso, mas não é comum questionar o porquê desse peso e perigo se manterem ao longo das décadas mesmo com a evolução de materiais, técnicas e processos construtivos e de segurança na construção civil. “O que é possível verificar a partir da revisão do debate da industrialização e da saúde e segurança do trabalho na construção civil é que mudanças nas técnicas produtivas no capitalismo brasileiro ocorrem somente quando relacionadas diretamente a melhores resultados financeiros. Apesar de terem sido desenvolvidas há anos e serem amplamente difundidas, tecnologias que poderiam ser incorporadas ao canteiro com vistas a torná-lo um ambiente de trabalho mais seguro vêm sendo constantemente rechaçadas pelo empresariado nacional”, escreve a pesquisadora Melissa Ronconi de Oliveira. 1
Uma conversa feita pela reportagem com alguns operários da obra de Ermelino Matarazzo aponta que, de fato, a normalização da degradância borra as fronteiras entre o que é trabalho e o que é violação de direitos, tornando difícil a distinção entre um e outro. Importante dizer que essa indistinção acontece no nível do discurso, um discurso que é ideológico – no sentido do falseamento da realidade – e que tem sua razão de ser enquanto dissimulador das violências cometidas contra os trabalhadores. A normalização da degradância, porém, embora “funcione” no discurso, é ineficaz no exame empírico, uma vez que as violências perpetradas deixam marcas nos corpos que toca.
Nesse sentido, é possível cartografar a degradância do trabalho no canteiro a partir do próprio corpo que a ela é submetido e na relação deste com o espaço onde sofre a violência. Na coreografia dos corpos no canteiro, a degradância pode não ser vista por quem está de fora, mas é sentida por quem está dentro. Ela está na vertigem de quem trabalha em altura sem nunca ter sido treinado para isso; está na cicatriz deixada no olho por uma lasca de cerâmica que se desprendeu durante o corte; está na dor crônica na coluna ou nos músculos fadigados das pernas e braços que sobem e descem barranco empurrando mais de 100 kg de blocos de concreto ao longo de seis, sete horas; está no dedo roxo prensado entre blocos; está no esgotamento físico e mental causado pelo calor; está na queimadura de sol e nos distúrbios do sono de quem opera furadeiras e britadeiras; está na perda auditiva, na labirintite; está nas doenças respiratórias provocadas pela absorção contínua de poeira e produtos químicos; está nas infecções por micro-organismos contraídas nos serviços de tubulação de esgoto; está no estresse e na depressão causados pelos regimes de confinamento das obras em que os operários dormem e acordam sempre dentro do local de trabalho. E a lista segue.
Uma cartografia da degradância do trabalho no canteiro que seja capaz de condensar e permitir a visualização da degeneração dos corpos explorados na construção civil – assim como as atividades que exaurem estes corpos –, talvez mostre uma curva descendente de um corpo que começa a vida profissional são e que se desgasta de forma aguda ao longo de um tempo curto. Esta linha degenerativa certamente não poderá ser vista como natural se comparada a outras linhas de corpos desgastados por outras atividades menos ou não degradantes.
Tiago Santos Dias, 23 anos, Bahia
“Eu sou ajudante. A gente trabalha em altura, a gente tem cinto, mas tem hora que a gente arrisca a vida demais. Eu faço tudo, puxo bloco em grua, faço grauteamento. Nunca trabalhei em altura assim não. Não recebi treinamento. Aprendi na brutalidade, subindo mesmo. Rapaz, não me dá medo mais não porque eu já acostumei em altura já, mas mesmo assim não é muito bom, né?”
Jozivam Santos da Silva, 23, Bahia
“Eu sou ajudante. Eu monto andaime, trabalho na grua, tenho treinamento. Da outra vez que o sindicato veio aqui fui obrigado a fazer o treinamento pra trabalhar. Trabalho em altura, carrego bloco daqui pra lá, trabalho lá em cima. Corto ferro que tiver lá em cima. Uma vez um bloco bateu no meu dedo, eu carregando ele, fiquei dois dias em casa recuperando. Altura é o mais perigoso. Eu não tenho medo não. O medo acabou. Acho que não tem jeito de ficar menos perigoso não, tudo é risco. O cara tem que cuidar da sua vida, da segurança.”
Elvis Pereira dos Santos, 22, Bahia
“Eu sou ajudante. Eu trabalho mais puxando bloco, trazer lá de baixo é meio puxado, são duas ladeiras. Trago em um carrinho grande, alto. Não sei quantos quilos carrego, mas é bem pesado, hein, moça? Eu trabalho das 7 da manhã às 5 da tarde, trabalho nove horas sempre puxando bloco. Carrego 16 blocos [por vez]. As pernas doem um pouco. Sempre tem um ajudanndo a gente aí. Eles colocaram os blocos ali embaixo porque aqui em cima já tava cheio, agora tenho que pegar de lá de baixo. Eu achava melhor que tivesse uma máquina pra subir.”
Edivaldo Firmino da Silva, 31, Alagoas
“Sou ajudante, mas trabalho como pedreiro. Carrego bloco aí. Carrego pra trabalhar aqui na parte de baixo. Na parte de cima tem um camarada que manda alguém subir os blocos, mas nem toda hora tem alguém pra pegar e eu fico lá pegando os blocos pra poder trabalhar. Às vezes eu vou pegar, pego massa, pego bloco. Essas coisas aí é o mais difícil. Se você tiver uma pessoa com você se torna mais fácil, você produz mais. No meu caso, diminui minha produção. Aqui tem ajudante, mas não é pra todos. Às vezes um só carrega, outro tira. Eu carrego os blocos, depois vou montar andaime, botar a massa e assentar as fiadas de bloco. A gente que mexe com bloco tem que mexer com máquina [de cortar], tem que usar máscara, óculos, porque o pó do bloco é muito químico, a gente pode até passar mal. Uma vez trabalhando com cerâmica voou uma faísca no meu olho, eu quase perdi o olho, passei mais de tempo com o olho inchado, escorrendo lágrima, sem poder fichar. Isso não foi aqui, foi em outra obra. Aqui tem coisas que se você falar que não vai fazer eles te ameaçam, dizem que vão mandar embora. Como é que alguém trabalha assim?”
Aceleração de processos: a lógica das finanças no canteiro
Ao longo da última década, a produção de habitação no Brasil têm passado por transformações estruturais com impacto direto sobre os corpos nos canteiros. Entre 2006 e 2007, 25 empresas da construção civil e do mercado imobiliário abriram seu capital na bolsa de valores. 2 Com isso, a lógica do capital financeiro começou a ser transposta para a produção na construção civil. “Para uma empresa abrir capital e poder conversar com acionistas de diversas partes do mundo, precisa, em primeiro lugar, ter informações e prestação de contas padronizadas. O mesmo relatório que eu encontro na França, eu encontro no Brasil, por exemplo. Há uma ‘internacionalização’ desses códigos, dessas informações sobre a produção. Há também uma estrutura da governança corporativa, que é a estrutura da administração, de conselhos, que os próprios acionistas acabam influenciando. Isso em termos teóricos. Em termos de produção, e que tem a ver com o canteiro de obras, essas empresas acabam sendo avaliadas não mais por uma lógica industrial, ou seja, apenas produzir um produto e tirar um lucro, mas sim por uma ideia de rentabilidade e liquidez. Esse é um ritmo novo que as finanças acabam colocando para a produção da construção civil. Você precisa de uma velocidade maior para fazer girar esses capitais que são empregados na empresa. Para dar conta desse novo ritmo, a subcontratação, que sempre foi adotada, se dissemina ainda mais para dar conta desses prazos mais curtos. Na subcontratação, a empresa principal, no caso as grandes incorporadoras, acabam muitas vezes não tendo controle absoluto disso. E é na pulverização da subcontratação que se abrem as brechas para o Trabalho escravo. É uma ponta que pode escapar”, explica a professora e pesquisadora do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (IAU-USP) Lúcia Shimbo.
Para o pesquisador Vitor Araújo Filgueiras, citado por Melissa Ronconi de Oliveira, “a terceirização promove maior tendência à transgressão dos limites físicos dos trabalhadores. Ela potencializa a natureza do assalariamento de desrespeitar limites à exploração do trabalho, no caso, suplantando os limites físicos do trabalhador.” 3
O arquiteto e professor da UNIFESP Pedro Arantes, que está participando do projeto Contracondutas pelo Laboratório de História da Arte, afirma que a precarização do trabalho no canteiro é um fenômeno global que termina por servir a uma lógica de ampliação dos lucros. “O uso do trabalho migrante, precarizado, em condições análogas à escrava acontece em canteiros de obras em todos os lugares, até na Alemanha, Estados Unidos, porque ele depende de um certo tipo de mobilização de esforços dos trabalhadores para construir uma mercadoria especial que no final é única, num lugar que também que exige que a mercadoria seja estática, que seja presa ao terreno. Isso é diferente de uma mercadoria feita numa fábrica, que tem uma linha de montagem, onde as peças e as mercadorias se movem e os trabalhadores estão em geral posicionados, criando uma rotina de trabalho e um domínio sobre as circunstâncias de risco, de estresse. No caso da construção civil, a mercadoria é estática e quem se move em torno dela nas situações mais críticas, em fundações profundas, no trabalho em altura, com risco de queda, são os trabalhadores. Tem um risco que é mais ou menos inerente, mas é evidente que quando isso é explorado pelas empresas capitalistas se transforma numa condição de ampliação dos lucros.”
Desmonte do combate ao Trabalho escravo
Diante da agudização da exploração da mão-de-obra no canteiro, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e o Ministério Público do Trabalho (MPT), responsáveis por fiscalizar e combater a exploração de mão-de-obra análoga à escrava, têm sido paulatinamente sucateados pelos últimos governos federais. Não há contradição nisso, mas uma relação de causa e consequência. Num contexto de exacerbação das violações, é preciso dissimulá-las, seja por meio do discurso ideológico que relativiza violências, seja através do desmonte de instituições cuja função é, justamente, investigar e autuar as empresas que violam direitos de trabalhadores. “O MTE está sucateado. Não tem concurso faz um bom tempo. Em Guarulhos, por exemplo, tinha que ter 25 auditores, tem 16 e não dá para cobrir tudo o que temos que fazer. Temos uma inobservância geral do conceito da lei à causa de pouca gente. Com a mudança que ocorreu no governo [federal] no ano passado, as coisas ficaram meio truncadas. Houve uma mudança quase que geral de quadros da fiscalização do MTE esses dias. Tiraram um monte de gente de carreira e colocaram outras pessoas que, dizem, não seriam boas para o trabalho. Isso está num contexto maior de redução de direitos sociais capitaneado pelos três poderes da República, infelizmente. A gente tem decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) que revogam pedras basilares do direito do Trabalho. A União quer a reforma trabalhista e previdenciária fazendo com que pessoas que trabalham em atividades extenuantes, que via de regra são braçais e mal pagas, tenham que trabalhar dos 16 até os 65 anos de idade. A pessoa vai trabalhar até morrer. Existe um ataque ao direito do Trabalho, e o esvaziamento do conceito de trabalho análogo ao escravo está nesse âmbito também. Esvaziar o conceito de trabalho análogo ao escravo só vai servir para uma coisa: fazer com que coisas que hoje são proibidas possam ser feitas, e as pessoas continuem superexplorando o outro”, diz o procurador Ruy Fernando Cavalheiro.
O coordenador nacional de Erradicação do Trabalho escravo do MPT, Tiago Muniz Cavalcanti, endossa a crítica de Cavalheiro, e aponta a classe patronal com assentos no congresso nacional como uma das fortes articuladora dos retrocessos na proteção a direitos. “Ao mesmo tempo em que temos evoluído no combate ao Trabalho escravo, como na aprovação da Emenda Constitucional 81, que prevê expropriação de terra dos empregadores escravagistas, também temos o sucateamento da carreira da auditoria do trabalho, a não realização de concursos, a não divulgação da lista suja [cadastro do governo federal com os nomes de empresas flagradas explorando Trabalho escravo]. Isso, lógico, vai ter um impacto negativo no enfrentamento da escravidão. E isso não é de agora, já vem de governos anteriores. Quando falamos de congresso nacional, sempre temos vozes contrárias ao enfrentamento da escravidão sob todos os aspectos. Temos a bancada ruralista, a bancada patronal muito forte, e quem dá as cartas no congresso nacional é o poder econômico e isso a gente já sabe. O projeto do novo Código Comercial, por exemplo, proíbe a realização de inspeções sem a prévia comunicação do empregador com 48 horas de antecedência. Além disso, proíbe a realização de inspeções por mais de um organismo estatal concomitantemente. Ou seja: é algo visivelmente direcionado [ao desmonte] do enfrentamento da escravidão.”
Limites e potencialidades do TAC
Criado pelo artigo 211 do Estatuto da Criança e do Adolescente e pelo artigo 113 do Código de Defesa do Consumidor, ambos de 1990, o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) é um instrumento legal utilizado, entre outros contextos, na autuação de empresas flagradas pelo MTE ou MPT explorando mão-de-obra análoga à escrava. Por meio do TAC, a empresa autuada compromete-se prontamente a se adequar às leis trabalhistas naquilo que as tenha violado, e a ressarcir os trabalhadores naquilo que os tenha lesado, como pagamentos em atraso, multas, rescisões, indenização por danos morais etc. “Em relação à ação judicial, o TAC tem a facilidade de pular algumas etapas de produção de provas que é bastante demorada. Você tem um instrumento que executa a empresa imediatamente. Uma ação judicial demora mais. Com o TAC, a empresa imediatamente se compromete a regularizar sua conduta. É uma tentativa de sanar diretamente o dano”, explica a procuradora do MPT de São Paulo Christiane Vieira Nogueira, uma das responsáveis pela autuação da construtora OAS no flagrante de Trabalho escravo nas obras de ampliação do Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos. 4
Por ter um horizonte pedagógico, os valores de multa cobrados pelo TAC das empresas autuadas são destinados ao Fundo de Direitos Difusos (FDD), ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) ou a instituições da sociedade civil que realizam projetos ligados à erradicação do trabalho análogo ao escravo. “Muitas procuradorias têm um banco de projetos. No caso [do aeroporto] de Guarulhos fizemos audiência com a empresa e com a Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho escravo, colegiado de várias entidades da sociedade civil, [para dar um destino à verba da multa]. Não tem um critério rígido [para utilização das verbas]”, explica Nogueira. Várias entidades receberam parte da multa paga pela OAS para realizarem atividades sobre o combate ao Trabalho escravo na construção civil. A Escola da Cidade foi uma delas, com a proposta do projeto Contracondutas.
Apesar das vantagens de rapidez e objetividade de sua aplicação, o TAC também recebe críticas a respeito do que seria sua dimensão de “conciliação” com a empresa escravagista. Isso, em tese, comprometeria o potencial pedagógico do instrumento, especialmente se na celebração do TAC não houver qualquer sanção monetária à empresa autuada. “Enquanto isso, as instituições de fiscalização permanecem com uma postura de estímulo à conciliação, reforçando a impunidade dos empregadores que não cumprem as normas trabalhistas. O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) teria uma função educativa, sem entrar em conflito judicial. Porém, ao se disseminar o uso desse instrumento – que na maioria dos casos não resulta em uma multa monetária –, pela lógica da concorrência aqueles que cumprem a legislação e despendem capital para tanto, estão em desvantagem frente aos que descumprem”, escreve a pesquisadora Melissa Ronconi de Oliveira. “Além disso, muitos dos TAC assinados somente reproduzem o conteúdo das leis. Quando há infração à lei, mas não há sanção pecuniária ou de outra ordem, afasta-se por completo o caráter jurídico de uma norma. No nosso sistema econômico, se a violação da lei não gera qualquer tipo de sanção financeira, o Estado, ainda que inconscientemente, está incentivando o descumprimento dessa mesma lei por parte do infrator capitalista. (…). Os TAC firmados sem previsão de pagamento indenizatório por danos morais coletivos servem, presumidamente, de incentivo para que os demais empregadores também desrespeitem direitos trabalhistas, anulando-se, assim, qualquer possibilidade de pedagogia”, completa Oliveira, citando o procurador do Trabalho Ilan Fonseca de Souza 5.
Outra crítica ao TAC é a possibilidade de seu descumprimento pela empresa autuada. Um TAC paradigmático nesse sentido é o da grife Zara Brasil, autuada em 2011 por manter 15 bolivianos e peruanos em situação de escravidão em oficinas de costura na capital paulista. Apesar do acordo assinado com MTE e MPT para regularizar sua situação, auditoria posterior do MTE apontou que a empresa não apenas seguia explorando mão de obra escrava, infantil e impondo jornadas excessivas, como ainda havia se utilizado de descriminação para eliminar da sua rede de fornecedores empresas que empregavam imigrantes, independentemente de terem ou não irregularidades trabalhistas. No entendimento do MTE, a Zara Brasil atuou apenas no sentido de resguardar sua imagem, e não de cumprir o acordo de regularização.
“Como qualquer outro instrumento, o TAC pode ser eficaz ou não, depende de como for tratado. O próprio Direito não vai ter força de reestruturar a maneira como o capitalismo se estrutura no Brasil e no mundo. A gente não tem uma pretensão de ter uma força desse tamanho, dentro de um sistema para o qual o Direito muitas vezes contribui. É possível ter essa visão crítica, óbvio. Mas isso não inviabiliza a utilização desses instrumentos para melhorar em alguns pontos a vida do trabalhador”, defende a procuradora Christiane Vieira Nogueira.
Para o coordenador nacional de Erradicação do Trabalho escravo do MPT, Tiago Muniz Cavalcanti, os TACs são efetivos de um modo geral. De modo específico, ajudam a resolver o que ele considera ser o gargalo do combate à escravidão. “O enfrentamento à escravidão no país funciona sempre por duas vertentes: a preventiva e a repressiva. A repressiva pode ser por meio da condenação do escravagista à pena prevista de 2 a 8 anos de reclusão; por meio da repressão administrativa, com multas e autos de infração lavrados pelo MTE, inclusão na lista suja do Trabalho escravo etc; e por meio da repressão civil-trabalhista, que fica a cargo do MPT. Já a prevenção pode ser primária e secundária. A primária é quando o ilícito ainda não ocorreu, ou seja: assegurar trabalho digno, saúde e educação naquelas comunidades em que existem vítimas em potencial. Na prevenção secundária, que é quando o ilícito já ocorreu, a gente precisa acolher integralmente as vítimas, requalificá-las e reverter os fatores de vulnerabilidade para que ela não volte a ser novamente vítima do Trabalho escravo. E aí eu te digo com total tranquilidade: o gargalo está na prevenção secundária, porque não há órgãos públicos de acolhimento a essas vítimas, porque a gente não tem conhecimento técnico; as instituições públicas (MPT, MTE, Defensoria Pública da União, Ministério Público Federal) envolvidas com o enfrentamento do Trabalho escravo não têm um aparato para viabilizar essa parte da ação. Através dos TACs, o MPT consegue reverter os valores [de multa cobrados das empresas autuadas] para a sociedade civil organizada. Esses valores terminam sendo utilizados por ONGs e organismos que trabalham com a requalificação e reinserção do trabalhador de uma forma digna no mercado de trabalho.”
Nogueira alerta que tanto o TAC, quanto a ação judicial e mesmo a atuação dos sindicatos ou qualquer outra iniciativa isolada de combate ao Trabalho escravo não devem ser vistos como “salvadores da pátria”. “As lutas têm que ser conjuntas: fiscalização, organização dos trabalhadores, tudo tem que ser usado de forma concomitante”, finaliza a procuradora.
O testemunho da matéria
Arquitetura como dispositivo de violação de direitos humanos e como instrumento de evidenciação dessas violações. É com base nesta dupla potência da arquitetura que o grupo Forensic Architecture, da Goldsmiths College, da Universidade de Londres, vem, há quatro anos, desenvolvendo um capítulo inédito da arquitetura forense. 6 A ideia de que toda violência deixa marcas é o ponto de partida do grupo na busca por evidências físicas deixadas pelo Estado, por meio da arquitetura, no espaço que transforma a fim de implementar planos colonialistas, seja na guerra civil da Guatemala, na guerra de drones dos Estados Unidos no Oriente Médio, seja durante a ditadura civil-militar no Brasil ou mesmo na construção de Brasília. Na entrevista a seguir, o arquiteto e urbanista Paulo Tavares, integrante do grupo da Goldsmiths e pós-doutorando em arquitetura forense na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP), fala sobre as investigações desenvolvidas pelo grupo, sobre Belo Monte, Brasília e sobre como – e se – a arquitetura forense pode ajudar a evidenciar padrões de violação dos corpos dos operários nos canteiros de obras do Brasil contemporâneo.
O que é a arquitetura forense?
A arquitetura forense, em seu sentido clássico, é uma espécie de investigação. Por exemplo: se um prédio cai, vai ser feita uma inspeção na obra para entender por que o prédio caiu. Esse tipo de investigação bem técnica é a arquitetura forense [em sentido clássico].
Qual a diferença entre essa arquitetura forense clássica e a que você vem desenvolvendo em Londres com o grupo de pesquisa do qual faz parte? Poderia falar um pouco dele?
Esse grupo está baseado no Centro de Pesquisa em Arquitetura da Goldsmiths, em Londres, onde fiz meu doutorado. É um grupo multidisciplinar formado por arquitetos, pessoas que trabalham com arte, com direitos humanos, vídeo, e é dirigido por um arquiteto chamado Eyal Weizman. Há quatro anos a gente começou a trabalhar a questão de como a arquitetura funciona como uma ferramenta no exercício de poder, na perpetração da violência, e como, por causa disso, de instrumento de violência a arquitetura poderia ser trabalhada como uma espécie de evidência de violações de direitos humanos. Certos tipos de ações políticas, de formas de violência se registram de alguma maneira no ambiente construído. Seria possível, então, ler a paisagem nesse sentido. Isso, de fato, é muito novo. A nossa fonte de inspiração é a prática da antropologia forense que nasce na Argentina para investigar os desaparecidos da ditadura militar. Quem inventa isso é Clyde Snow [antropólogo forense estadunidense]. Esse é o nosso conceito de referência: violência de Estado e investigação da matéria.
Como a antropologia forense pôde inspirar uma arquitetura forense?
Uma metáfora para entender a relação entre violência e arquitetura e seu papel como forma de evidência de violação de direitos humanos talvez seja a imagem clássica do corpo desaparecido, que é um sujeito político fundamental na história da América Latina, durante as guerras sujas latinoamericanas. Os cientistas que fazem essas investigações, que buscam esses corpos desaparecidos, exumam os ossos e os investigam para mostrar como essa pessoa foi morta. Através dessa leitura da matéria, do testemunho dos ossos, ele pode contar os crimes que foram perpetrados contra essa pessoa. Quando você identifica um padrão – por exemplo, em um crânio, você identifica uma execução feita na nuca –, esse padrão se transforma em uma prática de terror de Estado. Então é possível você ler uma política de terror do Estado em um corpo exumado. A gente faz a mesma coisa, mas com a arquitetura. Na medida em que entendemos que a violência não é apenas uma relação de opressão como um tiro direto, mas que há outras formas de cometê-la que passam pelo próprio meio ambiente através de modificações espaciais, é possível que essas ações políticas históricas estejam registradas na paisagem, no espaço da matéria. É uma espécie de história da arquitetura por ela mesma, o espaço como um produto de várias forças políticas.
De que maneira o grupo de pesquisa atua?
Nos casos de defesa dos direitos humanos, a gente percebeu que há sempre uma dimensão espacial, na medida em que o espaço é o meio pelo qual a violência se organiza e se opera. A gente percebeu também que dentro das cortes, sejam nacionais ou internacionais, há sempre uma dimensão visual ou estética do que é evidência, ou uma dimensão política do regime do sensível, algo que não era visível e tem que se fazer visível. Então o que o grupo faz é desenvolver trabalhos de investigação em casos de violação dos direitos humanos – é claro que a noção de direitos humanos é expandida, a gente trabalha também direitos ambientais ou outras formas de direito –, e trabalhamos em colaboração com movimentos sociais e organizações civis provendo um meio de gerar advocacy para a defesa dos direitos. Já fizemos projetos desde os direitos dos imigrantes do Mediterrâneo ao conflito Israel-Palestina, aos ataques de drones realizados pelos Estados Unidos no Oriente Médio, conflitos na Síria, guerra civil na Guatemala, regime militar no Brasil. Um trabalho de referência muito forte é o do Weizman, principalmente quando ele investiga o conflito Israel-Palestina. No livro Hollow Land, publicado em 2007, ele mostra como a arquitetura é uma série de dispositivos de controle social, de ocupação colonial. Os elementos mais banais da arquitetura, como janelas, paredes, tijolos e vidros operam como instrumentos usados no controle de corpos humanos e não humanos, regulando relações de poder, nesse caso, de poderes coloniais. Essas investigações têm sempre uma dimensão de ativismo, no sentido de colaborar com um processo, e uma dimensão de reflexão, para entender qual é o papel da evidência, da arquitetura, sobre o que é a corte em relação às leis. A arquitetura forense também tem manifestações dentro do campo das culturas visuais, uma vez que existe uma meta-reflexão sobre modos de visualidades.
Quais os elementos essenciais da arquitetura forense?
São os campos e fóruns. A ideia é que você tem um trabalho de campo, uma situação muito concreta, e você tem que ler uma história material relacionada com a evidência, e esse trabalho que você faz no campo é apresentado em um fórum, ou ele gera o próprio fórum, porque há evidências para a qual não se tem a corte, e é preciso que essa corte ou espaço público sejam gerados. Um dos potenciais políticos da arquitetura forense é justamente a possibilidade de você mobilizar uma espécie de aliança sobre aquilo que está sendo exposto. O fórum pode ser jurídico, de associações civis, internacional, de movimentos sociais, e ele catalisa uma espécie de discussão. Entre o campo e o fórum existe o trabalho de investigação que faz a mediação entre esses dois elementos. Existe mais uma metodologia do que elementos, não há algo muito cientificamente definido. Cada caso impõe uma espécie de investigação e abordagem.
Como a arquitetura serviu como dispositivo de violência na ditadura civil-militar no Brasil? Existe continuidade hoje?
Há rupturas e continuidades. É preciso pensar no grande processo modernizador iniciado principalmente com Getúlio Vargas, quando ele lança o discurso de atualização da mitologia bandeirante. O processo radical de modernização acontece na fronteira, e ele tem uma fundamentação colonial. Se você olhar a partir da perspectiva dos povos que habitam ou habitavam essas terras, ele era um processo de violência. Durante o regime militar, esse processo ideológico gerado nesse caldo, com diferentes influências, alinha-se à doutrina de segurança nacional, conforme ela foi elaborada. Havia uma dimensão de conquista do território fundamental para o estado de exceção que foi instalado. Esse planejamento de conquista do território vai se manifestar em diferentes formas materiais, como estradas, hidrelétricas, infraestrutura de telecomunicação, cidades – uma série de cidades que vão surgindo, que são planejadas, cidades enclaves que possibilitavam a extração de recursos materiais de uma maneira rápida e eficiente para o capital global – etc. Nesse sentido, é possível a gente ver uma série de práticas de violação dos direitos humanos dentro do espaço do canteiro. Nas grandes obras da ditadura militar, essa espécie de regime de trabalho do confinamento vai ser acelerado, porque era necessário desenvolver o país. É possível ver a própria forma de algumas cidades, como a Vila Serra do Navio, projetada por Oswaldo Bratke no Amapá para extrair manganês. Ela tinha uma divisão muito clara entre os trabalhadores e aqueles governavam os trabalhadores, reproduzindo uma espécie de padrão casa grande-senzala na escala do urbano.
De alguma forma essas violações se repetem com Belo Monte, por exemplo?
O projeto de Belo Monte foi barrado pelo movimento Xingu em 1989. Altamira era um grande palco da reabertura democrática brasileira e havia uma resistência a esse tipo de projeto, a esse tipo de arquitetura, justamente porque ela causava uma espécie de transformação ambiental que era letal para aquelas pessoas, para aquele modo de vida. É isso o que a gente vê hoje em Belo Monte. Você eliminar os lugares de desova de peixe, secar o rio, desmatar, toda essa alteração trazida com a arquitetura de Belo Monte no território transforma uma ecologia que não é só ambiental, mas também social. E no limite, ele leva esse modo de vida a ser eliminado. Durante o regime militar, esse modo de vida que escapava à noção do desenvolvimentismo nacional que eles quiseram implementar era percebido como um inimigo do Estado, e deveria ser eliminada, dentro da doutrina de segurança nacional.
Então há continuidade?
Há continuidades, e é possível falar isso em relação a Belo Monte e em relação a uma série de grandes obras e infraestruturas que foram implementadas. A gente pode dizer que esse padrão de violação e a maneira pela qual esse planejamento era instalado, se repete. Se repete primeiro porque esses canteiros são controlados por forças policiais. Nessas situações de isolamento, onde você tem muita gente junta, a maioria homem, seja segurança privada ou mesmo a Força Nacional exercem um policiamento. Há uma espécie de suspensão de direitos que acontece nesses canteiros. Tem uma entrevista de um trabalhador de Belo Monte em que ele diz que o problema na obra não era só que não tinham boas condições de trabalho, mas que estavam trabalhando à base de cassetete e enfrentando cárcere privado. Ou seja, havia uma repressão ao nível dos corpos que era necessária para extrair um mais poder para que o canteiro funcionasse. Esse trabalhador também comenta que a companhia tinha o poder de controlar o acesso à internet dos trabalhadores, e que toda vez que havia uma greve eles cortavam a internet, de modo a impedir que os trabalhadores se mobilizassem. Esses modos de opressão também passam por essas novas formas de poder. Belo Monte foi implementada sob uma espécie de estado de exceção, sob uma série de formas de policiamento que foram implementadas, e também gerou essa violação de direitos por meio da destruição desses territórios ambientais e sociais de quem estava lá, os povos indígenas e ribeirinhos. Nesse sentido há uma continuidade com o projeto do regime militar. 7
A arquitetura forense consegue antecipar cenários de violações antes que se instalem por meio de evidências de padrões?
Definitivamente. Não só em um conflito que está dado, onde há uma situação de litígio, mas também onde não há uma situação oficial de litígio, mas há um movimento ou articulação para que se conte o que aconteceu, que se exponha os que violaram. Em toda investigação de violação dos direitos humanos existe uma dimensão que se centra no futuro: prevenir que isso se repita. Na própria ideia do “nunca mais”, “ditadura nunca mais”, no contexto latinoamericano, há uma dimensão do futuro, e isso está muito relacionado com a ideia de padrões. O exame de eventos isolados às vezes não permite que se tenha uma inteligibilidade de certos processos. Por exemplo, se você vê uma execução ela aparece como um assassinato isolado, mas se você olha no contexto de execuções que foram perpetradas durante os regimes latinoamericanos você tem um crime contra a humanidade. Certos tipos de padrão permitem que você entenda as relações macro. Nesse sentido, o canteiro é uma situação que talvez só o padrão permite identificar que aquilo é um processo de violação de direitos humanos que é central na extração da mais valia, de mais poder.
De que maneira a arquitetura como forma de evidência poderia mostrar que esse modus operandi no canteiro é trabalho análogo ao escravo?
Isso é um projeto a se fazer. É preciso pegar um caso específico e pensar quais os elementos com os quais trabalhar e que poderiam evidenciar que na verdade existe um padrão sistêmico de violação de direitos, mas que é camuflado pelo próprio processo de naturalização. Teria que fazer uma análise espacial de toda essa história, entender como esses processos se operam no tempo e no espaço. É uma espécie de política do regime do visível. Você está dizendo ‘olha, os processos estão tão naturalizados que aparecem como trabalho, mas na verdade são um processo análogo à escravidão, um processo de violação contínuo, espalhado no tempo, que vai afetar o trabalhador, que vai reduzir a expectativa de vida dele’. Primeiro eu tentaria entender o que é o trabalho análogo ao escravo. Depois buscaria os laboratórios de ergonomia ou que lidam com as questões laborais, tentaria ver a ciência, a ciência médica, por exemplo. Outro campo interessante seria entender quais as patologias do trabalho, o que esse tipo de sobre-esforço gera como patologia. Talvez seja nessa espécie de radiografia, de registro do corpo, que esse padrão pode ser identificado. Eu exploraria o campo da medicina do trabalho, mas tentando entendê-lo espacialmente. Todo caso que a gente pega impõe um problema metodológico. Eu imagino que tempo de trabalho estaria envolvido nisso. O que eu percebi em Belo Monte é que existe todo um regulamento do tempo da vida. São controles muito rígidos que acontecem sob coerção, veladas ou não – é importante evidenciar as coerções também.
O trabalho no canteiro é um campo passível de ser investigado pela arquitetura forense então?
A questão do canteiro é clássica no sentido da sua importância para pensar a arquitetura. Além do clássico conflito capital-trabalho e condições de exploração, existe uma ideia de Estado de exceção que precisa funcionar. Brasília é o grande exemplo. Aquele canteiro aconteceu com suas próprias leis, com sua própria força policial. A Copa do Mundo precisou de uma série de decretos de emergência para que fosse construída. Ou seja: [esses canteiros] operam sob um regime em que tanto os direitos da natureza quanto humanos precisam ser diminuídos ou violados. Isso é muito interessante de trabalhar: o canteiro como um espaço onde a exceção é a regra.
Pontos sensíveis do canteiro
Entre janeiro de 2014 e dezembro de 2016, o Ministério Público do Trabalho de São Paulo firmou 53 TACs com empresas de diversos setores econômicos que violavam normas do meio ambiente de trabalho capazes de afetar a saúde e segurança do trabalhador. Desse total, 11 autuações eram de empresas da construção civil. No mesmo período, foram celebrados 59 TACs relativos a trabalho análogo ao escravo, dos quais 6 estavam no setor da construção. A reportagem teve acesso ao conteúdo integral de cinco TACs de empreiteiras, construtoras e incorporadoras – três de Trabalho escravo e dois de meio ambiente de trabalho. Os documentos relatam violações que se repetem entre as diferentes empresas das Normas Regulamentadoras 9 (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e 18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Refeitórios sujos e insuficientes para todos os trabalhadores, sanitários sem higiene ou infraestrutura, falta de treinamento dos funcionários, de registro em carteira, de pagamento, jornadas ampliadas acima do limite legal e até não fornecimento de água potável, filtrada e fresca foram violações registradas. Com base nesses documentos, em entrevistas com trabalhadores e com a equipe do Sintracon-SP, elaboramos uma breve lista com alguns dos pontos do canteiro de obras que podem oferecer mais risco aos operários.
Bandejas de proteção
Instaladas no entorno da edificação, circundando-a, servem para proteger o operário na eventualidade de queda de objetos dos patamares acima. Bandejas quebradas ou faltantes oferecem risco.
Guarda-corpo
Estrutura metálica instalada rente às bordas do edifício para evitar a queda dos operários.
Cinto de segurança e linha de vida
Complementares ao guarda-corpo, devem ser usados pelos operários que trabalham em altura – atividades executadas acima de 2 metros do nível inferior e que representem risco de queda, de acordo com a Norma Regulamentadora 35 (NR 35) estabelecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O operário, usando o cinto de segurança, prende-se por meio dele a um cabo de aço instalado, em geral, nas bordas do edifício. Ainda de acordo com a NR 35, o operário que trabalhar em altura deve ser capacitado para tal, com treinamento teórico e prático de no mínimo 8 horas renovado a cada dois anos. É obrigação do empregador oferecer a capacitação.
EPI (Equipamento de Proteção Individual)
Capacetes, botas, roupas especiais, protetor auditivo tipo plug ou concha, máscara para poeira, máscara para produtos químicos, viseira de proteção, óculos de proteção, luvas de raspa ou de látex. Todos esses itens são EPIs e devem ser fornecidos pela empresa ao funcionário dependendo da função exercida por este. Embora não seja EPI, o protetor solar também é um item importante de segurança para proteger o trabalhador da exposição ao sol.
Maquinários perigosos
Maquinários perigosos, como serras circulares instaladas em bancadas, quando não estão sendo usados, devem ter suas partes cortantes ou perfurantes protegidas, além de estarem em um espaço que possa ser trancado com cadeado e com um funcionário responsável identificado.
Andaimes e escadas
A montagem dos diferentes tipos de andaimes e escadas que auxiliam nas atividades em altura devem obedecer a normas de segurança específicas contempladas na Norma Regulamentadora 18 do MTE. A montagem de algumas dessas estruturas, como o andaime fachadeiro, deve ser precedida por projeto elaborado por um profissional legalmente habilitado. Não são incomuns quedas de operários de escadas e andaimes precariamente instalados.
Limpeza da obra
Descartes de madeira, pregos, terra, areia, telhas e outros objetos formando entulhos devem ser retirados da obra a fim de facilitar a circulação dos operários e garantir sua segurança em eventuais quedas, cortes e contato com objetos enferrujados.
Técnico de segurança
É importante ter um técnico de segurança visitando a obra com frequência, tanto para orientar os operários quanto estimulá-los no uso de EPIs e na prática segura do trabalho no canteiro.
Operação de maquinário
Na operação de maquinário, como gruas, tratores e elevadores cremalheira, apenas trabalhadores qualificados e treinados podem trabalhar com esses equipamentos, e devem ser identificados como os responsáveis pela operação.
Notas de Rodapé
- OLIVEIRA, Melissa Ronconi de. O mercado de trabalho na Construção Civil: o subsetor da Construção de Edifícios durante a retomada do financiamento habitacional nos anos 2000.
- SHIMBO, Lúcia. Sobre os capitais que produzem habitação no Brasil. In: Novos Estudos. CEBRAP. São Paulo. V35.02. Julho 2016.
- FILGUEIRAS, Vitor Araújo. Terceirização e acidentes de trabalho na construção civil. In: Saúde e segurança do trabalho na construção civil brasileira. Aracajú: J. Andrade, 2015b.
- https://ct.escoladacidade.edu.br/contracondutas/reportagens/trabalho-escravo-nas-obras-do-aeroporto-de-guarulhos/
- SOUZA, Ilan Fonseca de. Estratégias de enfrentamento às irregularidades trabalhistas no setor da construção civil: Ministério Público do Trabalho. In: Saúde e segurança do trabalho na construção civil brasileira. Aracajú: J. Andrade, 2015.
- http://www.forensic-architecture.org/
- https://www.youtube.com/watch?v=XcmcO7KkkiQ