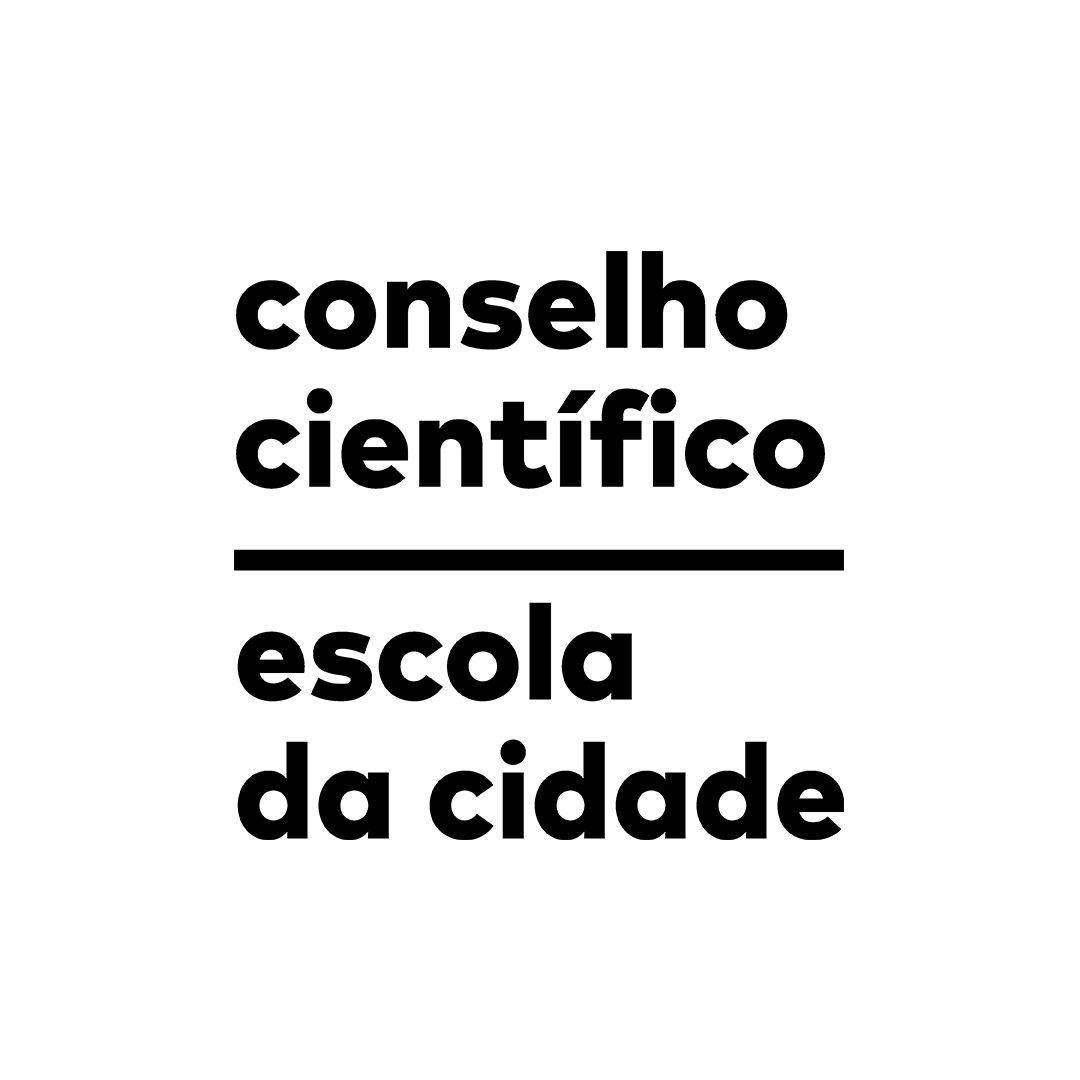Diversos especialistas em teoria política apontam que, a partir da segunda metade do século XX, com o fortalecimento e a diversificação dos movimentos sociais que ocorreram na maior parte dos países ocidentais, a democracia entrou numa nova fase – considerada pós-representativa, monitória ou simplesmente participativa. John Keane1 ressalta que este processo de transição ainda está em curso e afirma que esta nova variedade política se define pelo rápido crescimento de diferentes mecanismos voltados para o exercício do controle social, colocando governos em permanente alerta, na medida em que questionam sua autoridade e os forçam a mudar suas agendas.
Este momento de inflexão coincide, nos campos da arquitetura e do urbanismo, com os primeiros sinais de crise do movimento moderno. Após a generalização de princípios como racionalidade, funcionalidade e padronização – articulados em escala mundial pelos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna, os CIAMs –, os campos da arquitetura e do urbanismo se apresentavam como metáforas da própria modernidade. No entanto, os complexos processos sociais e a densidade histórica e cultural das comunidades afetadas por suas intervenções escapavam aos princípios supostamente universais que orientavam as ações de arquitetos e urbanistas. O desgaste provocado por este descompasso contribuiu para a emergência uma verdadeira crítica antimoderna nos anos 602.
Destacam-se como atores relevantes deste debate o arquiteto austríaco Friedensreich Hundertwasser, com seu Manifesto do Mofo contra o Racionalismo na Arquitetura, publicado em 19583; o grupo de artistas, pensadores e ativistas da Internacional Situacionista, que acusavam o urbanismo moderno de “criminoso”4; a jornalista norte-americana Jane Jacobs, que publicou seu clássico The life and death of great american cities5 em 1961; o arquiteto holandês John Habraken, que propôs como resposta à alienação promovida pelas soluções de habitação em massa a separação dos “suportes”, ou “prédio-base”, do “preenchimento interno” da construção6; o arquiteto austríaco Bernard Rudofsky, que defendeu a produção de uma “arquitetura sem arquitetos” – termo utilizado como título da exposição realizada por ele em 1964 no MoMA7; o arquiteto e matemático Christopher Alexander, que faz uma crítica frontal ao “modo moderno de pensar e produzir cidades” no artigo A city is not a tree8, publicado em 1965; assim como o teórico do planejamento Paul Davidoff, que publicou em 1965 o clássico artigo Advocacy and Pluralism in Planning, onde rejeitou a suposta “neutralidade técnica” defendida até então e conclamou os planejadores a engajarem-se politicamente na defesa dos interesses de populações ou comunidades menos favorecidas.
Em diálogo com este enorme debate, muitas experiências críticas ou alternativas ao movimento moderno – baseadas na busca por uma arquitetura produzida a partir de relações menos verticais entre arquitetos, construtores e usuários – foram colocadas em prática ao longo dos anos 60 e 70, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos9.
No Brasil, o contexto era um pouco diferente. Enquanto no final dos anos 50 já se decretava a falência dos CIAMs10, o país vivia um momento de grande otimismo com as promessas da arquitetura e do urbanismo modernos. Brasília estava sendo construída e a descrença ou resistência de alguns setores do país em relação à construção da nova capital era enfrentada por Juscelino Kubitschek por meio de uma vigorosa campanha de divulgação que incluía a realização de exposições de maquetes, palestras e conferências sobre os projetos para a cidade, uma intensa cobertura do andamento dos trabalhos de construção iniciados em 1956 e uma agenda de visitas ilustres aos canteiros de obras – que incluiu nomes como Dwight Eisenhower (então presidente dos Estados Unidos), Fidel Castro, André Malraux e Mies van der Rohe11.
Como destaca Guilherme Wisnik12, a produção arquitetônica brasileira daquele momento era “marcada por uma adesão quase consensual aos princípios éticos e formais da arquitetura e do urbanismo modernos”, o que continuaria a ser verdade nos anos posteriores à inauguração da nova capital. Nesse contexto de entusiasmo com o modernismo, o intenso debate ocorrido no âmbito internacional ao longo dos anos 60 – centrado principalmente na crítica à produção de soluções em massa, à alienação promovida pelos processos construtivos e à separação radical entre projeto, construção e uso – passou praticamente despercebido no Brasil.
Houve, no entanto, pelo menos três exceções que merecem ser destacadas: Cajueiro Seco, em Recife (1960-64) – provavelmente a primeira “experiência participativa” no âmbito da arquitetura e do urbanismo a ser realizada no país13 –; a pioneira urbanização da favela de Brás de Pina (1964-1971)14, no Rio de Janeiro, realizada pelo antropoteto15 Carlos Nelson Ferreira dos Santos; e, por fim, as experiências do grupo Arquitetura Nova16(realizadas entre o final dos anos 60 e início dos anos 80), que buscaram repensar radicalmente o canteiro de obras.
Embora guardem profundas diferenças entre si, a experiência de Acácio Gil Borsoi em Cajueiro Seco, a de Carlos Nelson Ferreira dos Santos em Brás de Pina e a dos arquitetos do grupo Arquitetura Nova nas várias casas que construíram em São Paulo se equiparam na distância que tomaram em relação ao modus operandi da arquitetura e do urbanismo modernos.
Enquanto em Cajueiro Seco e em Brás de Pina o foco estava colocado na experimentação de um diálogo a respeito da concepção do projeto das moradias ou do plano de urbanização – e a produção se viabilizava a partir da racionalização de soluções vernáculas como a taipa de pilão ou através da própria autoconstrução assistida pelos arquitetos –, nas casas do grupo Arquitetura Nova, o interesse estava colocado no diálogo com os construtores em torno de uma técnica que, como ressalta Pedro Fiori Arantes17, procurava se distanciar “tanto do paradigma industrial moderno e de seus cânones como também das propostas baseadas no ‘popular’ e no ‘vernacular’, as quais, segundo eles, seriam saídas regressivas e populistas para o impasse do subdesenvolvimento”.
Outro aspecto importante a ser considerado em relação a estas três experiências críticas ou alternativas pioneiras, é que, enquanto Acácio Gil Borsoi e Carlos Nelson Ferreira dos Santos dialogavam diretamente com a crítica antimoderna colocada no âmbito internacional18, no caso do grupo Arquitetura Nova, o único diálogo evidente era com o mestre João Vilanova Artigas e se dava nos termos de um intenso debate entre a crença de Artigas na ação pelo desenho – vinculada diretamente à sua perspectiva otimista em relação ao desenvolvimento das forças produtivas do país – versus a crença do grupo Arquitetura Nova no canteiro como local de experimentação de novas relações de produção (a partir da crítica ao desenho por conta do seu compromisso com a exploração do trabalho).
Embora significativas, nenhuma destas experiências poderia ir muito longe num contexto tão adverso como o da ditadura militar brasileira, absolutamente desfavorável para questionamentos a respeito das formas de produção ou mesmo em relação ao papel “autoritário” dos arquitetos – mote da crítica antimoderna dos anos 60. A experiência de Cajueiro Seco foi encerrada logo depois do golpe, enquanto os arquitetos do Grupo Arquitetura Nova conheceram a pior face do regime, tendo sido presos e torturados19.
Notas de Rodapé
- Ver KEANE, John. Vida e morte da democracia. São Paulo: Edições 70, 2010. p. 617-620
- Como aponta David Harvey, o próprio sucesso das pretensões universais da modernidade – quando combinadas com o capitalismo liberal e o imperialismo – forneceram, no bojo dos movimentos contraculturais que culminaram no maio de 1968, “fundamento material e político para um movimento de resistência cosmopolita, transnacional e portanto, global, à hegemonia da alta cultura modernista”. Ver HARVEY, David. (1989). Condição pós-moderna. São Paulo: Edições Loyola, 2010. p. 44.
- Neste texto, o austríaco Hundertwasser faz uma dura crítica ao funcionalismo e aos enormes conjuntos habitacionais propostos pelos arquitetos modernos em função da ausência de participação dos usuários no processo de configuração da forma: “O princípio das favelas – isto é, de uma arquitetura de proliferação anárquica – é que deve ser melhorado e tomado como ponto de partida, e não uma arquitetura funcional. […] Um homem em seu apartamento deve ter a possibilidade de debruçar-se na janela e arrancar a alvenaria com as próprias mãos. Ele deve ter o direito de pintar tudo que alcança com cor-de-rosa, com um longo pincel, a fim de que as pessoas de longe possam ver da rua: um homem mora no que o difere de seus vizinhos, isto é, os que aceitam o que lhes é dado. Ele deve igualmente poder fazer buracos nas paredes e empreender todo tipo de trabalho, mesmo se a suposta harmonia arquitetônica de um imóvel é destruída. […] É somente quando o arquiteto, o pedreiro e o ocupante formam uma unidade, isto é, quando se trata da mesma pessoa, podemos falar em arquitetura. Todo o resto não é de modo algum arquitetura, mas a encarnação física de um ato criminoso. Arquiteto, pedreiro e ocupante são uma trindade como o pai, o filho e o espírito santo”. Ver HUNDERTWASSER, Friedensreich. (1958). Manifesto do mofo contra o racionalismo na Arquitetura, in MUTHESIUS, Angelika. Hundertwasser Architecture: for a more human architecture in harmony with nature. Alemanha: Taschen, 1997.
- Os situacionistas foram um dos primeiros grupos a criticar de forma radical o movimento moderno, mas não chegaram a propor – como o fez Hundertwasser – modelos alternativos ou novas formas urbanas que viabilizassem a participação. Raul Vaneigem, membro do grupo, chega a afirmar, no texto Comentários contra o Urbanismo, publicado em 1961: “Se o planejador não pode conhecer as motivações comportamentais daqueles a quem vai proporcionar moradia nas melhores condições de equilíbrio nervoso, mais vale integrar desde já o urbanismo no centro das pesquisas criminológicas”. Ver VANEIGEM, Paul. (1961). Comentários contra o Urbanismo, In: BERENSTEIN JACQUES, Paola (org.). Apologia da deriva. Rio de Janeiro, Casa da Palavra, 2003. p. 153.
- Em seu livro, Jane Jacobs combate os ditames modernos de grandes áreas verdes e edifícios isolados, assim como o zoneamento de funções e a segregação entre a circulação de pedestres e veículos. Ela propõe que se retome a observação das cidades reais que os planejadores modernos ignoravam e defende a diversidade dos usos de forma mais complexa e densa.
- O propósito dessa separação seria oferecer aos habitantes as condições de possibilidade para que estes exerçam seu papel no processo de configuração do desenho final. Na “cidade-suporte” proposta por Habraken, a participação deveria ser não apenas importante, mas indispensável. Segundo ele, toda a responsabilidade em relação ao espaço cabe a seus habitantes. São as suas ações, portanto, que irão determinar diretamente todas as mudanças na cidade-suporte, que dessa forma não precisaria “aguardar passivamente sua decadência, podendo constantemente assumir novas formas diante de novas circunstâncias”. Ver HABRAKEN, John. (1961). Supports: an alternative to mass housing. Reino Unido: Urban International Press, 2011. p. 93
- Realizada pouco mais de trinta anos após a exposição do Estilo Internacional, Architecture without architects aconteceu quase como uma contra-exposição. Bernard Rudofsky apresentou em grandes fotografias em preto e branco um amplo panorama de uma arquitetura “sem pedigree”. No texto do catálogo, ele justifica os propósitos da exposição: “Na história ortodoxa da arquitetura, a ênfase está colocada no trabalho individual do arquiteto; aqui o que nos importa é o empreendimento comunitário. Pietro Belluschi definiu arquitetura comunitária como ‘uma arte comunitária, produzida não por alguns intelectuais ou especialistas, mas pela atividade espontânea e contínua de todo um povo com uma herança comum, atuando a partir da experiência da comunidade’. Precisamos nos questionar se esta arte comunitária não pode ter lugar em nossa civilização vulgar, mas ainda assim, a lição a ser aprendida a partir desta arquitetura não pode ser completamente esquecida. […] Temos muito que aprender disto que foi a arquitetura antes de se tornar uma arte de especialistas. Em particular, com os construtores autodidatas, que sabem (no tempo e no espaço) adaptar com notável talento suas construções ao ambiente”. Ver RUDOFSKY, Bernard. Architecture without architects: catálogo. The Museum of Modern Art. 2ª Edição. Nova Iorque: Connecticut Printers, 1965.
- Para Christopher Alexander, os arquitetos modernos substituíram o sistema de semi-trama – próprio das “cidades naturais” – por um sistema extremamente hierarquizado e menos complexo, definido por ele como “estrutura em árvore”. Dessa forma, as “cidades artificiais”, planejadas pelos projetistas modernos acabaram se tornando incapazes de atuarem como “receptáculos para a vida”. Ver RUDOFSKY, Bernard. Architecture without architects: catálogo. The Museum of Modern Art. 2ª Edição. Nova Iorque: Connecticut Printers, 1965.
- Não nos cabe, para o propósito deste texto, tecer maiores considerações sobre elas, mas é importante ressaltar a existência de uma grande diversidade de abordagens, que apontavam tanto para a defesa da autonomia dos usuários quanto para experiências de mediação, em maior ou menor grau, entre o saber técnico dos arquitetos e urbanistas e os desejos dos futuros usuários. Essa duas vertentes, por sua vez, se inclinavam tanto para um retorno ao vernacular – o caso tanto de Hundertwasser e John Turner, que saíram em defesa da autonomia absoluta do usuário, quanto de Hassan Fathy, que procurava adequar seus projetos às necessidades dos aldeões com quem trabalhava diretamente em zonas rurais do Egito – quanto para uma certa exacerbação tecnológica – a exemplo do Fun Palace de Cedric Price, complexo de educação e entretenimento baseado na participação dos usuários, que chegariam a interferir em sua organização espacial; da Plug-in City do Grupo Archigram, na qual os usuários poderiam optar livremente por cápsulas pré-fabricadas que seriam plugadas nos elementos estruturais fixos; e mesmo da Flatwriter imaginada por Yona Friedman – máquina que permitiria ao usuário projetar seu próprio apartamento.
- As críticas ao CIAM foram lideradas por um grupo de jovens arquitetos que passou a ser chamado de Team X. Eles receberam este nome porque ficaram encarregados de organizar o décimo congresso – o CIAM X, que ocorreu em 1953 na cidade francesa de Aix-en-Provence –, na perspectiva de formular uma Carta do Habitat, em contraponto direto à Carta de Atenas. Mais adiante, esse desejo se mostrou inviável, já que a formulação desta carta acabaria levando-os a cair na armadilha de estabelecer receitas e modelos homogeneizadores, tais como os da Carta de Atenas. Em 1959, houve um novo encontro convocado sob o título de “CIAM”. No final deste congresso, realizado na cidade de Otterlo (Holanda), foi decretado o fim dos CIAMs.
- Ver KIM, Lina; WESLEY, Michael (orgs). Arquivo Brasília. São Paulo: Cosac Naify, 2010. p. 28-51
- Ver WISNIK, Guilherme. Brasília 50 anos: trilha torta por linhas certas, in: BRAGA, Milton. O concurso de Brasília: sete projetos para uma capital. São Paulo: Cosac Naify, 2010. p. 7
- Ver SOUZA, Diego Beja Inglez de. Reconstruindo Cajueiro Seco: arquitetura, política social e cultura popular em Pernambuco (1960-64). São Paulo: Annablume, 2010.
- Ver OLIVIERI, Silvana Lamenha Lins. Quando o cinema vira urbanismo: o documentário como ferramenta de abordagem da cidade. Dissertação de mestrado. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia – PPGAU UFBA, Salvador, 2007. p.138-171
- Termo pelo qual o próprio Carlos Nelson Ferreira dos Santos se definia, na medida em que procurava atuar simultaneamente como arquiteto e antropólogo.
- Grupo formado por Sérgio Ferro, Flávio Império e Rodrigo Lefèvre. O termo “Arquitetura Nova” foi adotado tardiamente, num depoimento dado por Ferro à coletânea Maria Antônia, uma rua na contramão, organizada por Maria Cecília Loschiavo dos Santos (São Paulo: Nobel, 1988).
- Ver ARANTES, Pedro. Reinventando o canteiro de obras, in: ANDREOLI, Elisabetta; FORTY, Adrian (orgs). Arquitetura Moderna Brasileira. Hong Kong: Phaidon, 2004. p. 181.
- Acácio Gil Borsoi chegou a apresentar a experiência de Cajueiro Seco no Congresso da União Internacional dos Arquitetos – UIA realizado em Havana em 1963. Carlos Nelson Ferreira dos Santos, por sua vez, foi claramente influenciado pelo pensamento do inglês John Turner, que visitou o Rio de Janeiro em 1968, quando declarou, a respeito das favelas brasileiras: “Mostraram-me soluções que são problemas e problemas que são soluções” – frase que acabou se transformando numa espécie de slogan contra a erradicação de favelas.
- Já em 1964, Rodrigo Lefèvre e Sérgio Ferro foram interrogados pelos militares na própria sala em que ensinavam na FAU USP. Acabaram sendo presos seis anos depois (em dezembro de 1970) pela Operação Bandeirantes – OBAN. Ficaram um ano sob custódia do regime militar, período em que foram barbaramente torturados. Ferro partiu para o exílio em 1972, enquanto Lefèvre acabou sendo reintegrado ao corpo de professores da FAU USP depois de mover um processo na Justiça contra a Universidade. Ver FERRO, Sérgio. A FAU USP e a Ditadura Militar. Disponível em: <http://blogdaboitempo.com.br/2015/06/23/a-fau-usp-e-a-ditadura-militar/>. Acesso em: 20/10/2016.