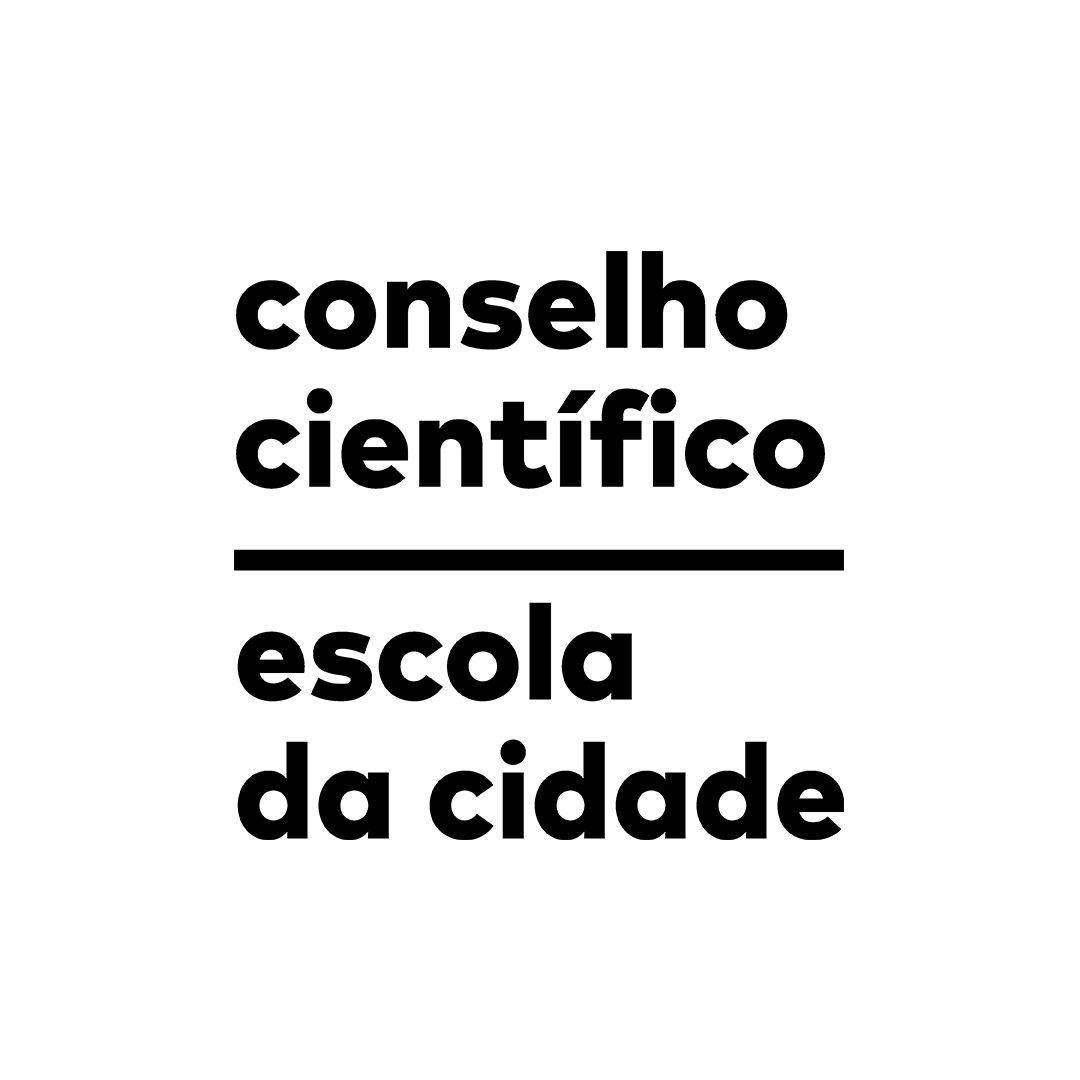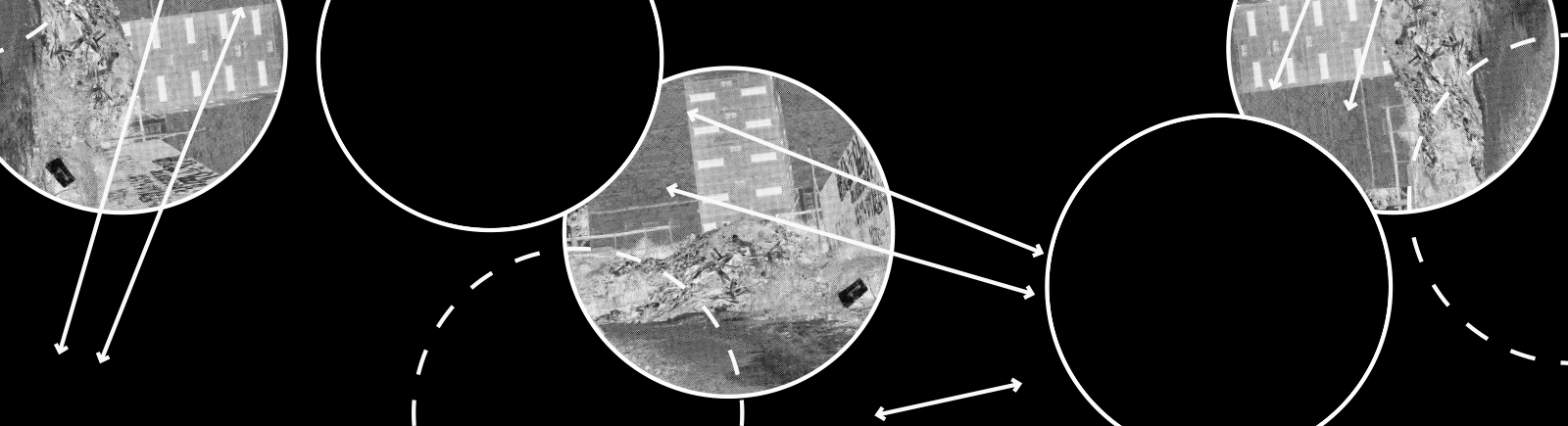
As três últimas palestras do CONTRA Seminário Internacional CONDUTAS são a chave para se entender todo o percorrido ao longo da semana. Ao mesmo tempo em que encerraram o evento, deram seguimento para os questionamentos dos principais paradoxos da modernização tardia do país, longe de serem superados. Como num círculo, os temas tratados nos trazem de volta ao primeiro dia e nos possibilitam reavaliar todas as palestras do seminário sobre outras perspectivas.
Realizadas no SESC Campo Limpo as falas ganharam contornos interessantes. De início a unidade foi projetada para ser uma estrutura temporária que abrigaria uma singela aproximação da instituição àquele bairro periférico da cidade de São Paulo e carente de espaços públicos formalizados. Estudos do edifício foram encomendados para a Escola da Cidade, que desenvolveu os desenhos e a pesquisa de forma coletiva entre os alunos e professores, chegando a resultados interessantes do fazer arquitetônico, fora da lógica mercadológica estrita. Mas pelo costume, instituição e moradores, se apropriaram do espaço construído pelo acúmulo das pequenas soluções que iam resolvendo o dia a dia e, desprovida das formalidades das unidades mais centrais, o edifício se tornou um catalisador de relações potente, retomando um viés sumido na burocratização do programa do SESC.
Se a ausência de paredes permitia a palestra acontecer sem a utilização de ar-condicionado, a falta de acústica do espaço coberto só era vencida com a utilização de duas grandes caixas de som. Os freqüentadores cotidianos daquele SESC, na maioria jovens, acompanhavam a fala dos palestrantes, sentados do lado de fora do pavilhão-barracão, talvez para aproveitar o sol, ou porque aqueles forasteiros haviam tomado os melhores lugares. Naquele espaço misturado à comedoria, onde era possível beber um café e fumar um cigarro sem se deslocar para fora do local, estavam explícitas tanto as contradições e ambigüidades de nossas infraestruturas quanto as respostas pouco ortodoxas possíveis.
Essa bricolage de elementos projetados, que guardava o espaço para a unidade definitiva, paulatinamente foi ganhando lugar no imaginário e nos usos. Posto tudo abaixo seria possível retomar o resultado já obtido com um novo edifício? Necessário que, se não o mesmo, algo análogo deveria nortear o projeto.
É nessa tensão entre o esforço modernizador e a pré-existência que encontramos algumas reverberações na palestra de Karina Leitão. O que fica claro na Usina de Belo Monte – e em outras grandes obras de infraestrutura – é que na prevalência dos fatores financeiros e desenvolvimentistas, pouco sobra espaço para essa reflexão dos múltiplos modos de ocupação do território já existentes. A associação do capital privado e o poder estatal se satisfazem com meios projetos que atendam tão somente as suas demandas. Ao modo de vida anfíbia dos ribeirinhos, com suas casas de seca e casas de chuva, resta se enquadrar nos grandes modelos habitacionais que se impõe ao país, de norte a sul, a fim de fechar a conta. Quando a lógica é de se manter os níveis de consumo, o modelo industrial ainda é o mais rentável. Na necessidade de se estabelecer uma visão totalizante do território, esses inúmeros pequenos fragmentos escapam. E num país de dimensões continentais eles são muitos.
A outra dimensão dessa discussão, abordada por Paulo Tavares, foi a do binômio povos indígenas e natureza. No trabalho desenvolvido para o Ministério Público, as fotos de satélite da floresta amazônica apresentadas seriam como outras quaisquer conseguidas através do Google Maps. Mas quando submetidas a um software que mede o consumo de carbono, revelavam uma rede de caminhos conectando nós luminosos na mata. Pela diferença biológica das árvores novas e velhas, uma natureza virgem mítica dá lugar a uma urbe móvel pré-colonial que se estendia por todo o território. Essa contracartografia derruba dois mitos de uma só vez. Primeiro o dos povos précolombianos que não construíam cidades, depois o da floresta intocada. Estudados os locais dessas ruínas, revelou-se que seus núcleos continham mais biodiversidade do que o resto da mata. Um projeto executado em longo prazo que aos poucos some sem tomarmos total conhecimento de sua existência.
Contraposto ao termo indígena, o alienígena. Rodrigo Bonciani discorreu sobre a efetividade do termo escravidão para se entender um longo período da história econômica e política brasileira, que não termina com a promulgação da Lei Áurea, em 1888, e ainda tem reflexos nos dias de hoje. Definida pelo palestrante como uma forma de violência potencial, corporal e/ou memorial, a escravidão de ontem e de hoje pode ser entendida pelos rompimentos do espaço e do tempo. O deslocamento das etnias africanas para a colônia, ou dos nordestinos para Guarulhos, tem o efeito de embaralhar seus signos conhecidos e de enfraquecer a sua identidade, ao mesmo tempo em que lhes impõe outra. A desterritorialização forçada rompe a história no momento que nega a ascendência desses povos, homogeneizados pelo ajuntamento, e controla a descendência através da alienação de sua autonomia sexual e reprodutiva. Delimitar a escravidão a um ciclo econômico tem dois efeitos: primeiro, dá a entender que todas as relações de trabalho eram entre senhores e escravos, ao passo que já se sabe que eram mais complexas e, em menor quantidade, também havia trabalhadores livres ou assalariados; de outra maneira, pretende-se estancar essa prática circunscrita àquele período, algo superado no passado distante. Setenta e dois anos é o que separa a abolição da escravatura da inauguração de Brasília. Levaram-se cento e quinze para a tipificação do trabalho análogo a escravidão pela legislação brasileira.
Segundo Bonciani, a anistia é nosso crime mais recorrente. Com origem no latim, a palavra vem de amnésia, o esquecimento. Esquecimento daquilo que fizemos e deveríamos lembrar, esquecimento do que não conhecemos e fazemos questão de apagar.