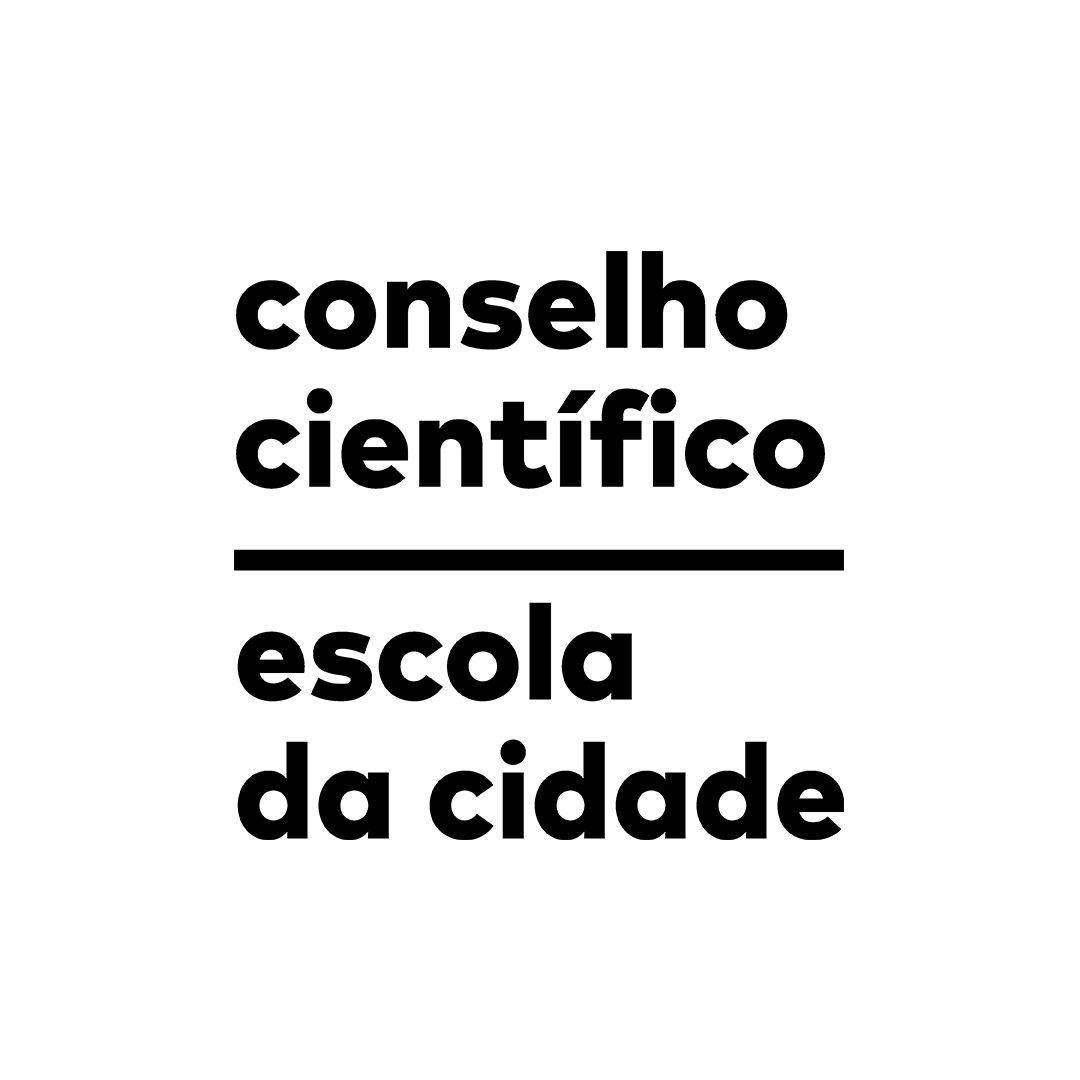Ainda são raros os casos, sobretudo no Brasil, de historiadores da arte e curadores que desviem os seus olhares das “origens” da modernidade da França no segundo Império, da Inglaterra vitoriana ou da Alemanha guilhermina. As usuais narrativas sobre o modernismo nas artes evocam constantemente a relação entre a ruptura com as formas tradicionais de representação herdadas do ensino acadêmico com uma experiência moderna vivida nas grandes capitais industriais européias. A experiência da deriva pela metrópole moderna foi muitas vezes associada à revolução estética ocorrida na segunda metade do século dezenove, por autores como Baudelaire e Benjamin. O artista moderno deixaria de lado as lições aprendidas nas academias de arte e buscaria expressar as suas impressões dessa nova experiência. Não por acaso as grandes capitais da arte moderna, do impressionismo ao expressionismo, são Paris, Londres e Berlim. Em comparação com a Europa, o Brasil permanecia uma país agrícola ainda na virada para o século vinte. A expansão e urbanização do Rio de Janeiro e a industrialização de São Paulo foram acontecimentos tardios e nesse sentido o nosso modernismo foi visto muitas vezes como uma cópia das rupturas artísticas operadas pelos artistas europeus. A modernidade foi algo experimentado por um grupo de artistas brasileiros em viagens ao exterior e o modernismo artístico foi transmitido em lições tomadas nos ateliês dos artistas europeus ou pelo contato com as obras de arte moderna em exposições e museus. Assim a tese de um modernismo sem modernização seria uma explicação plausível para uma arte moderna realizada fora das grandes capitais européias.
Essa “outra” modernidade é abordada pela pesquisadora Maria Iñigo Clavo no texto Modernidade vs. Epistemodiversidade. No artigo, a autora questiona os diversos prefixos (anti-, pré-, pós-, contra-) utilizados na tentativa de distinguir a perspectiva moderna latino-americana, da ideia de uma modernidade “antropofágica” devorada de um modelo hegemônico europeu, até uma “contra-modernidade” barroca, mágica ou irracional, afirmando que afinal a “insistência em anexar prefixos à modernidade parece revelar a incapacidade do Ocidente de se libertar da noção de modernidade como ponto de referência nos relatos históricos”. Essa reflexão leva a pesquisadora ao questionamento das fronteiras erguidas pela modernidade entre as ciências humanas e naturais, um tema que pode ser encontrado por exemplo no conceito de Animismo, empregado pelo curador Anselm Franke da Haus der Kulturen der Welt, em Berlim, ou na perspectiva antropológica de Viveiros de Castro apresentada em exposição em 2015 no SESC Ipiranga. Ao tomar esses exemplos, Clavo reivindica por fim o papel da arte e também dessas exposições na promoção de uma “epistemodiversidade”, ou seja, na recuperação de formas de conhecimento relegadas pelo racionalismo ocidental.
A mesma reivindicação do potencial critico da arte pode ser feita ao se tratar do seu principal dispositivo de mediação, o museu moderno. Em performance realizada no Museu de Arte Moderna de São Paulo, a artista Clara Ianni assinala a despolitização da arte na contemporaneidade, problematizando a sua autonomia formal e historicização progressista, ao comentar a instalação de museus de arte no Brasil. Se por um lado a criação do MAM apontava para o anseio das elites econômicas e da intelectualidade local pela atualização da nossa arte com os desenvolvimentos do modernismo no pós-guerra e, no contexto mais amplo de modernização da sociedade brasileira, para rompimento com as estruturas sociais do regime colonial e a dependência econômica, por outro, a institucionalização da arte moderna por meio do abstracionismo significou a negligência de uma realidade social e o apaziguamento de conflitos. O rápido processo de industrialização e urbanização das grandes cidades, especialmente São Paulo, e as conquistas formais da arquitetura e da arte moderna no pós-guerra, negligenciaram o trauma cultural resultante da expropriação territorial, material e cultural e o extermínio dos povos sujeitos à escravidão e ao colonialismo. “O insuportável, fruto desses traumas históricos, no entanto, não desaparecia na arte abstrata, mas voltava sim como sintoma, como patologia provocada pela palavra amordaçada, pelo silenciamento forçado”, afirma Ianni. Ao relacionar o dispositivo colonial da Casa Grande como referência para o Museu Moderno, a artista opera um trabalho “arqueológico” de buscar outras genealogias para a modernidade e no limite questionar uma historiografia escrita insistentemente da perspectiva dos colonizadores.

A arquitetura colonial da Casa Grande e dos engenhos também é o ponto de partida adotado pelo professor Roberto Conduru para traçar um percurso por obras e artistas que trazem à tona os efeitos patológicos e persistentes da escravidão na sociedade brasileira. Lugares e situações retratados por artistas europeus no século XIX, como Debret e Rugendas, são cotejados com trabalhos de artistas contemporâneos como Ayrson Heráclito, Rosana Paulino, Caetano Dias, Jaime Lauriano e Carlos Julião. À arquitetura colonial que teria “deformado” a sociedade brasileira escravocrata, o autor contrapõe quilombos, terreiros e a favelas, como espaços de resistência, emancipação e “reformação”. Trata-se de uma análise do fazer artístico que não oculta a realidade social e política e fornece subsídios para se pensar a formação da arte no Brasil de um ponto de vista deslocado, pensando as relações existentes entre a formação de uma visualidade moderna e as marcas deixadas pelo colonialismo. O texto elaborado por Conduru especialmente para o projeto Contracondutas vai o encontro do ponto de partida desta editoria, o ensaio seminal de Rodrigo Naves Debret, o neoclassicismo e a escravidão, um dos casos raros de historiadores que deslocam seus olhares dos centros hegemônicos da arte moderna para as periferias dos sistema colonial.