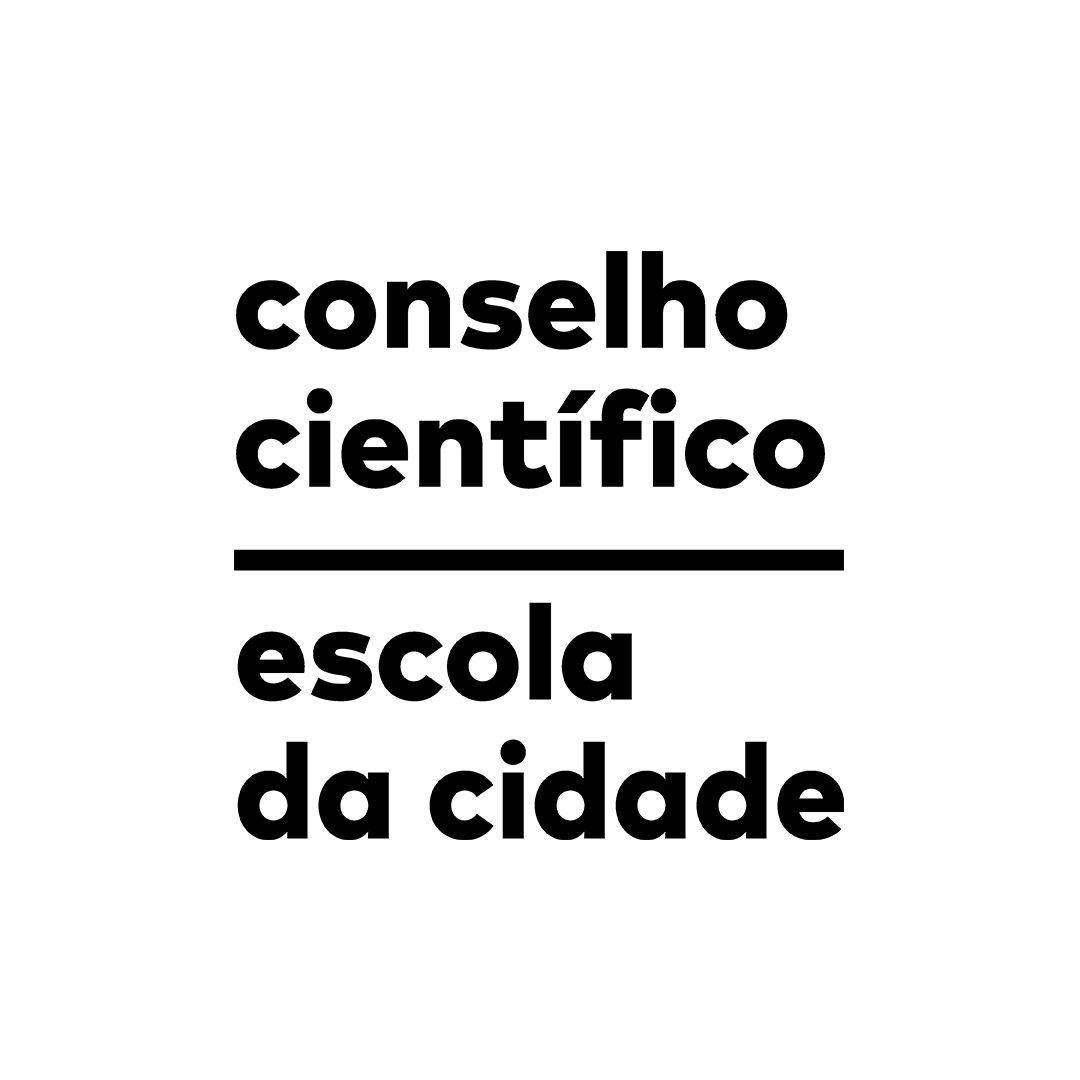Ao questionar os prefixos agregados ao termo moderno para definir a diferença da modernidade do “Sul”, a pesquisadora traça uma genealogia do moderno por meio de referenciais teóricos e curatoriais que levantar uma questão fundamental: a origem da modernidade remete ao Iluminismo Ocidental ou podermos situá-la na fundação de um sistema colonial de expropriação e dominação das Américas?
Este texto foi escrito entre Madrid, Londres, e São Paulo. Estou muito agradecida pelos diferentes olhares e revisões que contribuiram para este texto: Pedro Neves Marques, Raúl Sanchez Cedillo, Lola Garcia, Jessica Loudis, Stephen Squibb, e especialmente Alba Colomo.
Artigo originalmente publicado na E-flux: Modernity vs. Epistemodiversity
Tradução: Mariana Pinho e José Santos, cedida por BUALA.ORG
1. Enfrentando a História: Modernidade como prefixo
É um marco da teoria pós-colonial questionar selectivamente narrativas auto-elogiosas da modernidade europeia. Os teóricos pós-coloniais da Europa e do resto do mundo têm demonstrado como os ideais de emancipação, igualdade, liberdade, e desenvolvimento científico e industrial só foram possíveis através dos seus reversos: exploração colonial, desigualdade, escravatura, tortura, e sofrimento no Sul Global1. É por isso que, durante os anos de 1990, os teóricos sentiram necessidade insistir que o colonialismo fosse outra face da modernidade, o “lado obscuro do Renascimento”, famosamente formulado por Walter Mignolo2.
Enquanto teóricos europeus, nomeadamente Habermas, defenderam que a modernidade começou no final do século XVII com o Iluminismo na Europa do Norte, os teóricos latino-americanos, por exemplo Enrique Dussel, encaram isso como sinal de desprezo pela contribuição histórica de Espanha e Portugal para o pensamento moderno, e como mais um indicador da mentalidade colonial europeia em relação à produção intelectual latino-americana3. Os teóricos pós-coloniais latino-americanos têm, assim, situado o nascimento da modernidade ocidental em 1492 com a “descoberta da América”, que marca o início da história do capitalismo internacional, da globalização, e da sua produção intelectual. Uma vez que o objectivo último é questionar a modernidade, não será contraditório disputar que lado detém a patente? Se os pensadores pós-coloniais ocidentais e da América Latina concordam que a modernidade foi a origem de todos os demónios coloniais, porque se insiste em ser reconhecido como parte deles? Para muitos teóricos, independentemente de quão pós-colonial é o seu trabalho, rejeitar a genealogia do moderno implica negar todo e qualquer mérito daquilo que por muitos é ainda considerado o legado mais precioso e duradouro do Ocidente. Assim chegamos à questão chave: deve a modernidade permanecer uma marca do Ocidente? Porque continuamos a sentir necessidade de nos definirmos nos termos de todos estes prefixos que localizam a modernidade (anti-, pré-,pós-, anti-, contra-) de modo a permanecer na órbita da história ocidental, o sistema planetário que molda o nosso entendimento do mundo e gera os nossos quadros de conhecimento?
Para que são usados os prefixos retidos pela modernidade? De seguida esquematizo o uso dos diferentes prefixos ao longo do tempo, anexados à modernidade no contexto latino-americano, com particular enfoque no Brasil. Tenciono, deste modo, demonstrar a persistência contemporânea dos sintomas epistemológicos associados à concepção imperialista do Sul enquanto versão defeituosa do Norte. Tais prefixos são o resultado da necessidade do Sul contestar, resistir e libertar-se da ideia de um “Sul Imperial”.
Esta insistência em anexar prefixos à modernidade parece revelar a incapacidade do Ocidente de se libertar da noção de modernidade como ponto de referência nos relatos históricos. Mas a que se deve esta incapacidade? Boaventura de Sousa Santos acredita que continuamos a viver com valores modernos – liberdade, igualdade, solidariedade, desenvolvimento, empoderamento, etc. – e, nesse sentido, propõe que se reconceptualize esses valores a partir de uma perspectiva do Sul. Neste texto irei seguir o uso do termo “o Sul” de Santos, que significa não uma localização geográfica mas um lugar de afirmação dos oprimidos4. Da mesma forma, o termo “Norte” irá representar aqui a hegemonia económica e intelectual da Euro-América.
2. Sem Modernidade não há história (da emancipação): a-moderno, anti-moderno
No seu clássico livro Hegel and Haiti, Susan Buck-Morss argumenta que o interesse de Hegel na Revolução Haitiana inspirou a sua precedente obra-prima The Phenomenoly of Spirit (1807)5. Contudo, apesar de Hegel ser contemporâneo à declaração haitiana da independência de França, há poucas evidências de que a dialéctica mestre-escravo fosse entendida em termos coloniais. Tal como a Revolução Francesa, a Revolução Haitiana foi baseada em princípios de igualdade, liberdade, e fraternidade – apenas alargando estes direitos aos escravos.
Nos anos que se seguiram à independência do Haiti em 1804, os governos europeus começaram a dificultar a agência política dos ex-escravos, recusando reconhecer a soberania da nova nação. Pouco tempo depois, Hegel descartou a sua admiração pelo general haitiano Toussaint Louverture e, em 1820, o filósofo considerou que o Haiti estava num estado que Kant definira como guilty immaturity6. Hegel advogou a recolonização das antigas colónias: “Contra o direito absoluto dos povos dominantes que são os actuais detentores do grau de desenvolvimento do Espírito do mundo… o espiríto de outros povos não tem direito”7.
Isto era consistente com a afeição de Hegel por Napoleão, considerado por ele um personagem “histórico-mundial”. Foi Napoleão quem se virou contra Louverture, forçando a rendição deste último, a deportação e a prisão que o levou à morte. A versão de modernidade de Hegel contém, a este respeito, as cicatrizes das suas origens germânicas, uma herança marcada, nas palavras de Rebecca Comay, por uma espécie de “enjoo matinal” no que diz respeito ao legado da Revolução Francesa. O que é mais “moderno”, a Revolução Francesa ou a reacção que conduziu Napoleão ao poder? No conflito entre Napoleão e Louverture – ao contrário do entendimento de Hegel – Napoleão, e a Europa que lhe deu poder, parecem ser os representantes do “anti-moderno”, na medida em que permitimos “moderno” significar o que os revolucionários de França e do Haiti pensavam.
Mas claro que não era assim que o império francês via as coisas. A recém-nascida República Haitiana tornou-se o maior estado deslegitimado na América Latina, e Napoleão apresentou a conta da sua própria liberdade ao Haiti, no valor de 150 milhões de francos. O Haiti só acabou de a pagar em 1947. Tal fora o preço pela ousadia do Haiti auto-abolir a escravatura e declarar-se um agente da sua própria história.
Quem também contribuiu para a negação europeia da agência histórica da América Latina foi Karl Marx, que viu em Simon Bolívar apenas um outro exemplo de “bonapartismo”, ou uma reacção da aristocracia liderada por militares. Na ausência de uma teoria de imperialismo, Marx foi incapaz de distinguir a contra-revolução da liberação nacional. Apesar de Marx e Hegel discordarem sobre os detalhes da sequência histórica “correcta”, para ambos, “a América Latina continuava ‘fora da história’ por não ter desenvolvido instituições políticas e um pensamento filosófico que lhe permitisse inserir-se no movimento progressivo para a liberdade, característica da ‘História Universal’”8. Em ambos os casos, o Sul aparece na narrativa da modernidade como o seu reverso, o anti-moderno. Em breve isto abria caminho para que se olhasse para o Sul menos como oposto à modernidade do que simplesmente atrasado em relação a ela.
Mas talvez a questão possa ser colocada de maneira diferente: não havia mesmo nenhuma modernidade na América Latina? Ou será que a modernidade tem de ser explicada de outro modo?
3. A Modernidade do Sul por detrás e sob a história do Ocidente: Modernidade copiada ou outra Modernidade?
Nos anos de 1990, Néstor García Canclini liderou um debate sobre a modernidade latino-americana a partir da perspectiva dos estudos culturais. Apesar de muitos países na América Latina terem produzido as suas próprias formas de modernismo intelectual nos anos de 1920 – e em vários lugares isto foi um momento esplendoroso – até protagonistas do modernismo brasileiro como Oswald de Andrade e Mário de Andrade (sem relação entre ambos) admitiram que esses movimentos constituíam apenas pequenas minorias dentro de populações iletradas que viviam fora de qualquer processo de modernização. A questão de Canclini foi: poderá existir modernismo sem modernização?9
No seu “Manifesto Antropofágico”, de 1928, Oswald de Andrade explica como a América Latina engolir teorias intelectuais da Europa é um exemplo de antropofagia, o ritual que assustou principalmente os europeus. Oswald de Andrade argumenta que a habilidade para unir múltiplas culturas e histórias é uma peculiar força intelectual brasileira. O manifesto também satiriza os pensadores latino-americanos pelas suas dívidas para com os escritores europeus do séc. XIX; o autor confronta esses pensadores com os mitos do Ocidente que dizem respeito “ao selvagem”, e aos desentendimentos culturais da colonização e antropofagia. Como bem sabemos, a partir dos anos de 1920 o conceito de antropofagia tornou-se uma das categorias mais ricas associadas à identidade brasileira.
Depois de anos de negligência, esta categoria foi ressuscitada nos anos de 1960 e 1970 sob a pressão das ditaduras militares e debates em torno da “teoria da dependência”, que procurava perceber o subdesenvolvimento económico da América Latina e a sua dependência dos Estados Unidos. Nas artes, despoletam debates em todo o continente: se a nossa economia e cultura foi importada da Europa, como pode o Sul derrubar esta posição de ser uma cópia bastarda do Norte? Como podemos nós saber o que é ou não intrinsecamente nosso? O que é que pode ser considerado uma verdadeira arte e filosofia latino-americana?10 Ou, como Marta Traba questionaria: pode a Pop Art ocorrer na América Latina sem existir uma cultura de massa verdadeiramente acessível? Durante este debate, a categoria de antropofagia reemergiu como forma de reclamar o mestiço e a natureza antropófaga da produção intelectual do Sul, e ofereceu os meios para retrabalhar os conceitos do Ocidente sem nenhuma necessidade de “ser autêntica”, e sem ser predestinada a representar “cactos, papagaios, e palmeiras”11.
No seu clássico texto “Nacional por subtracção” (1987), Roberto Schwarz procura perceber as origens, no Brasil, da neurose em torno da categoria de cópia importada, que tem vestígios no século passado. Para Schwarz, as cópias importadas apresentam um falso problema que começou com a coexistência de sistemas económicos e de valores contraditórios durante a inicial era de independência do século XIX.
Os “novos” valores contrastavam de todas as formas com as velhas fórmulas, engendrando o sentimento de viver num país ao contrário, que nunca alcançaria a “verdadeira” modernidade:
Para uns poucos, a herança colonial parecia um lixo que seria ultrapassado com o progresso. Outros viram nisto um país real, que deveria ser preservado contra as imitações absurdas. Outros queriam ainda trazer o progresso e a escravidão juntos, para não deixar nenhum escapar, e ainda outros sentiram que tal harmonização já tinha existido e fora desmoralizadora12.
Esta visão de uma modernidade tardia, ou de uma modernidade que se contradiz a si mesma com a sua suposta pureza, é muito similar à crítica, interna ao Ocidente, que levou ao pós-modernismo na Euro-América. A diferença pode ser que nos contextos pós-coloniais estas contradições eram mais visíveis, ou até – e esta é a parte desmoralizante – impossíveis de esconder.
4. Modernidade pós-colonial sobre a história Ocidental: pós-modernidade precoce ou de historização?
Homi Bhabha, que falou de uma “contra-modernidade” colonial quando discutiu a Índia, costumava dizer que os contextos pós-coloniais que formaram o “sujeito iluminado” nas colónias representavam uma ameaça para a teoria ocidental pós-moderna. Isto porque estes contextos eram desde logo multiculturais, mestiços, e cronologicamente fragmentados, e envolviam sujeitos em crise13. Encontros pós-coloniais acenderam negociações contínuas com insurreições de “conhecimentos subjugados”, como elaborou Foucault. Todas as condições que a América Latina historicamente tentou racionalizar, livrar-se de, e ultrapassar como aporia do continente estavam agora a ser celebradas no capitalismo tardio do Ocidente.
Uma das bandeiras principais do pós-modernismo da América Latina foi a defesa do realismo mágico, um movimento na literatura e arte influenciado pelas crenças mágicas “irracionais” das sociedades arcaicas pós-coloniais. Ao mesmo tempo, vários críticos e autores latino-americanos caracterizaram a arte e cultura da América Latina como “barroca”: Alejo Carpentier, José Lezama Lima, Nicolás Guillén, Carlos Fuentes e Octavio Paz, entre outros, identificaram o barroco como nada menos do que o estilo ontológico da América Latina. Mas Jorge Luis Marzo sugere que o barroco foi usado como pretexto para sublinhar o carácter pós-moderno – bem como pré-moderno e anti-moderno – da América Latina, de acordo com os interesses políticos de um momento particular:
Até que ponto o barroco respondeu como uma alegoria de incapacidade, e ainda assim, ao mesmo tempo, da libertação do moderno? Quanto desta celebração da retórica esconde uma tentantiva de glorificar um alegado falhanço e quanto em relação a isso foi usado para gerar uma ferramenta política poderosa?14
5. A história através do sistema-mundo moderno: sistema-mundo (colonial) e transmodernidade
O termo “sistema-mundo moderno” foi cunhado por Immanuel Wallerstein, que reconceptualizou a modernidade em termos económicos para defender a ideia de que não é um projecto cuja autoria pertence à Europa, mas ao invés um fenómeno que teria sido impossível de funcionar sem as colónias e sem um sistema de redes globais de comércio. Aníbal Quijano acrescentou que a contribuição da América Latina não se restringiu à economia, mas era também ideológica:
Proponho, então, que a descoberta da América Latina gera uma profunda revolução no imaginário europeu e, a partir daí, no imaginário do mundo europeizado através da dominação: há uma mudança em relação ao passado, como centro de uma era do ouro para sempre perdida, para um futuro como a era do ouro para ser conquistada ou construída.15
Ao termo cunhado por Wallerstein, Walter Mingolo acrescentou a palavra “colonial”: falar do “sistema-mundo colonial moderno” é uma maneira de recuperar a parte mais obscura do projecto orientado pelo Ocidente. Outra formulação vem do ensaio de Enrique Dussel, Transmodernidade e Interculturalidade. Tal como Wallerstein e Mignolo, Dussel nega a existência de um projecto unidireccional que se estende da Europa do Norte ao hemisfério Sul. Dussel explica a modernidade como um projecto partilhado que vai para além de modelos dualistas e que pode ser descrito como uma solidariedade incorporada: entre o primeiro e o terceiro mundo, mulheres e homens, raças e classes. Isto é o mesmo que dizer que a história da modernidade não foi ainda inteiramente contada16. Dussel estaria de acordo com Boaventura de Sousa Santos de que esta reconstrução só pode operar-se com base na experiência das vítimas. Como W.J.T. Mitchell evidenciou, quando Marx pensou sobre o que aconteceria se as mercadorias pudessem falar, podia também ter perguntado aos escravos, ou aos revolucionários haitianos17. Apesar de especular sobre mercadorias que falam possa parecer uma noção animista ou um exercício poético, como podemos ver, na verdade este processo tem uma importância política, na medida em que assume que um objecto tem alma. Quando este pensamento é aplicado a escravos, transforma-os em pessoas com agência e, por extensão, transforma a forma como os sujeitos ocidentais compreendiam a sua relação com os escravos.
6. Modernidade e história versus Animismo, ou a dissolução das fronteiras: contramoderno
Jürgen Habermas, Bruno Latour e Boaventura de Sousa Santos concentraram todos os seus esforços em compreender um dos maiores feitos da modernidade colonial: a separação entre as ciências humanas e naturais. Habermas argumenta que a modernidade é um projecto inacabado porque a separação e a especialização do conhecimento científico falhou em não concretizar uma das maiores premissas da modernidade, nomeadamente, a introdução do conhecimento científico nas práticas do quotidiano. Numa perspectiva antropológica, Latour argumenta que “nós nunca fomos modernos”; isto porque, apesar da condição definitiva da modernidade ser a constante mistura de géneros, a base intelectual da modernidade era ainda assim constituída pela separação entre humanos e não-humanos. Sem aprofundar a questão, gostaria de evidenciar o facto de que Latour baseia esta convincente observação nas teorias do antropólogo Philippe Descola, que estudou o animismo e cosmologias ameríndias, nas quais não existia a separação da natureza e da sociedade. Esta epistemologia indígena dá-nos uma plataforma para questionar as fronteiras disciplinares impostas pelas ciências modernas – fronteiras que ainda hoje ordenam o nosso pensamento.
Nesta perspectiva podemos perceber porque é que muitos pensadores do Ocidente nos últimos anos se voltaram para o trabalho do antropólogo brasileiro Eduardo Viveiros de Castro, que sugeriu que o animismo e o perspectivismo podiam ser forças descolonizadoras. Nos seus estudos sobre o perspectivismo ameríndio, Viveiros de Castro explora o aspecto social das relações entre humanos e não-humanos. Segundo esta teoria perspectivista, muitas cosmologias ameríndias conferem aos objectos uma alma, porque o que os constitui é a relação que existe entre eles. Nada pode ser deixado de fora dos nossos processos relacionais, na medida em que estes influenciam o que somos e moldam a subjectividade. No perspectivismo ameríndio, se algo tem alma – e os ameríndios entendem que não apenas a natureza, mas também os objectos inanimados têm alma – então esse algo deve também ser visto como uma pessoa.
Se aceitarmos a noção animista de que tudo é ao mesmo tempo uma pessoa e uma parte da natureza, podemo-nos separar da divisão entre as ciências naturais e as sociais. Segundo Sousa Santos, podemos separar-nos também da noção de natureza humana: “não haverá natureza humana porque toda a natureza é humana”18. Do ponto de vista do perspectivismo amazónico e, contrariamente às nossas ciências, saber não é objectivar mas antes o oposto: consiste em incorporar, i.e., subjectivizando, porque implica tomar o ponto de vista da tal coisa que é necessário saber. Consequentemente, o objecto de estudo torna-se um sujeito de enunciação, o que implica conceder-lhe o estatuto de interlocutor e portanto agenciá-lo. O perspectivismo ameríndio tem sido visto como uma forma de destabilizar os padrões de pensamento ocidental, eliminar as fronteiras disciplinares que nos separam dos nossos “objectos de estudo”, e abrir novos quadros de pensamento.
Isto pode ser a razão para o curador Anselmo Franke ter dito que a sua exposição itinerante Animismo: Modernidade através do Espelho não era realmente sobre animismo. Em vez disso, foi uma reflexão sobre a criação de fronteiras. Se o animismo é um limite do imaginário racional, o que este projecto sugere é que o limite onde o “meramente” imaginário começa (que é também uma fronteira com algum significado para a arte) também opera a distinção política constitutiva de qualquer ordem societal, nomeadamente entre os que têm e os que não têm reivindicações legítimas para realizar– a fronteira do reconhecimento político19.
7. Para além da Modernidade e os seus Outros: Epistemodiversidade
Com esta viagem através dos prefixos da modernidade na América Latina, espero ter demonstrado como o conceito de modernidade varia consoante o tempo e a necessidade política. Outra duradoura tendência Ocidental é tratar a alteridade como um campo político. Uma das figuras que inspirou a Revolução Francesa foi o nobre selvagem de Rousseau que, por sua vez, se inspirou num diário de viagem de três volumes escrito por Baron de Lahontan, publicado em 1703 depois das suas viagens pela América Latina20. O “Manifesto Antropofágico” de Oswald de Andrade – escrito pouco tempo antes de se inscrever no Partido Comunista – sugeria que Pindorama (o nome Tupi original para o Brasil em tempos pré-coloniais e ainda matriarcais) era um modelo de como uma comunidade poderia ser construída no mundo moderno. A contra-cultura dos anos de 1970, com as suas propostas de modos de vida alternativos paralelos ao capital, também deu muita importância às cosmologias indígenas. As actuais teorias sobre o comum invocam igualmente experiências indígenas.
Tal como Hal Foster mostrou no seu clássico “The artist as Ethnographer”, houve sempre reivindicações políticas recorrentes em espaços de alteridade, primeiro pelos proletários, depois por outros culturais. Mas enquanto estas outras epistemologias têm sido fonte de inspiração para novas formas de auto-definição e identificação, tais movimentos poucas vezes participaram em diálogos históricos e políticos com povos indígenas.
É por isso que um medo nos assombra quando nos damos conta que o perspectivismo ameríndio de Viveiros de Castro vem da antropologia: historicamente, a Antropologia no Brasil não facilitou a “incorporação” de textos indígenos e africanos na herança do país, porque estes foram vistos como objectos de estudo em vez de produtores de conhecimento21. Em vez disso, estes textos indígenas afro-brasileiros foram sobretudo utilizados como inspiração poética por artistas e intelectuais à procura de pontos de referência de identidade nacional. No “Manifesto Antropofágico”, Oswald de Andrade faz uso da literatura etnográfica europeia para explorar fantasias da sociedade matriarcal e a ausência da ideia de propriedade em Pindorama. Em última análise, o objectivo de Andrade é a auto-definição (nacional); o autor não estava interessado nos processos políticos indígenas que aconteciam perto dele.
É por isso que o Manifesto emprega a estratégia de “incorporar o Outro”: este Outro é substituído pelas suas representações, negando assim a sua verdadeira agência e presença política22. É a isto que Fernando Coronil chama de “destabilização do próprio pelo Outro”, na qual o último é usado como fonte de inspiração para projectos de mudança. Coronil argumenta que esta estratégia apenas reforça a polarização, oblitera laços históricos e homogeneíza diferenças23.
E esta estratégia reapareceu: em 2015, a exposição “Variações do Corpo Selvagem”, no SESC Ipiranga (São Paulo), mostrou a vida e costumes de povos indígenas através das fotografias de Viveiros de Castro. A exposição centrava-se no próprio Viveiros de Castro, comparando a sua perspectiva fotográfica antropológica com a sua participação no movimento alternativo brasileiro dos anos de 1970. Também comparava os xamãs indígenas presentes nas fotografias com os Parangolés criados por Hélio Oiticica para o Carnaval. A ideia de transformar o objecto de estudo em interlocutor, um sujeito de conhecimento e afirmação, não foi mencionada ou usada como estratégia de curadoria. Foi antes uma exposição sobre Viveiros de Castro e não sobre as cosmologias indígenas.
Não é certo que para obter uma resposta sobre a modernidade seja necessário uma melhor definição do conceito ou se possuir tal definição nos ajudaria a ultrapassar a obsessão ocidental com a instrumentalização, invenção e domínio do Outro. Concordo com Frederick Cooper sobre o conceito de modernidade não ser claro o suficiente para permitir uma definição24. É por isso que John D. Kelly “espera não por modernidades alternativas mas por alternativas à ‘modernidade’, como um cronotopo necessário para a teoria social”25.
Em “Um Discurso sobre Ciência”, escrito em 1988, Boaventura de Sousa Santos mostrou como as ciências têm estado em crise desde os anos de 1970, quando se aceitou que as intenções dos cientistas influenciam os resultados das suas experiências26. Isto colocou em questão o fundamento do empirismo – que assume que o acontecimento estudado está isolado do seu contexto – e por sua vez comprometeu as aspirações universalistas da ciência. O autor insiste que as distinções entre sujeito/objecto e humano/natureza perpetuam o colonialismo, já que estas divisões separam os que têm direitos dos que não têm. Isto incluí povos indígenas que vivem num “estado natural”, mas também rios, montanhas, e formas de memória que não podem ser encontradas no discurso dos direitos humanos. Ao longo da modernidade, a Natureza (com N maiúsculo) foi transformada num objecto de estudo de modo a ser explorada.
O nosso objectivo, portanto, deveria ser encontrar coisas que nos ajudariam a quebrar a dualidade do humano e das ciências naturais (sujeito/objecto). Isto por sua vez deixar-nos-ia capazes de repensar a forma como organizamos as fronteiras disciplinares. Se foi reconhecido que a organização da objectividade científica e racional depende da exploração capitalista, porque é que continuamos inequivocamente a apoiar os modos modernos em que o conhecimento é organizado? Para avançar com este objectivo, é essencial procurar formas de conhecimento que foram ignoradas pela modernidade. Esta é uma das crenças subjacentes ao trabalho que está a ser realizado na Universidade Federal do Sul da Bahia, que aboliu as distinções entre as disciplinas para os estudantes do primeiro ano. A universidade também inclui “conhecimento local” no seu programa curricular, dando emprego amestres locais e tradicionais para trabalhar com os estudantes, e ensinando cosmologias indígenas nas aulas. Este é um passo crucial na direcção de um reconhecimento mais vasto destas tradições, que são frequentemente desvalorizadas na região, e os seus praticantes têm, em geral, uma vida precária e marginal. Em vez de preservar estas tradições numa enciclopédia de conhecimento académico, a Universidade Federal do Sul da Bahia está a tentar preservar os seus modos de produção que coexistem agora com uma economia globalizada. Este é o primeiro passo para promover a epistemodiversidade que a modernidade – independentemente do prefixo utilizado – foi incapaz de construir.
Qual o papel da arte neste processo de transformação? A arte, que é também uma forma subalternizada de conhecimento, há muito que abriu caminho para o pensamento nomádico no qual as diferentes disciplinas dialogam entre si, derrubando fronteiras. É por isso que a arte frequentemente precede a teoria.
É impressionante como “Um Discurso sobre a Ciência”, de Sousa Santos, ecoa tanto na retórica e prática artística:
Não demorará muito tempo até que a física de partículas fale de partículas que brincam ou da biologia do teatro molecular ou das astrofísica do texto paradisíaco, ou da química da biografia de reacções químicas. Cada uma destas analogias revela um canto do mundo… Podemos supor se é possível, por exemplo, fazer uma análise filológica de um projecto urbano, entrevistar um pássaro, ou efectuar uma observação participativa entre computadores.27
A arte sempre foi capaz de reunir ferramentas críticas de acção de diferentes contextos de conhecimento de modo a intervir em instituições, em políticas e em problemas sociais. Isto faz dela um local privilegiado para encontrar novas estratégias para a epistemodiversidade. Ao mesmo tempo, a arte sempre manteve uma fronteira estrita entre si mesma e a cultura popular, para assegurar que a arte está ao mesmo nível das ciências ocidentais. E se esta fronteira desaparecesse? Como é que construimos uma nova linguagem que utiliza conhecimento popular não para um tema de arte contemporânea, mas como uma faísca para criar novos regimes de representação e novas estruturas de pensamento? Como pode a arte contemporânea contribuir para a aprendizagem da epistemodiversidade?
Notas de Rodapé
- Do mesmo modo, as insurgências subalternas, indígenas ou afro-americanas, foram cruciais para a nossa história, ainda que as narrativas nacionais continuem a não reconhecê-las no seu alcance. Ver Aníbal Quijano, “Colonialidad del poder, cultura y conocimiento en América Latina”, Anuario Mariateguiano 9, nº 9 (1997).
- Walter Mignolo, Local Histories/Global Designs: Coloniality, Subaltern Knowledges, and Border Thinking (Princeton: Princeton University Press, 2000).
- Enrique Dussel, “Eurocentrism and Modernity”, boundary 2 20, nº 3 (Autumn, 1993): 65-76.
- Boaventura de Sousa Santos, Epistemologies of the South: Justice Against Epistemicide (Nova Iorque: Rouledge, 2014).
- Susan Buck-Morss, Hegel, Haiti, and University History (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2009).
- Kant utilizou o termo “verschuldeten”, que Enrique Dussel interpretou como “culpa imatura”. Ver Dussel “Eurocentrism and Modernity”.
- G. W. F. Hegel, Philosophy of Right, sections 246 and 247 (Oxford: Clarendon Press, 1957). Tradução de Dussel, “Eurocentrism and Modernity”.
- Santiago Castro-Gómez, La poscolonialidad explicada a los niños (Bogotá: Editorial Universidad del Cauca, Instituto Pensar, Universidad Javeriana, 2005), 15. Tradução minha.
- Canclini concluiu que foi precisamente esse questionamento constante das identidades e contradições latino-americanas que constituiu a principal condição do modernismo latino-americano, que definiu a relação entre escritores e os seus públicos. Ernesto Canclini, Hybrid Cultures: Strategies for Entering and Leaving Modernity (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2005).
- Ver Leopoldo Zea, The Latin- American Mind, tradução de James H. Abbott e Lowell Dunham (Norman: University of Oklahoma Press, 1963); e Zea, Latin America and the World, tradução de Beatrice Berler and Frances Kellam Hendricks (Norman: University of Oklahoma Press, 1969).
- Jorge Luis Marzo, La memoria administrada. El barroco y lo hispano (Buenos Aires: Katz, 2010).
- Roberto Schwarz, “Nacional por substração” in Que horas São? (São Paulo: Companhia das Letras, 1987), 43. Tradução minha.
- “Se reconhecida, [esta contra-modernidade] questionaria o historicismo que liga analogicamente, numa narrativa linear, o capitalismo recente e os sintomas pastiches fragmentados e simulados da pós-modernidade. Esta ligação não tem em conta as tradições históricas do contingente cultural nem da indeterminação textual (como forças do discurso social) geradas a partir da tentativa de produzir um sujeito colonial ou pós-colonial “iluminado”, e transforma, no processo, a nossa compreensão da narrativa da modernidade e os “valores do progresso”. Homi Bhabha, The Location of Culture (London: Routledge, 1994), 248.
- Marzo, La memoria administrada, 202.
- Quijano, “Colonialidad del poder”, 12.
- Enrique Dussel, “Transmodernity and Interculturality: An Interpretation from the Perspective of Philosophy of Liberation,” Transmodernity 1, no. 3 (2012).
- W. J. T. Mitchell, Picture Theory: Essays of Verbal and Visual Representation (Chicago: University of Chicago Press, 1995), 196.
- De Sousa Santos, Epistemologies of the South, 46.
- In Maurizio Lazzarato, Sabine Folie, Anselm Franke, and Jimmie Durham, Animism: Modernity througth the Looking Glass (Cologne: Walther König, 2012).
- “Os contemporâneos têm a necessidade de um país e de um povo nos quais são capazes de projectar os seus sonhos da idade do ouro.” Os 3 volumes do diário de viagem de Lahontan são : Nouveaux voyages, Mémoires de l’Amérique septentrionale e Dialogues curieux entre l’anteur et un sauvage. Ver Tzvetan Todorov, Nosotros y los otros (Madrid: Siglo XXI Editores, 1991).
- Ver Antonio Riserio, Testos e Tribos: Poeticas Extraocidentais nos tropicos brasileiros (Rio de Janeiro: Imago, 1993).
- Barthes também descreve duas maneiras de incorporar o Outro: “Inoculação, na qual o Outro é absorvido apenas na medida necessária para que seja inócuo; e a incorporação, onde o Outro se torna incorpóreo pelo meio da sua representatividade.” No último caso, “ a representação funciona como substituto da presença activa – nomeá-la é equivalente de não o saber”. Hal Foster, Recodings: Art, Spectacle, Cultural Politics (New York: The New Press 1998).
- Fernando Coronil, “Más allá del occidentalismo: hacia categorías geohistoricas no- imperiales, in Teorías sin disciplinas: Latinoamericanismo, Poscolonialidad y Globalización en Debate, eds. Santiago Castro- Gómez and Eduardo Mendieta (México: Miguel Ángel Porrúa, 1998), 139.
- “Os académicos não deviam tentar uma definição ligeiramente melhor para que possam falar de modernidade mais claramente. Deviam, em vez disso, ouvir o que está a ser dito no mundo. Se a modernidade é o que ouvem, deveria perguntar como está a ser utilizada e porquê”, Frederick Cooper, Colonialism in Question: Theory, Knowledge, History (Berkeley: University of California Press, 2005), 115.
- John D. Kelly, “Alternative Modernities or an Alternative to ‘modernity’: Getting out of the Modernity Sublime”, in Critically Modern: Alternatives, Alterities, Anthropologies, ed. Bruce M. Knauft (Bloomington: Indiana University Press, 2002), 261.
- Boaventura de Sousa Santos, “A Discourse on the Sciences”, Review 15, nº 1 (Winter 1992): 39.
- ibidem.