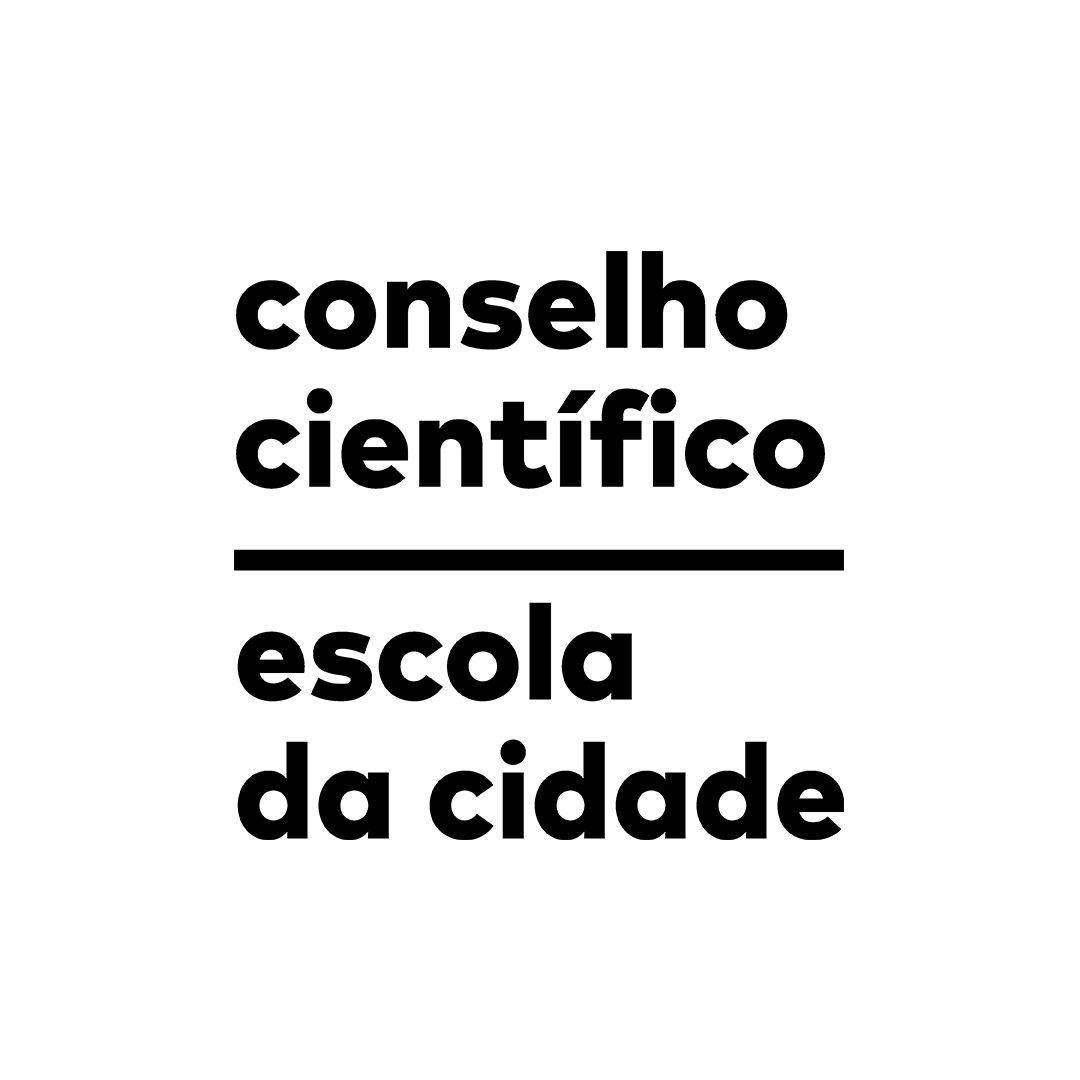O trabalho de Clara Ianni (1987) São Paulo explora a relação entre arte e política, através do uso de diferentes mídias – vídeo, instalações, ações e textos. Clara graduou-se em Artes Visuais na Universidade de São Paulo. Suas exposições incluem Utopia/Distopia (2017), MAAT Lisboa, Jakarta Bienal (2015), 31a Bienal de São Paulo(2014), Yebisu Festival, Tokio (2015), 19th Panorama VideoBrasil, 33º Panorama de Arte Brasileira, MAM São Paulo (2013), 12th Istanbul Biennal, Istanbul (2011). Entre as residências que realizou estão AIR Residency, Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle, Varsóvia, Polônia, HIWAR I Conversations in Amman, Jordan (2013), Culturia, Berlin (2011), Bolsa Pampulha, Museu da Pampulha, Belo Horizonte (2011) e Casa Tomada, São Paulo (2010). Suas obras constam nas coleções do MOMA-NY, FRAC Paris e MAM- RJ. Clara é curadora do programa “Descolonizar o tempo”, Goethe Institute, e trabalhou como assistente do curador do Museu do Louvre, Regis Michel, e na 7a Berlin Biennale, curada por Artur Zmijewski, juntamente com Joanna Warsza e Voina.
PREFÁCIO COM PERGUNTAS
Sempre achei reveladora a maneira como a política desapareceu dos discursos artísticos na contemporaneidade. Se observarmos, por exemplo, a atual produção artística no Brasil, constataremos, com certa facilidade, que a ideia de discutir determinados assuntos, e posicionar-se em relação a eles, é quase um tabu. Alega-se que, a partir daí, a arte se torna propaganda e portanto menos arte. Ou seja, para manter-se como arte, deve-se privilegiar a autonomia de suas características formais, evitando contaminar-se com os atravessamentos sociais e políticos provenientes do mundo de fora. Contra a instrumentalização, a arte deve operar numa zona de neutralidade, garantindo, deste modo, sua liberdade.
Esse discurso, que aparentemente desconhece sua relação com a realidade, instiga-nos a pensar para além daquilo que se manifesta como mera contingência. Isto é, na medida em que esse discurso nega, sistematicamente, sua fundamentação política e ideológica, faz-nos questionar sobre as suas necessidades ocultas. Então, me pergunto: o que essas perspectivas revelam na medida em que escondem? O que esse apagamento torna visível? O que a supressão de contextos políticos, sociais e econômicos produz no inconsciente social?
A arte, assim como a ideia do que é arte, é um constructo social. Isso quer dizer que a arte não acontece em uma esfera apartada da realidade, tampouco a ideia do que é arte. Ambas acontecem no mundo. E justamente porque acontecem no mundo, dependem de uma série de estruturas sociais que garantam sua legitimação, disseminação, manutenção etc.
É relevante, portanto, pensar sobre essas estruturas, a fim de tentar compreender a maneira como a política e a ideologia foram expropriadas do debate estético. Como, provavelmente, uma das estruturas mais importantes na formatação do discurso da arte contemporânea seja o Museu Moderno, é nele que, por ora, focaremos atenção.
O Museu, assim como a arte, é uma forma de relação. Por serem formas de relação, tanto o Museu quanto a arte sempre se relacionam com algo que está fora, com algo de outro, com algo que está para além. Seus muros delimitam um espaço de representação de discursos e, portanto, expressam apenas uma parcela da multiplicidade de vozes que compõem o tecido social.
Mas, à medida que se repete um determinado discurso, articulando essa repetição a práticas disciplinares, se institucionaliza um modelo de imaginação sociopolítica. Neste sentido, o Museu Moderno é uma via de mão dupla, pois é a expressão de um imaginário, ao mesmo tempo em que disciplina a nossa imaginação em relação ao mundo. Ou seja, tem a capacidade de criar, e não simplesmente de descrever a realidade.
Talvez uma das ficções políticas mais profundamente institucionalizadas no Museu Moderno seja uma certa noção da História como um fluxo evolucionista e contínuo. A ideia positivista de que o tempo se transcorreria de maneira homogênea e linear não só foi um dos pilares que possibilitou a construção deste modelo de Museu que conhecemos, como também encontrou nestas instituições ressonância e aperfeiçoamento.
Mas essa institucionalização, e consequente naturalização da ideia de uma História baseada em abstrações (como as noções de Ordem, Evolução e Progresso) e conduzida por grandes entes místicos (como a Indústria e a Nação), acabou por blindar e proteger a distância objetiva que separava essas fantasias das tensões sociais concretas.
Se entretanto resistirmos a essas dinâmicas de naturalização e insistirmos em entender esses processos justamente como índice de conflito, talvez possamos exumar certas camadas soterradas do pensamento e descobrir urgências – especialmente se nos propusermos a pensar nas experiências incongruentes e extravagantes da modernidade na América Latina.
Quem sabe, desnaturalizando tais discursos, possamos encontrar alguns vestígios de certos desaparecimentos predominantes no debate artístico brasileiro.
PROGRESSO – PROMESSA
Essa noção, institucionalizada pelo Museu, de que o tempo é baseado no progresso e a ideia de que o progresso é necessariamente progressista, talvez tenha revelado suas contradições mais agudas com a instalação de Museus de Arte Moderna na América Latina e, especialmente, no Brasil. A dimensão providencial do progresso, que nos levaria da posição atrasada à adiantada, ou melhor, da perdedora à vencedora, apesar de conceder um alívio imediato, acabou gerando certo mal-estar. Nós, que acreditamos nessa promessa, numa espécie de “auto-re-catequização” deliberada, esperando que o desnível que nos separava dos países modelo – a saber, os países do capitalismo avançado – seria transposto por uma espécie de virada social iluminada representada pelo Museu Moderno, nos deparamos com alguns impasses.
A coexistência simbiótica do Museu de Arte Moderna e de práticas sociais esculpidas por hábitos mentais coloniais e por costumes cultivados no alpendre da casa grande pode não apenas ter desvelado no Brasil, as contradições e limitações do projeto original, mas ainda ter trazido à tona as profundas consequências regressivas do progresso.
MODERNIDADE POR CONSÓRCIO OU MUSEU-FRANCHISE
O curso do pós-guerra, com as derrotas do nazifascismo na Europa e da Ditadura Vargas no Brasil, encheu de esperança incomum o contexto nacional. A superação imediata do passado atrasado, dos atavismos deixados pelo colonialismo, pelo latifúndio e pela escravidão, bem como a promessa do Brasil-Potência, pareciam, enfim, algo alcançável. Empurrado pelo espasmódico desenvolvimento econômico, o espírito de superação realinhava os desejos e o imaginário brasileiros. Foi neste contexto que, em 1948, o Museu de Arte Moderna foi inaugurado na cidade de São Paulo.
Fruto dos anseios do industrial Ciccilo Matarazzo, em consórcio com o empresário norte-americano Nelson Aldrich Rockefeller, foi fundado o Museu de Arte Moderna de São Paulo. Construído com o incentivo e a consultoria do amigo americano, o MAM teve o MOMA dos Rockefeller como grande influência.
Vale dizer que, globalmente, o Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, desde sua fundação, em 29, teve um papel crucial na definição do cânone modernista e da maneira como olhamos e entendemos a arte moderna. O MOMA participou ativamente do desenvolvimento e da disseminação do Cubo Branco como o paradigma do display museológico, bem como da vinculação desse modelo, meio “terra-arrasada”, com a ideia de que a arte moderna se desenvolveria inevitavelmente para a arte abstrata. Basta lembrarmos do diagrama feito por Alfred Barr, primeiro diretor do museu, publicado na introdução do catálogo da exposição Cubismo e Arte Abstrata, de 1936, realizada pelo MOMA, no qual todos os caminhos da arte ocidental e do resto do mundo levariam, invariavelmente, à arte abstrata.
Na feição do museu moderno, incorporada pelo MOMA, a arte abstrata e o cubo branco se relacionavam de maneira harmoniosa e simbiótica por meio da exclusão de qualquer referência ao mundo exterior. Considerando apenas a pureza dos valores formais, dentro do cubo branco a forma atingiria seu estado pleno de liberdade. Isso quer dizer que, por meio de sucessivas descontextualizações, a arte abstrata e o cubo branco contextualizariam-se a si mesmos, encerrados dentro dos muros do museu, numa espécie de transcendência cartesiana.
KULTURKAMPF
É importante lembrar que, no momento de inauguração do MAM em 1948, para além dos muros do museu havia guerra. No realinhamento global da Guerra Fria e na consequente consolidação dos Estados Unidos como potência no Ocidente, o encontro de Matarazzo com Rockefeller, certamente, não foi um mero acaso. Sabemos que esses anseios de modernização nacional, representados por Ciccilo, localizavam-se num território de disputa – a América Latina.
Rockefeller já havia se aproximado do Brasil quando, em 1940, chefiava o Office of Inter-American Affairs. A agência, que era ligada ao Departamento de Segurança Nacional dos EUA, era órgão de Estado fundamental durante a guerra e colaborou, por exemplo, com Walt Disney para a produção de seus filmes sobre a América Latina – Saludos Amigos!, de 1942, e Os Três Cavaleiros, de 1943.
Foi essa mesma agência de Nelson que, em colaboração com o MOMA, chegou a organizar, só no início dos anos 40, 19 exposições de pintura abstrata norte-americana pela América Latina. Curioso é que o destino dessas exposições foram especialmente as áreas em que Nelson Rockefeller havia desenvolvido seus investimentos mais lucrativos, como as zonas de atuação da Creole Petroleum, subsidiária da Standard Oil Company de Nova Jersey, a qual era dono.
Foi o staff dessa agência que, com o fim da 2 Guerra, integrou o departamento de atividades internacionais do MOMA, em 46. Rockefeller, que havia se afastado da presidência do Museu para chefiar a Agência, retornou ao seu posto, retomou suas atividades, consagrando assim a comunhão do Museu com uma máquina de guerra.
Foi sob a chefia de Rockefeller que os programas internacionais do MOMA se aproximaram do aparelho cultural da CIA. Em 1952, por exemplo, o Museu produziu a exposição de pintura do Festival Obras-Primas, do Congress for Cultural Freedom. O Congresso, que era mantido com vastos investimentos da CIA e da Ford Foundation, foi um dos principais braços do extenso programa cultural dos EUA para a América Latina no pós-guerra. Cabe lembrar também que o Congresso, em colaboração com o MOMA, teve um papel fundamental na promoção da arte abstrata e, em especial, do expressionismo abstrato, como cânone da modernidade.
DARWIN NO MUSEU DE ARTE MODERNA OU A ARTE ABSTRATA EM GALÁPAGOS
Voltemos ao Museu (MAM), enfim.
No catálogo da primeira exposição do MAM, realizada em 1948, seu curador, o crítico belga Leon Dégan, iniciou o texto introdutório com as seguintes palavras:
“É evidente hoje em dia que (…) a situação geral das artes plásticas está dominada por um desenvolvimento por parte dos pintores da consciência da autonomia da sua arte. /Essa vontade de autonomia, este desejo obstinado dos pintores de concentrar a atenção, antes de mais nada, sobre as qualidades e os poderes específicos de sua arte, encontrou expressão numa nova atitude quanto à utilização dos dados do mundo exterior. / E isto é muito lógico. Pois, se a pintura se basta a si mesma e não deve ser outra coisa além de pintura, é natural que se vise libertá-la de toda e qualquer espécie de tutela.”
Dégan, ao apresentar a primeira exposição do Museu de Arte Moderna de SP desta maneira, faz um gesto político de implicações profundas.
A ideia de libertação da arte de qualquer tutela, de qualquer contaminação social e política do mundo de fora, e a suposta consolidação de sua autonomia, revela o quanto os valores sistematizados e exportados pelo MOMA foram fundamentais na nossa experiência estética.
A exposição era fundamentalmente composta por arte abstrata – forjando o protagonismo da abstração na nossa experiência da modernidade. Esse privilégio, no entanto, é constantemente negado e pormenorizado ao longo dos textos do catálogo de modo a nos apresentar como dado natural aquilo que foi uma escolha deliberada.
Não por coincidência, o título dessa exposição do Museu foi “Do Figurativismo ao Abstracionismo”. Se observarmos com atenção, a sentença já carrega esse caráter de naturalização de uma escolha política e ideológica. “Do Figurativismo ao Abstracionismo” inscreve a produção artística numa espécie de trajetória evolucionista. Na medida em que determina dois pontos – a saber, o figurativismo e o abstracionismo – e articula esses dois pontos por meio de uma linha de progressão temporal, o enunciado, que dá nome ao evento, estabelece um percurso evolutivo das artes, que apesar de imaginário, tem implicações políticas bastante concretas.
Se retomarmos o diagrama de Barr, de 1936, e o colocarmos em relação ao contexto de fundação do MAM, observaremos que a perspectiva positivista de que o desenvolvimento das artes desembocaria necessariamente e universalmente na arte abstrata se relaciona de modo direto com a hegemonia cultural norte-americana e com a expansão da economia de mercado no contexto do pós-guerra. A narrativa implementada pela primeira exposição do MAM, nesse sentido, é análoga a certos discursos das ciências econômicas. A ideia de que o caminho para o futuro – tanto nas artes, quanto na economia – se daria por meio de uma estrada linear pavimentada, capaz de nos levar da condição atrasada, ou seja, do figurativismo, do subdesenvolvimento, do pré-capitalismo, à condição avançada, ou seja, do abstracionismo, do desenvolvimento, do capitalismo, apresentava-se como o desenrolar natural dos processos históricos. Essa naturalização de uma suposta linearidade da História, como se a História não fosse objeto de disputa política, dava-nos a entender a condição do atraso como uma simples etapa histórica a ser superada pelo transcorrer dos tempos.
A arte abstrata, assim como o capital, converteu-se, nesse contexto, numa espécie de “luz universal” capaz de corrigir qualquer realidade refratária. Como uma milagre providencial, ambos seriam – uma na estética, o outro na economia –, o horizonte comum da experiênia histórica de todos os povos.
Não à toa, Rockefeller, em carta de Abril de 1949, parabenizando Ciccilo Matarazzo pelas conquistas com o novo museu, despede-se com as seguintes palavras:
“Não posso dizer o quanto estamos entusiasmados em relação ao grande progresso que você e seus associados fizeram, em tão pouco tempo, com o Museu em São Paulo – é realmente notável. Não há ponte mais forte entre os povos das Américas do que as forças criativas dos nossos tempos que, mais do que nunca, são universais em caráter”.
Rockefeller estaria falando do capitalismo ou da arte abstrata?
Difícil dizer.
ARTE ABSTRATA, O MITO FUNDACIONAL
A abstração teve um papel fundamental no desenho das práticas artísticas contemporâneas. Basta um breve passeio pelas galerias e pelos museus para atestarmos a profunda influência desse legado e o quanto ele ainda permanece paradigmático no imaginário artístico nacional. A força de sua presença é tão marcante que a arte abstrata pode ser vista como uma espécie de mito fundacional da arte contemporânea brasileira.
Diferentemente do construtivismo russo, que estava essencialmente ligado à Revolução de Outubro, a arte abstrata adotada no Brasil se alinhava menos aos soviéticos do que à variante, despolitizada e formalista, de Theo van Doesburg endossada, desenvolvida e disseminada pelo MOMA dos Rockefeller. A versão dócil do construtivismo, que se constituiu por meio do sequestro e da fetichização de seu vocabulário formal, baseava-se não mais na política, mas na economia racionalizada. Na versão americana da abstração, a priorização de características puramente plásticas, fundamentadas no conjunto de valores composto por noções como universalidade, abstração, autonomia e liberdade, ressoa (ou deriva) quase que diretamente o discurso da racionalidade econômica do capitalismo. A reprodução do vocabulário do capital no debate estético, num certo sentido, revela a tentativa de afinação entre a arte e a linguagem da mercadoria. Adiante, se pensarmos na expressão mais radical da abstração americana, a saber, o expressionismo abstrato (40-50), antes de associá-lo ao jazz e suas noções de improvisação e composição livre, talvez o próprio Rockefeller tenha feito uma aproximação mais provocante quando, entusiasticamente, chamava o expressionismo abstrato de pintura de livre-empresa.
No Brasil, diga-se de passagem, a conversão desse conjunto de valores ideológicos, calcados no imperativo de alienação da arte, em um mito originário da arte contemporânea veio a calhar com algumas de nossas secretas vontades. Pois, ao mesmo tempo, ela nos exime da incapacidade de lidar com o processo histórico contraditório e traumático da formação social brasileira, além de parecer restituir, em um contexto desagregado pela produção sistemática de desigualdade, a dimensão de comunhão coletiva que é própria dos mitos.
ABSTRAÇÃO COMO CONCILIAÇÃO – Extinção da História
Qual foi o preço pago pela adoção dessa ficção – e não de qualquer outra – como o mito fundacional da arte contemporânea brasileira?
Se, num primeiro momento, a adoção de um vocabulário novo parecia ter uma dimensão redentora, livrando-nos do fantasma do atraso para nos permitir acessar o promissor futuro, num segundo momento, a utopia do progresso expressa pelo Museu Moderno e pela arte abstrata gerou um profundo mal-estar social.
Na experiência dessa utopia derivada, moldada por um processo de modernização “pelo alto”, a vivência heterodoxa e contraditória de um país como o Brasil foi neutralizada. Os conflitos, banidos. A memória dessas vivências não deveria encontrar expressão na linguagem. Para caber na ‘grande narrativa’ da arte abstrata, os paradoxos locais foram ignorados. Os desconjuntamentos típicos da nossa modernização – como a coexistência do passado arcaico com o futuro desenvolvido num mesmo tempo presente – foram subjugados à tirania de um modelo de representação único.
A institucionalização do discurso universal e salvacionista da arte abstrata promovia, de imediato, uma união ampla, geral e irrestrita, baseada na negligência do abismo que separava condições e experiências sociais profundamente desiguais. Por meio desse falso pé de igualdade, restituiríamos, assim, uma precária sensação de coletividade, expropriando da vida pública a possibilidade de pensar criticamente sobre os efeitos sociais, políticos e culturais produzidos por séculos de exploração, opressão e agressões. Em outras palavras, a partir de uma forma de expressão soberana, una, coesa e homogênea, seríamos capazes de superar, enfim, nossas desigualdades bem como os conflitos gerados por essas disparidades. A arte abstrata promoveu a ilusão de que seria possível uma espécie de conciliação nacional pela estética.
Lembremos que esse caráter conciliador da abstração que colonizou nossa cognição ressoa e reinventa, no campo da linguagem estética, a afirmação (que, aliás, é parte do discurso oficial brasileiro) de que a nossa “natureza” é a conciliação dócil dos contrários. Basta recordarmos que em 1888 a Lei Áurea abolia a escravatura sem implantar nenhuma política de reparação às suas vítimas, como se somente a assinatura de um papel fosse suficiente para nos livrar das sequelas psíquicas, físicas, intelectuais, culturais, políticas e econômicas de séculos de escravidão. Ou ainda, em 1979, quando a Lei da Anistia era promovida pelo próprio governo militar, concedendo perdão aos dissidentes políticos ao mesmo tempo que absolvia agentes do Estado ilegal acusados de tortura e assassinato.
A imposição das coordenadas ideológicas da arte abstrata – como o imperativo de ser apolítica, acrítica e a-histórica – produziu o recalcamento dos conflitos de um país periférico como o Brasil e gerou retrocessos com os quais nos havemos até hoje. Pois, além de permitir o desprezo por nossas experiências traumáticas fundadoras, estabeleceu, falsamente, a impressão de que nosso sofrimento havia sido superado, já que agora ele não encontrava mais forma de expressão na linguagem da arte abstrata.
O insuportável, fruto desses traumas históricos, no entanto, não desaparecia na arte abstrata, mas voltava sim como sintoma, como patologia provocada pela palavra amordaçada, pelo silenciamento forçado.
A repetição e naturalização do discurso que projeta a arte abstrata como lugar originário do pensamento contemporâneo, tão frequente em práticas museológicas, artísticas, críticas e curatoriais, funcionaram como instrumento disciplinador do nosso imaginário estético e político sem que nos déssemos conta – como se acreditássemos que essa conciliação dócil do irreconciliável era a ordem natural dos fatos. Bloqueou a consciência dos antagonismos e a coragem de enunciar conflitos, que é a força fundamental da política.
Isso nos levanta alguns questionamentos.
Será que tais formas simbólicas de expressão, apesar de modernas e “avançadas”, estariam ainda vinculadas a imaginários moldados no passado? Será que a abstração, com seu paradigma conciliador, tinha a Casa Grande como referência, na medida em que se relaciona muito mais à cordialidade do trato entre senhor e escravo doméstico do que à exploração brutal do trabalho no campo? Seria a Casa Grande a mônada, a unidade primordial da produção de discursos ainda na modernidade? Quanto resta de Casa Grande em cada museu moderno? Será que o esquecimento imposto pela conciliação é não só necessário, como parte funcional de um modelo de desenvolvimento que se dá de maneira desigual e desagregadora? Seria a arte abstrata, para nós, o recalcamento de certas experiências insuportáveis? Poderíamos nós pleitear a revogação da arte abstrata?