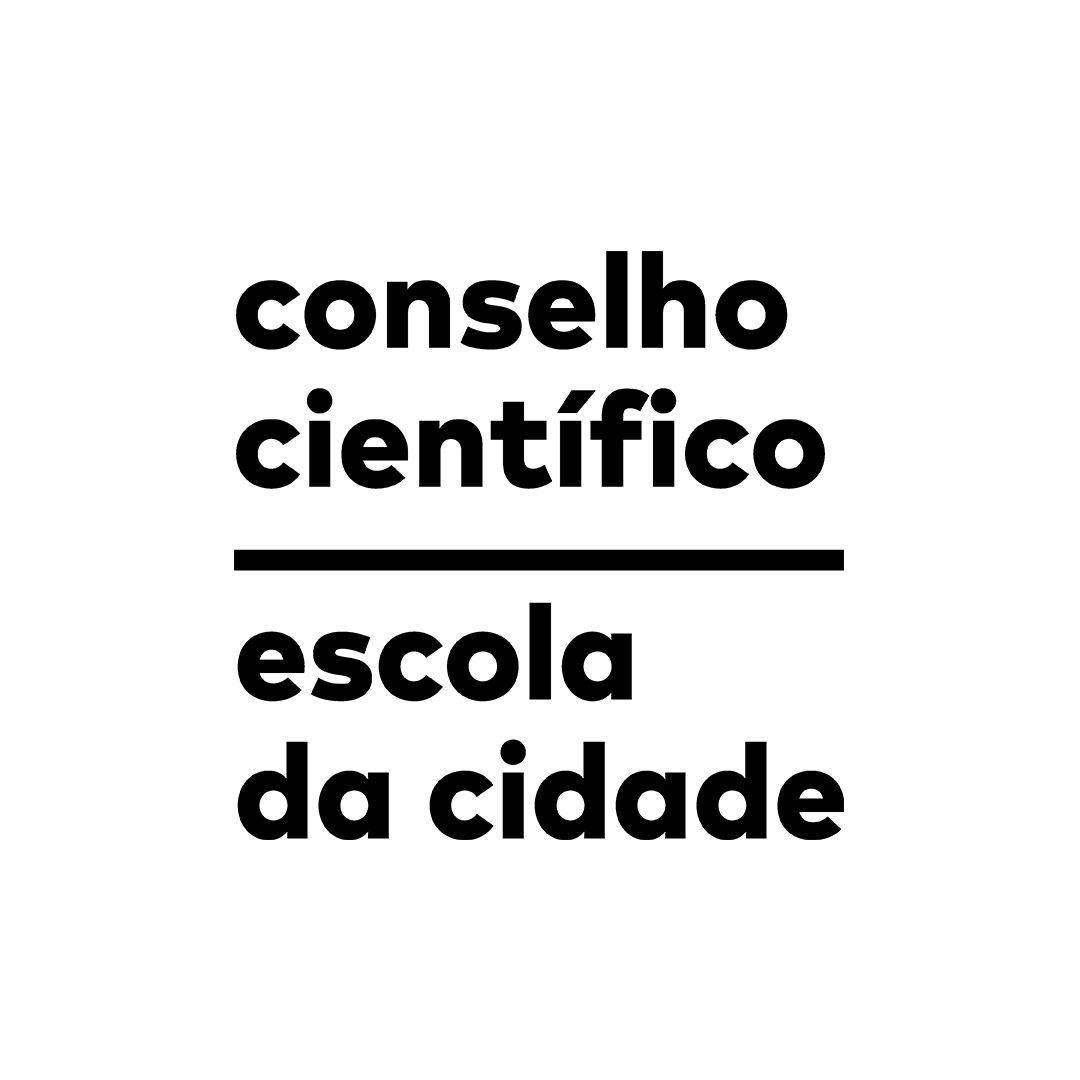Do discurso da conversão à ideia de civilização
A política de Portugal para os índios no período colonial pode ser sintetizada pela dupla estratégia de aldeamentos-guerras justas. Ambos os regimes, de certa maneira, implicavam no trabalho forçado dos índios, sendo que os aldeamentos se utilizavam da noção de liberdade indígena, ao passo que as guerras justas asseguravam aos colonizadores o direito de transformar os índios em escravos. A partir da segunda metade do século XVIII, essas práticas passaram a ser desconstruídas. O ápice desse processo foram as medidas de Sebastião de Carvalho e Melo, o marquês de Pombal, que era ministro do rei D. José, através do Diretório dos índios (promulgado em 1757 para o Estado do Maranhão e Grão-Pará, estendido para as demais capitanias em 1758). O aspecto central do Diretório foi a proibição das guerras contra os índios, bem como a gradual extinção dos aldeamentos, retirando dos padres jesuítas o controle sobre os índios, processo que culminou com o banimento da Companhia de Jesus dos domínios portugueses e espanhóis nos anos seguintes.
Nesse momento, vê-se a influência do pensamento iluminista e, ao mesmo tempo, algumas medidas para enfrentar os dilemas do modelo colonial: busca de controle territorial, com demarcação das fronteiras entre os domínios de Espanha e Portugal na América, controle sobre as missões jesuíticas que ficavam em territórios de limites, engajamento dos índios em trabalhos fora dos aldeamentos, incentivo para que os índios vivessem entre os demais colonizadores, inclusive favorecendo os casamentos interétnicos entre brancos e índios. As antigas aldeias que existissem deveriam ser gradativamente transformadas em vilas, dando um caráter mais civil e militar a essas povoações, que passariam a ser controladas não mais por um padre, mas por um Diretor, um funcionário nomeado pelas autoridades locais para controlar os índios.
Essas medidas significaram uma ruptura na forma como os índios eram tratados pelos colonizadores desde o início da conquista da América. No entanto, o Diretório dos Índios foi revogado quatro décadas depois, sendo extinto através de uma carta régia em 1798. Essa lei, pensada também para a situação do Maranhão e Pará, previa que os índios não precisassem mais do Diretório para se inserir na sociedade portuguesa. Além disso, poderiam ser engajados em serviços públicos, conforme as necessidades das autoridades das vilas, integrando os denominados Corpo de Trabalhadores, ou Corpo de Pedestres, e também as Milícias. Ao integrar essas tropas, os índios das matas eram obrigados ao trabalho, permitindo-se que cultivassem suas terras por alguns meses do ano.
A vinda da Corte portuguesa e a volta da guerra justa
No século XIX, no contexto das mudanças decorridas com a vinda da Corte portuguesa ao Rio de Janeiro, em consequência das guerras napoleônicas, o então príncipe-regente D. João decretou guerras contra alguns grupos indígenas em 1808. Essa diretriz contrariava os princípios de liberdade implementada no século anterior, mesmo que dentro das próprias limitações às quais essa liberdade indígena estava condicionada. Embora estivesse restrito aos índios considerados “bárbaros”, reputados como “intratáveis” aos luso-brasileiros que intentavam avançar sobre seus territórios, D. João a partir de então autorizou guerrear contra os índios e tomá-los como escravos por um prazo de 15 anos. Isso foi efetivado especialmente contra os índios de Minas Gerais (na divisa com Espírito Santo e Bahia) e na capitania de São Paulo (no território onde seria fundada a futura província do Paraná).
As guerras justas contra os chamados “botocudos” de Minas Gerais (na verdade eram diversas etnias, como os Gren, Aimoré, Maxacali) e os “bugres” de São Paulo (provavelmente povos Kaingang, Xocleng Guarani, Kaiowá) e sua escravização temporária não foram revogadas durante o processo de independência do Brasil, inclusive não se tratando do tema durante a Assembleia Constituinte de 1823. Embora houvesse alguns projetos de políticos e intelectuais do Império que visassem “civilizar” os índios para o desenvolvimento do Brasil, esses projetos não foram de fato implementados até a década de 1840.
Índios no Império do Brasil e os dilemas de incorporação à nação
O século XIX trouxe ao Ocidente os dilemas da formação nacional em sociedades que até então, em modelos típicos do Antigo Regime, eram compostas por populações estruturalmente desiguais do ponto de vista jurídico e econômico, que eram além de tudo pluriétnicas e muitas vezes compostas também por escravos, especialmente em territórios de antigas áreas coloniais. Como conciliar cidadania e liberalismo, princípios dessa nova ordem, dentro do antigo modelo societário? No caso do Brasil, a Constituição de 1824 foi uma das mais modernas do período, pois incorporou como cidadãos pessoas com uma faixa de renda mais baixa do que em outros países europeus, incluindo ainda os libertos e estrangeiros como eleitores.
A escravidão, mesmo sofrendo o discurso abolicionista e as sanções inglesas pelo fim do tráfico negreiro, continuou vigendo durante o Brasil Império, sofrendo inclusive um grande aumento no fluxo de escravos até 1850. A massa de escravos não era incorporada à cidadania, mas ao patrimônio dos cidadãos, que cabia ao Estado brasileiro salvaguardar. Em relação aos índios, na visão dos estadistas brasileiros, não comporiam nem a sociedade brasileira, pois serem inimigos dessa, nem alcançariam a cidadania, por estarem fora do corpo social. No entanto, não foi essa leitura que muitos grupos indígenas e não indígenas fizeram da letra da lei. Muitos movimentos em diversas províncias do Brasil no século XIX tiveram como base a reivindicação de índios de que tinham direito às terras de aldeias, ou que não poderiam ser obrigados ao trabalho, reivindicando para si também o status de cidadãos livres.
A principal política para os índios do Império surgiu em 1845 e foi um “Regulamento acerca das missões de catequese e civilização dos índios”, que tinha como principal baliza importar padres capuchinhos para cuidar da parte espiritual dos índios, ao passo que o controle de suas povoações deveriam ficar a cargo de diretores regionais, nomeados localmente em cada província, que por sua vez seriam fiscalizados por um diretor geral dos índios por província, esses nomeados diretamente pelo imperador. A lógica dessas novas missões, ou aldeamentos, era submeter os territórios indígenas ao sentido da Lei de Terras do Império, promulgado em 1850, que basicamente dividiu as terras entre públicas (devolutas) e privadas, conceito que inexistia no Antigo Regime já que todo território era considerado como de posse do rei. Assim, como os interesses do capital passaram a atingir a posse de terras, os índios passaram a ser retirados de territórios que ocupavam há décadas, ou até mesmo séculos, sendo confinados em unidades menores, sob controle de diretores e padres. Sistemas de trabalho considerados mais lucrativos para os grandes investidores, como a escravidão e posteriormente a imigração europeia, foram implantados em regiões consideradas estratégicas, onde grandes plantações passaram a ser instaladas, com estradas e ferrovias rasgando os outrora territórios indígenas.
Assim como no período colonial, os índios também foram utilizados como trabalhadores nas regiões periféricas, onde os trabalhadores mais lucrativos não eram enviados. Como eram localizados em pontos distantes do território, sem fiscalização dos agentes do Estado e às vezes com a conivência dos mesmos, os índios eram vítimas de práticas de extermínio se resistissem, e caso sobrevivessem, trabalhavam para os particulares, sem garantias de pagamento e em situação de completa exploração, que se configurava como um tipo de Trabalho escravo. Crianças indígenas eram arrancadas de suas famílias e “adotadas” por famílias mais abastadas, inclusive de imigrantes europeus, como nos Estados do Sul do Brasil, sendo mais um recurso de exploração da mão de obra indígena, uma vez que eram tratadas como criadas e criados domésticos, como mostrou o estudo de Luisa Tombini Wittmann, sobre o Estado de Santa Catarina.
Morrer se preciso for, matar nunca: um discurso em busca de efetivação
Na virada do século XIX para o XX um novo genocídio indígena foi desencadeado pelo avanço das frentes de expansão em vários Estados do Brasil. As proporções dessa matança foram semelhantes aos estragos causados no início da conquista da América pelos europeus. Ainda pouco conhecida do grande público, essas páginas de nossa história assemelham-se às disputas territoriais e aos massacres indígenas ocorridos quase na mesma época nos Estados Unidos, em sua “marcha para o Oeste”, romantizados e escamoteados pelos filmes de faroeste.
Um episódio dramático dessa realidade, deu-se com o primeiro diretor do Museu Paulista, sediado no bairro do Ipiranga, na cidade de São Paulo (conhecido hoje popularmente como “Museu do Ipiranga). Hermann von Ihering, um zoólogo que tinha a seu cargo as sessões de Etnologia, História, História Natural e Arqueologia, áreas que compunham o Museu, através de um artigo publicado em 1907 declarou que o caminho dos Kaingang, considerado por ele um povo “selvagem” habitante do interior de São Paulo, era a sua natural extinção. A declaração rendeu polêmica, a ponto de Ihering ter que justificar de que havia sido mal interpretado em sua declaração anterior.
Diante desse quadro de ataques às populações indígenas, acompanhado também de um discurso literalmente mais “progressista”, por conta da filosofia Positivista, que era um dos fundamentos da República do Brasil implementada em 1889, alguns segmentos sociais passaram a exigir do Estado brasileiro uma política de proteção ao índio, frente às práticas de violência e extermínio então predominantes.
Um dos ideólogos dessa corrente foi o Marechal do Exército Cândido Mariano Rondon, que liderando expedições para passagem de linhas de telégrafo em territórios indígenas nas fronteiras norte e oeste do país, ordenava às suas tropas cuidado e diálogo com as populações indígenas, propagando o seguinte lema: “Morrer se preciso for, matar nunca”. Sintetizando uma série de posições, foi esse princípio que norteou a criação do Serviço de Proteção ao Índio (SPI), criado em 1910.
Do SPI à FUNAI, em busca de um tratamento digno
A fundação do SPI foi um marco como a primeira política laica de Estado para as populações indígenas, tinha uma lógica protecionista, ainda que dentro do discurso civilizador, de que os índios deveriam evoluir a partir de seu estado “selvagem”, cabendo ao Estado fornecer garantias de que isso se desse de maneira pacífica. No entanto, a grande pá de cal, que enterrou esse órgão indigenista foram inúmeras denúncias ocorridas ao longo de anos contra os próprios agentes do SPI que eram coniventes, ou eles mesmos praticantes de atos de corrupção. Dentre as práticas ilícitas toleradas ou efetuadas pelo SPI tinham-se desvios de verbas, roubo de insumos naturais das terras indígenas, tomada de territórios, bem como escravidão e até mesmo assassinatos de índios. As denúncias eram bastante graves e montou-se uma Comissão Parlamentar de Inquérito no início da década de 1960 para verificar as denúncias. O procurador de Estado, Jáder Figueiredo Correia realizou uma devassa das contas, bem como realizou visitas aos Postos Indígenas controlados pelo SPI. O chamado “Relatório Figueiredo” foi divulgado em 1967 e contém inúmeras denúncias de torturas, condições de trabalho análogas à escravidão e assassinatos de índios. Embora a repercussão do caso tenha resultado na extinção do SPI, e ato contínuo, na criação da Fundação Nacional para o Índio (FUNAI), o Relatório foi dado como desaparecido num incêndio na década de 1970. No entanto, uma cópia do mesmo foi descoberta recentemente por pesquisadores do Museu do Índio e hoje é possível consultar as cerca de 7 mil páginas, que estão disponíveis online.
Através das mobilizações dos grupos indígenas, de estudiosos e políticos, os direitos indígenas foram assegurados na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Dentre esses direitos, o de ser índio, tendo seus conhecimentos tradicionais protegidos pelo Estado, a garantia que os índios tenham os mesmos direitos que os demais cidadãos, bem como a demarcação de terras indígenas, de posse e usufruto exclusivo de cada uma das comunidades indígenas ali reconhecidas. No entanto, assim com os demais cidadãos, os índios estão sujeitos às violações dos direitos humanos e a serem mantidos em condições de trabalho análogas à escravidão nos dias de hoje. Além de aliciados e sujeitos aos maus tratos pelos exploradores, também acabam vítimas de discriminação e racismo nesse tipo de ambiente de trabalho, ao conviver com outros brasileiros, sem nenhuma salvaguarda legal e respeito à diversidade cultural que representam. De todo modo, os marcos legais estão postos e a luta atual é pela manutenção dos mesmos e pelo seu efetivo cumprimento.