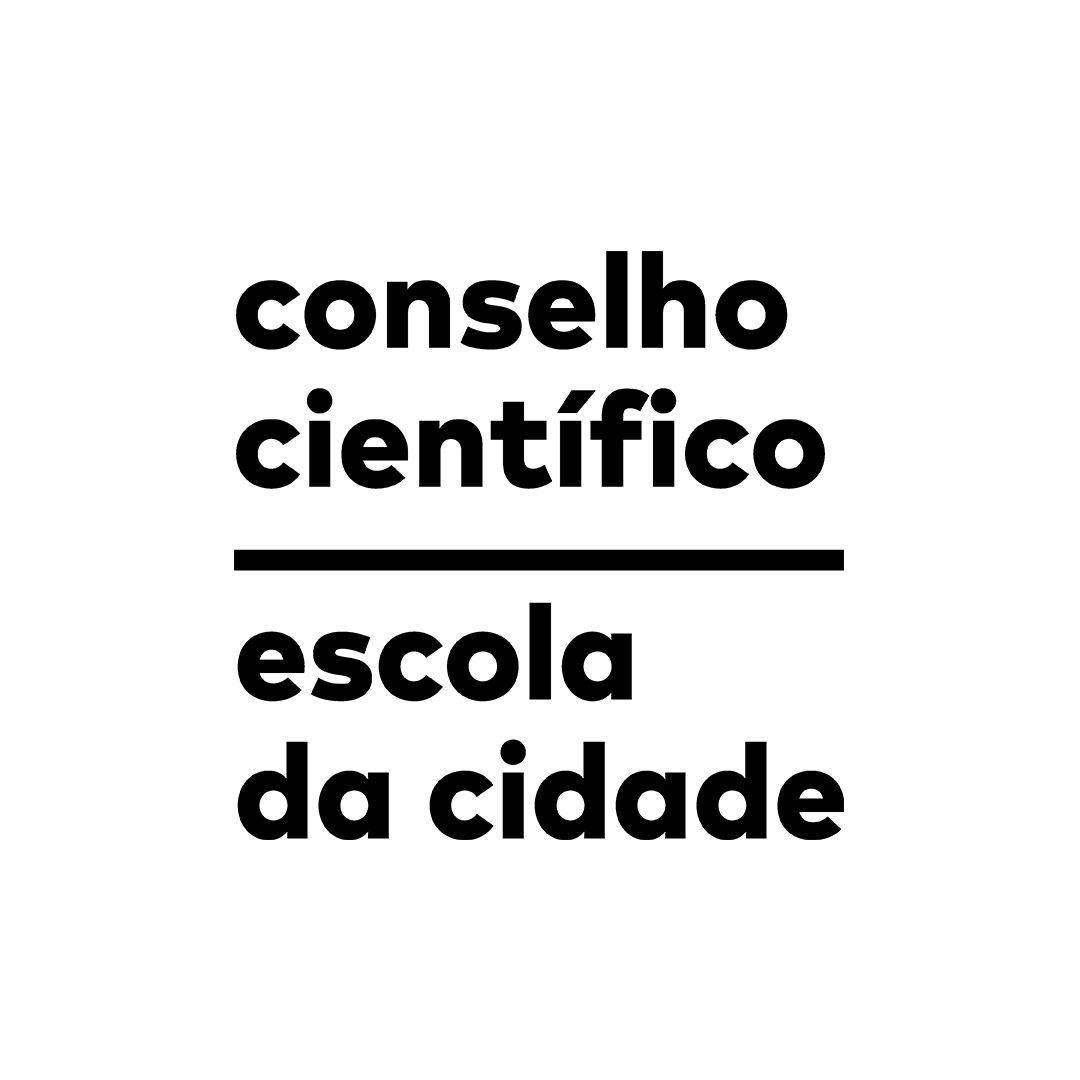O uso do turbante por mulheres brancas, um acessório historicamente associado à mulher de ascendência africana e às praticantes do Candomblé, repercutiu recentemente como um exemplo de apropriação cultural. A discussão fez levantar várias vozes, pró e contra essa leitura, mas também nos convida a refletir sobre a importância da vestimenta como símbolo de identidade.
Ainda no processo de escrita deste artigo, leio notícia sobre uma escola particular da cidade de Itajaí, em Santa Catarina, que instruiu um grupo de estudantes do ensino fundamental a se ‘fantasiar’ como favelados para uma dramatização escolar. Aos olhos de quem indicou essa tarefa há uma representação estética reconhecível e tão facilmente associada a um morador de favela a ponto de se constituir num traje alegórico.
No começo de junho de 2017, no famoso The Met, o Museu Metropolitano de Arte, em Nova York, a Google Culture and Arts lançou o projeto chamado We Wear Culture: the stories behind what we wear, uma plataforma digital que permite explorar o acervo de 180 museus de arte como o próprio Met, e de outras instituições culturais de mais de 40 países, incluindo participantes no Brasil, como o Museu Afro-Brasil, em São Paulo.
As coleções disponíveis, ligadas à moda, ao estilo e a vestimentas típicas, representam não só parte da história da cultura de cada lugar, sociedade e período , – como sugere o título do evento – mas a própria evolução da moda ao longo do tempo. A ideia da exposição é permitir acesso a cada peça por meio de imagens em alta definição, com a opção de se ver os detalhes impossíveis de serem vistos em fotos de redes sociais e, em alguns casos, dependendo das restrições de cada instituição, mesmo numa visita ao vivo. Muito mais do que isso, porém, o evento amplifica questões aparentemente simples como a significância do uso de determinadas peças e o que representam em dados contextos e períodos históricos.
Como a Google tão bem compreendeu, os trajes de cada período estão muito além do utilitário ou ornamental mas profundamente ligados à nossa cultura. Hoje, por exemplo, o chamado mundo fashion se vê sob escrutínio, seja porque a sustentabilidade das práticas de produção e dos produtos se faz urgente, seja porque em pleno século XXI grandes marcas de roupas e sapatos são acusadas de uso do trabalho em condições análogas à escravidão.
No caso específico do Brasil, como não poderia deixar de ser, a roupa se atrela inescapavelmente ao nosso passado e experiência escravocratas. Além de toda a carga de sofrimento já bem conhecida, os escravos negros também foram discriminados e marcados pela forma como se vestiam. A representação na pintura e fotografia talvez seja a forma mais evidente de perceber as diferenças entre o escravo africano nos Estados Unidos e no Brasil, por exemplo. Mesmo sem o olhar treinado dos estudiosos, é possível perceber que os escravos brasileiros aparecem quase sempre vestindo farrapos. Somente as escravas domésticas, amas ou mucamas, tinham direito a mais peças de roupas e algumas vezes a chinelos. Sim, porque escravos no Brasil não usavam sapatos.
A pedra (de toque) no sapato
Não há dúvida de que limitar o acesso a roupas e sapatos a seres humanos que além de tudo eram submetidos a Trabalho escravo é em si uma prática cruel. Mas além disso trata-se de uma estratégia deliberada de discriminação que teria vindo de longe. Acredita-se que já fosse adotada na Roma antiga como forma de marcar os que serviam e os que eram servidos, uma vez que nem sempre os fenótipos de um e outro eram diferenciáveis. E nesse sentido uma situação similar pode ser observada no Brasil nos casos em que negros livres ou forros adquiriam escravos. Uma imagem de Debret (por volta de 1820) aponta uma mulher negra, provavelmente liberta e portanto calçada e usando chapéu, seguida por um homem que carrega os produtos de seu comércio, supostamente seu escravo, descalço.
O aspecto econômico dessa prática, contudo, não pode ser descartado. Afinal, o caráter exploratório do Trabalho escravo no Brasil era ditado pelo máximo lucro com mínimo investimento. Consta que na lavoura de cana, era praxe que um escravo recebesse duas camisas e duas calças (ou duas saias para as mulheres) uma vez por ano. Trajes melhores eram reservados para artesãos e cativos domésticos e somente senhores “generosos” ofereciam paletós (Cunha, 1985, p. 61; Mattoso, 1982, p.134).
O estabelecimento de regras sobre a forma como um escravo negro devia se vestir teria desdobramentos e outras aplicações à medida em que as cidades passam a ser habitadas por negros livres. A forma de vestir poderia permitir acesso a um espaço antes exclusivamente branco ou torná-lo ainda mais hermético. Regras no sentido de estabelecer o que era apropriado vestir em determinados locais, limitavam sobremaneira a presença (cada vez maior) de negros livres e mulatos e sua mobilidade nos cenários urbanos, além de servir como instrumento de controle social, especialmente quando a escravidão já se esfacelava, na segunda metade do século XIX.
Enquanto os horrores das marcas a ferro quente, máscaras de flandres e cicatrizes de tortura pareciam coisas do passado, as imposições de vestimentas funcionavam como formas mais sutis de estigmatizar e controlar a população negra, agora presença crescente nas cidades. Tudo isso com a embalagem de modernidade que era tão cara ao ideário de fins do século XIX quanto excludente.
Sidney Chalhoub observa que “Os sapatos pareciam ser peças realmente decisivas nessas questões de escravidão e liberdade”. Ele relata um episódio verificado num processo cível que teve lugar em 1852, no qual uma viúva busca legalmente revogar as alforrias que ela própria concedera a dois de seus escravos, sob a condição de que ambos continuassem a servi-la até sua morte. A prática era, aliás, comum à época, sobretudo entre pessoas idosas, como forma de garantir fidelidade e cuidados em seus últimos dias. Na reclamação judicial, a viúva queixa-se que seus escravos não mais acatavam suas ordens e comportavam-se como se já fossem livres. Prova disso, segundo ela, é que o rapaz até mesmo andava calçado (Chalhoub, 1990, p. 133). Na mesma linha, Chalhoub lembra que Perdigão Malheiros, autor oitocentista do ensaio A escravidão no Brasil, que por anos foi referência de historiadores brasileiros, na tentativa de evidenciar que os escravos estavam recebendo tratamento cada vez mais humano, cita que nas cidades já era possível encontrar “escravos tão bem vestidos e calçados que ao vê-los ninguém dirá que o são”(Chalhoub, 1990, p. 134).
É previsível que a interpretação por parte das populações escravizadas tomem vários sentidos, mas sempre inseridos dentro da lógica de poder do sistema escraavocrata. O pesquisador francês L Gaffre conta que certa vez, em 1911, entrevistando uma ex -escrava em sua casa simples encontra sobre um móvel, em posição de destaque, um par de sapatos antigos. Tentando decifrar o uso dos sapatos como peça decorativa, ele descobre que um dia depois da assinatura da Lei Áurea, muitos dos escravos que deixavam as fazendas e locais onde até então tinham vivido em direção às cidades, correram às lojas e gastaram suas pequenas economias comprando sapatos. Como era de esperar, os pés desacostumados ao uso não podiam conformar-se ao espaço restrito dos calçados, gerando “o espetáculo mais inusitado como efeito da libertação”: “Negros e negras, em todas as cidades para as quais se dirigiam, passavam felizes e orgulhosos, com uma postura altiva, descalços, mas todos levando um par de sapatos por vezes à mão, como um porta joias valioso, ou por vezes a tiracolo, como as bolsas vacilantes da última moda mundana”(Wissenbach, 1998, pp. 53-54).
A situação parece ter sido prática comum entre libertos e forros, ou seja, mesmo antes do evento da abolição. Os sapatos, ainda que não nos pés, simbolicamente lhes asseguravam o status de liberdade. Nesse sentido é importante ressaltar que segundo o Censo de 1872, a população negra do Rio de Janeiro, representada por escravos e pessoas livres somava 44,4 % do total. Considerada somente a população negra, 59,9% era livre e 40% escrava. Resumindo, de cada cinco habitantes de cor da Corte em 1872, três eram livres e duas escravas (Chalhoub , 2012, 230). O que esses dados demonstram é que os símbolos associados à liberdade e a forma como são adotados ou adaptados pelas populações que foram submetidas à escravidão tenham talvez um peso maior do que simples vaidade. Certamente se constituíam em uma forma de apropriação de valores, o que não impede necessariamente sua ressignificação como articulação de resistência ou no processo de afirmação de identidades.

Machado, espelhos e botas
Com relação à identidade vale sempre revisitar Machado de Assis. No talvez mais célebre entre seus mais de 200 contos, “O Espelho: esboço de uma nova teoria humana” (publicado pela primeira vez em 1882, na Gazeta de Notícias e fez parte da coletânea Papeis Avulsos, do mesmo ano), o narrador faz conjecturas sobre a existência de duas almas, uma interior e outra exterior. Na juventude, o protagonista do conto, depois de ter sido nomeado como alferes da Guarda Nacional, se deixa deslumbrar de tal forma pelo impacto positivo que sua farda causava nas pessoas a seu redor que passa a se tornar dependente dele. O ápice desse sentimento ocorre quando, circunstancialmente, ele se vê sozinho e isolado no sítio de uma tia.
Para sobreviver à solidão e a uma espécie de crise de identidade que o assola, o jovem alferes passa a vestir-se com a farda todos os dias e a mirar-se no espelho da casa que havia sido gentilmente cedido a ele pela tia, como uma das mais destacadas formas de agradá-lo. Sem a farda, o alferes nem pode ver sua imagem refletida no espelho. Despido do glorioso uniforme, ele deixa de existir.
O conto, como se sabe, já recebeu interpretações das mais variadas correntes críticas literárias, históricas e psicanalíticas ao longo da história e não cabe rediscuti-lo nesse curto ensaio. No entanto aponto que para Raymundo Faoro a alma exterior da qual trata Machado no conto, “[S]e compõe de fios que unem a sociedade. As relações humanas, o prestígio mundano, os complexos de poder (Faoro 539). O tema pode ser reencontrado em vários dos trabalhos de Machado, como tão bem frisa Faoro, entre eles os contos “O segredo de Bonzo”, “Teoria do medalhão”, “O dicionário” , na novela “O alienista” e até entre os romances, notadamente Memórias Póstumas de Brás Cubas, Helena e Iaiá Garcia.
Em cada um dos textos referidos é possível reconhecer a fina mas mordaz ironia Machadiana e sua crítica à superficialidade de certos valores da chamada ‘alma exterior’. Nesse sentido, Faoro entende que em “O Espelho” Machado de Assis parece nos dizer que a alma interior, representando o homem, a natureza humana, se deixa evaporar na ‘segunda natureza’, no caso simbolizada pela farda de alferes. Ele defende que o olhar moralista de Machado, mais do que simplesmente observar, julga a atitude do personagem como a de alguém que deixou que o lado falso usurpasse o ‘lado verdadeiro’ (p. 539).
Somando-se à leitura de Faoro, acrescento que ainda que a ênfase de cada trama possa colocá-las em categorias diversas, a mim me parece que a questão da identidade é de grande relevância na interpretação deste conto em particular e dos outros trabalhos lembrados por Faoro. A sobreposição de uma imagem artificialmente elaborada, como forma de sobreviver na sociedade em que Machado navega, seja criando falsas filosofias como as do Bonzo seja adotando teorias sarcásticas como as do medalhão, nos dá bem a medida de sua perspectiva sendo ele próprio mulato, de origem humilde e ao mesmo tempo escritor reconhecido, fundador da Academia Brasileira de Letras e estável funcionário público, casado com respeitável mulher branca.
Por outro lado, é também verdade que Machado reconhece que para determinados sujeitos da história, relegados aos papeis mais subalternos da sociedade brasileira, alguns símbolos não podem ser tomados como simples manobras ou artífices. Isso pode ser encontrado em várias passagens da sua vasta produção literária e se apresenta de forma mais evidente em um conto bem pouco conhecido: “”Último Capítulo”.
No texto, também publicado primeiramente na Gazeta de Notícias, em 1883, e coletado em Histórias sem Data, de 1884, um homem cansado de sua insistente falta de sorte resolve matar-se sem deixar qualquer nota até que um incidente ocorrido poucas horas antes do meio-dia, horário marcado para seu planejado suicídio, ocorra. Segundo o personagem, Matias, descrente de que pudesse encontrar a felicidade sobre a terra, resolve preparar-se para “o grande mergulho na eternidade” foi então que passou sob sua janela um homem que ele conhecia de vista e, segundo conta, uma “vítima de grandes reveses”:
“[M]as ia risonho, e contemplava os pés, digo mal, os sapatos. Estes eram novos, de verniz, muito bem talhados, e provavelmente cosidos a primor. Ele levantava os olhos para as janelas, para as pessoas, mas tornava-os aos sapatos, como por uma lei de atração, anterior e superior à vontade. Ia alegre; via-se-lhe no rosto a expressão da bem-aventurança. Evidentemente era feliz; e, talvez, não tivesse almoçado; talvez mesmo não levasse um vintém no bolso, Mas ia feliz e contemplava as botas.” (p. 75)
Será a felicidade, indaga o narrador, um par de botas? O fascínio do homem por seus belos calçados superando todas as agruras que a vida lhe apresentava encantaram o narrador-suicida:
“Nenhuma preocupação deste século, nenhum problema social ou moral, nem as alegrias da geração que começa, nem as tristezas da que termina , miséria ou guerra de classes, crises da arte e da política, nada vale para ele um par de botas. Ele fita-as, ele respira-as, ele reluz com elas, ele calca com elas o chão de um globo que lhes pertence. Daí o orgulho das atitudes, a rigidez dos passos e um certo ar de tranquilidade olímpica. Sim, a felicidade é um par de botas.” (pp. 75-6).
Por tudo isso, ele conclui o conto dizendo que não bastaria comprar botas para si mesmo, mas as distribuiria para fazer mais gente feliz. “A felicidade proporcionada pela ‘alma exterior’ nesse caso implica numa válvula de escape, não estratégia premeditada para se tirar vantagem de uma situação ou explorá-la para prejudicar alguém. O homem das botas busca simplesmente sentir-se digno aos olhos de si mesmo e, por conseguinte, do outro.”(Vital, 2012, p. 159).
Embora em nenhum momento Machado ou seu narrador tenha informado se o passante é negro, o fato de ser o objeto em questão um par de botas me parece especialmente representativo do período histórico no qual o escritor viveu, que não pode ser dissociado da escravidão e de suas implicações em diversos níveis num país que tentava redesenhar sua identidade.
Ao destacar, por meio de seu narrador, a importância do sentimento de um homem que passa feliz calçando botas novas, ou seja, de um sentimento aparentemente banal, Machado de Assis de alguma forma antecipa e ilustra parte da teoria de Stuart Hall.
Hall entende a identidade como a “sutura” entre, de um lado, discursos e práticas que nos interpelam e posicionam como sujeitos sociais de discursos particulares; e, de outro, o processo que produz subjetividades e que nos constrói como sujeitos. Segundo Hall, as identidades são posições as quais o sujeito é obrigado a adotar ainda que consciente de que sejam representações. Ele ressalta, porém, que essa sutura tem de ser pensada como uma articulação e não como um processo de mão única (Hall , 2000, p.19).
O personagem com suas botas novas recebe de fora os valores que as associam a certo status, mas é ele quem agora se deixa deslumbrar por elas. “Ainda que quem o veja não possa enxergar além de um miserável, iludido por um falso artifício de poder, seu semblante feliz demonstra que o importante é o que ele sente e como se vê nesse momento”(Vital, 1998, p.164). Na já clássica leitura weberiana de Clifford Geertz , o antropólogo defende que o homem é um animal suspenso em teias de significado que ele próprio teceu e que essas teias representam a cultura(Geertz, 1978, p. 5). Os significados forjados durante os mais de trezentos anos de escravidão no Brasil foram tecidos por todos os envolvidos, incluindo a população escravizada. Interpretar suas representações culturais pode nos ajudar a desconstruir falsas asserções, especialmente no que se refere à falta de agência dessa população, e a melhor compreender os efeitos desse sistema ainda nos dias de hoje, em episódios que cotidianamente nos cercam.
Referências
We wear Culture
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/project/fashion CHALHOUB, Sidney. Visões da Liberdade: Uma história das últimas décadas da escravidão na corte. São Paulo: Companhia das letras, 1990.
________ . A Força da Escravidão: Ilegalidade e costume no Brasil oitocentista. São Paulo: Companhia das Letras, 2012
CUNHA, Manuela Carneiro da. Negros, estrangeiros: Os Escravos Libertos e sua Volta à África, São Paulo: Companhia das Letras, 2012 (1985).
FAORO, Raymundo. Machado de Assis: A pirâmide e o trapézio. São Paulo: Globo, 2001. Geertz, Cliford. A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: Zahar, 1978.
HALL, Stuart. “Who needs identity”. In Identity: a reader. Ed. Paul du Gay, Jessica Evans e Peter Redman. Londres: Sage Publications, 2000.pp. 15-30.
MACHADO DE ASSIS, Joaquim Maria. Contos: uma antologia. 2 vols. São Paulo, Companhia das Letras, 2004.
MATTOSO, Kátia de Queirós. Ser Escravo no Brasil, São Paulo, Editora Brasiliense, 1982.
VITAL, Selma. Quase Pretos, Quase Brancos: Representação étnico-racial no conto machadiano. São Paulo: Intermeios, 2012.
WISSEBACH, Maria Cristina Cortez. “Da escravidão à liberdade, dimensões de uma privacidade possível”. In: História da vida privada no Brasil República: da belle époque à era do rádio. Ed. Fernando Novais e Nicolau Sevcenko. Vol 3. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. pp.49-130.