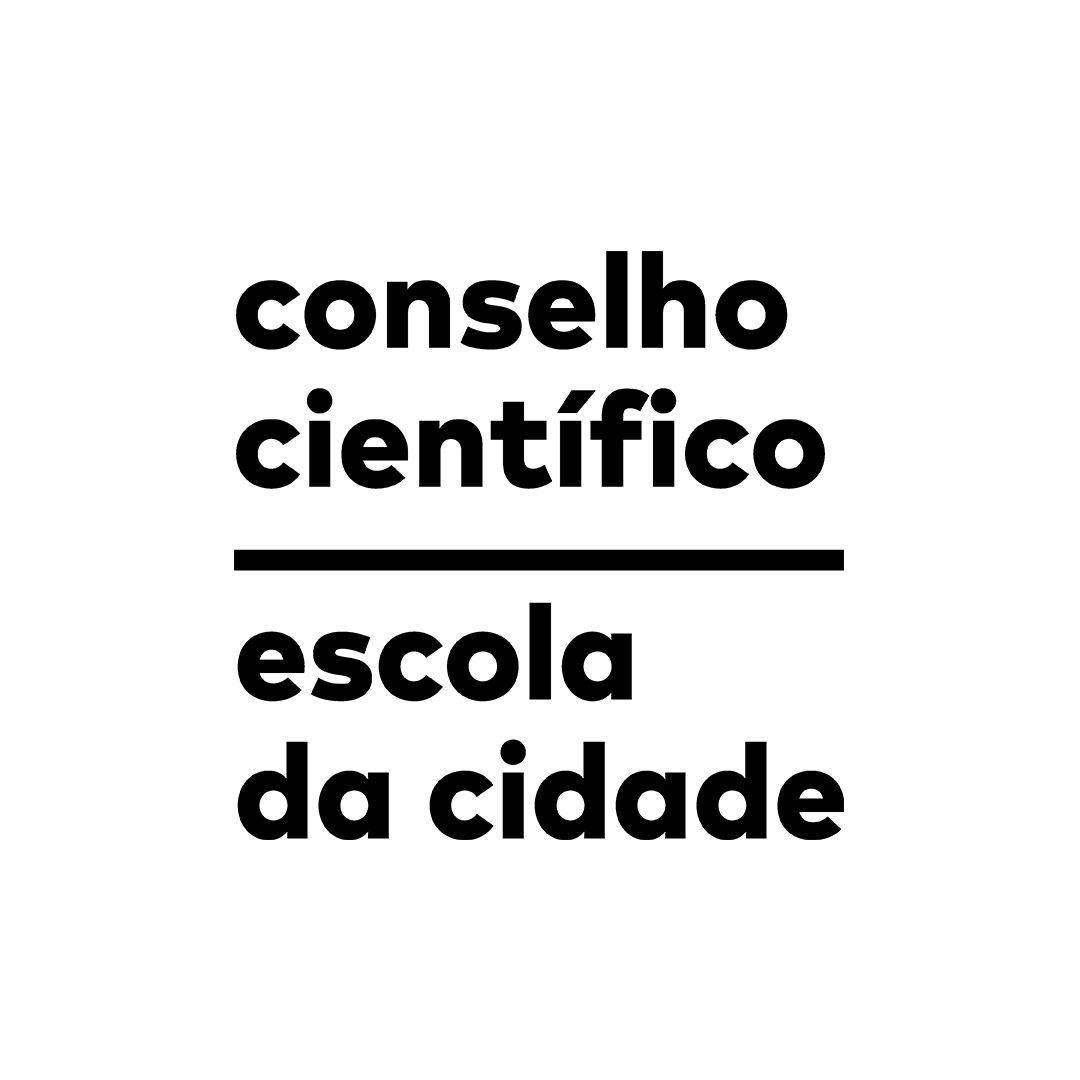Os trabalhadores do Terminal 3 do Aeroporto de Guarulhos ganharam visibilidade quando as condições extremas de exploração a que estavam submetidos foram denunciadas. De outra forma, dificilmente ouviríamos falar deles. Em geral, aqueles que detêm o poder prescritivo também detêm o monopólio da autoria – e a história hegemônica da arquitetura, desinteressada pelo canteiro, acaba reforçando o apagamento do trabalho. É com base nesse silêncio que as violentas condições de produção da arquitetura se perpetuam.
No ensaio Um ponto cego no projeto moderno de Jürgen Habermas: arquitetura e dimensão estética depois das vanguardas, Otília e Paulo Arantes estabeleceram um argumento importante a respeito da experiência de Brasília. Em oposição ao discurso que minimizava os descompassos entre a racionalidade pretendida pelos arquitetos e a base social e produtiva brasileira, os autores afirmam categoricamente que estas incongruências não eram equívocos sem maior significado e que foram justamente as condições de exploração do trabalho da periferia do capitalismo que permitiram que o projeto moderno se desenrolasse ao pé da letra 1.
De qualquer forma, foram necessárias mais de duas décadas desde a inauguração de Brasília para que suas violentas condições de produção – absolutamente compatíveis com a definição contemporânea de Trabalho escravo – viessem à tona em trabalhos como o livro Construtores de Brasília, da socióloga Nair Bicalho de Souza (Petrópolis: Vozes, 1983) ou o filme Conterrâneos velhos de Guerra, de Vladimir Carvalho. Este longo silêncio nos obriga a olhar criticamente para a historiografia da arquitetura e nos faz supor que a permanência dessas condições de trabalho na contemporaneidade não pode prescindir do seu devido apagamento.
Pouquíssimos autores denunciaram este silêncio a respeito das circunstâncias produtivas da arquitetura. No contexto brasileiro, um dos poucos a levar esse tema a sério foi Sérgio Ferro, que chegou a propor o que seria, de acordo com ele, uma história da arquitetura vista do canteiro: “uma história de suas adaptações às diferentes etapas da exploração da força de trabalho pelo capital, mediada pela função de construção dentro da economia política”. Seu interesse, portanto, seria o de investigar como, em diferentes épocas, esta contradição se manifestou, deixando de lado a história convencional, “que se ocupa da passagem de arquiteto a arquiteto, de corrente a corrente, de estilo a estilo” 2.
É essa perspectiva historiográfica que permite a ele, por exemplo, desmontar o discurso que situa o Convento de La Tourette como grande ícone – e mesmo a origem – do brutalismo. Através de uma minuciosa pesquisa sobre a concepção e o canteiro do convento, Ferro nos prova o inverso, mostrando toda a discrepância que existe entre a concepção do projeto e sua verdade construtiva:
Ora, estudamos em detalhe as plantas de concreto do convento: nada disso, não há regularidade alguma, praticamente só casos particulares, adaptações, perfis variados, etc. Os pilotis, que parecem se repetir, variam de forma, ora retangulares, ora circulares, ora em “pente” (nomenclatura dos arquitetos). Subindo pelo prédio, se alteram ainda, viram colunas redondas, saem do alinhamento e, lá em cima, desaparecem no interior das paredes. Contra a lógica mostrada – esqueleto regular preenchido livremente, antecipação de possível industrialização –, troca de favores, o constante compromisso, a volta à péssima manufatura, a da solução precária, do jeitinho, confundidora da sequência produtiva racional. O que parece bem pensado frequentemente é obra do acaso. […] Tanto o projeto quanto a condução do projeto e de suas relações com o canteiro se afastam muito do modelo de precisão e previsão mecânicas que a plástica mostrada nos faz supor. A programação exigente e exata sugerida esconde uma manufatura bagunçadíssima 3.
Este pequeno trecho da análise de Ferro sobre La Tourette já evidencia a inflexão da perspectiva historiográfica proposta pelo autor: a materialidade da obra, sua “estrutura real”, é lida a partir do canteiro, do conflituoso “processo produtivo sob o capital” – ao contrário da historiografia corrente, cuja interpretação da obra parte em grande medida do discurso dos próprios arquitetos. É a partir deste discurso – visto como “fundador” –, que, segundo o autor, os historiadores nos conduzem a focalizar apenas a casca da obra, e “fornecem os atributos que devemos aceitar”. Assim, continua Ferro, “quando visitamos a obra, vemos uma encarnação do modelo, completamos mesmo as lacunas para adaptá-lo a elas” 4
Comparando a leitura de La Tourette feita por Ferro com o famoso artigo publicado por Colin Rowe na revista Architectural Review sobre a mesma obra, o antagonismo entre as perspectivas de análise fica evidente:
Em 1920-21, nos artigos do L’Esprit Nouveau, que depois seriam compilados em Vers une Architecture, surgiu a primeira evidência pública da intensa preocupação de Le Corbusier com a Acrópole de Atenas: “A aparente desordem do plano só poderia enganar quem fosse profano. O equilíbrio não é, de forma alguma, insignificante. Foi determinado pela célebre paisagem que se estende do Pireu ao Monte Pentélico. O plano foi concebido para ser visto à distância: os eixos acompanham o vale e os falsos ângulos retos foram construídos com a habilidade de um grande encenador… O espetáculo é monumental, elástico, nervoso, esmagadoramente aguçado, avassalador… Os gregos na Acrópole dispuseram templos que são animados por um único pensamento, incorporando a paisagem desoladora em torno deles à composição”.
Não é necessário continuar. Mas em La Tourette, uma vez que não há nem Pireu, nem Pentélico; uma vez que somos apresentados mais a uma espécie de Escorial que propriamente a um Partenon; uma vez que o velho château, em parte uma casa de campo, em parte a realização de um desejo involuntário do Segundo Império, certamente não é o melhor candidato ao papel de Propileu – embora as diferenças sejam tão óbvias que mal precisam ser reforçadas –, ainda há certos padrões de organização – como a composição de uma perspectiva frontal com uma de três-quartos, o impacto das direções axiais, uma tensão entre movimentos longitudinais e transversais, e sobretudo, a interseção de experiências, uma arquitetônica e outra topográfica – que, para o iniciado, podem sugerir o fato de que a mecânica espacial do recinto monástico é, possivelmente, um tipo de comentário particular ao material da Acrópole 5.
A análise do historiador francês Jean-Louis Cohen, por sua vez, caminha na mesma direção. No breve comentário que faz a respeito do Convento de La Tourette em seu manual – O futuro da arquitetura desde 1989 –, o autor conduz sua interpretação a partir do discurso do próprio Le Corbusier:
Tendo visitado mosteiros no Val d’Ema, na Itália, e no Monte Athos, na Grécia, em sua juventude, Le Corbusier havia declarado que a vida monástica era “heróica”. Quarenta anos depois, o sucesso em Ronchamp lhe valeu uma encomenda dos dominicanos para conceber “um lugar de meditação, de estudo e de oração para os frades predicantes”, que viria a ser o Convento de Sainte-Marie-de-la-Tourette (1953-60), em Eveux-sur-l’Arbresle, perto de Lyon. Invertendo a figura do claustro do mosteiro cisterciense de La Thoronet, ele dispôs os deambulatórios em cruz no pátio central, configurado pelos quatro corpos principais do edifício: a grande caixa da igreja e, nos outros três lados, os blocos de celas dos frades. Entre eles, as áreas coletivas incluem o refeitório e a biblioteca abertos para o declive do terreno. A luz é matéria-prima do convento, tanto quanto o concreto. Canalizada por poços de iluminação, ela é vertida sobre o altar da igreja como feixes de raios coloridos. Recortada pela vidraças dos deambulatórios – que Le Corbusier descreveu como “ondulatórios”, porque o espaçamento das barras verticais dos caixilhos varia ritmicamente seguindo o dimensionamento do Modulor –, ela modela hora a hora a percepção dos volumes do claustro 6.
Os textos de Rowe e Cohen parecem cumprir precisamente a função “efetiva e poderosa” que Ferro descreve como retórica do verossímil: “leem por nós, enfiam sua interpretação em nossa cabeça – e nos dispensam de pensar ou desconfiar. Caímos no seu fascínio: é o que passa por ser arrebatamento estético” 7.
A perspectiva historiográfica adotada por estes autores, portanto, não parte de um mero desinteresse pela história do canteiro, mas de um ocultamento deliberado. O silêncio a respeito do processo produtivo implica num tipo específico de tematização: plasticidade, forma, ritmo, proporção, etc.
Na medida em que constroem suas narrativas apenas a partir daquilo que é visível – esses historiadores necessariamente se tornam incapazes de enxergar o processo. Consciente deste problema, Ferro aponta outro caminho. Para ele, a história da arquitetura jamais poderia abrir mão de investigar o processo de produção:
Os artistas sabem disto: é o momento da gestação, da produção que conta. É neste momento em que outra lógica, a do trabalho livre, muito diferente de nossa lógica linear e isotópica, entra em cena. Entretanto, terminada a produção, o dinamismo vivo do fazer se congela no resultado estático. Como, entre nós, não há o menor interesse em destacar o trabalho vivo, explorado e massacrado, o desenho de arquitetura tende a valorizar a imobilidade da forma em vez de registrar seu devir, sua formação. Quase todos os critérios da estética arquitetural – harmonia, equilíbrio, “jogo sábio dos volumes”, etc. – acentuam a estaticidade da obra. Na direção contrária, a agitação formal de Gehry, Libeskind e cia., conta somente a movimentação da mão que projeta, do suposto ato criador. Isto não é o registro da progressão da ação construtiva lúcida, mas outra forma de denegá-la, sinal da dominação abusiva da prescrição sobre a realização. Como a prescrição hipostasiada é componente do capital, tais desenhos contam, no fundo, a dominação absoluta do capital sobre o trabalho – e, como em geral são fantasiosas, sem lastro técnico, contam mais precisamente a dominação do capital financeiro sobre a produção menosprezada 8.
Embora pareça um desdobramento natural de suas reflexões, esta perspectiva historiográfica – de uma história da arquitetura vista a partir do canteiro –, contém um ineditismo que não devemos deixar de notar. Mesmo Tafuri, com seu método rigoroso baseado na “verificação do papel histórico da ideologia 9” – ou das “representações”, termo que adotou posteriormente –, jamais se dedicou a investigar a história do canteiro.
As contribuições de Ferro, se levadas a sério, poderiam nos fazer avançar no sentido de pensar uma outra historiografia, que além da história do canteiro, também poderia se ocupar daquilo que poderíamos definir como um “processo de mediação de poderes, saberes e desejos” que se dá permanentemente – de forma mais ou menos evidente, embora sempre assimétrica – entre arquitetos, construtores e usuários ao longo de todas as etapas relacionadas à concepção, construção e apropriação de qualquer objeto arquitetônico.
Para tanto, seria fundamental buscarmos equilibrar o protagonismo dos arquitetos e de seus discursos com demais agentes envolvidos no processo – circunstância que poderia ser pensada, a partir de Foucault 10 , nos termos de uma possível inversão na “ordem do discurso”, ou pelo menos, na desestabilização desta.
Trata-se, portanto, de experimentarmos uma história que assume como objeto prioritário de análise o próprio processo que originou a arquitetura, num contraponto direto à história corrente, que parte da arquitetura enquanto forma, – com toda a mistificação, “representação”, ou “ideologia” que este termo permite embutir.
Essa outra historiografia deve ser experimentada não apenas para romper com o silêncio a respeito das violentas condições de produção da arquitetura, mas também para confrontar essa mesma arquitetura com experiências críticas ou alternativas onde são experimentados agenciamentos singulares entre os saberes/poderes de arquitetos, construtores e usuários. Não por acaso, essas experiências são frequentemente esquecidas pela história hegêmonica da arquitetura – e quando abordadas, têm sua potência diluída na medida em que a dimensão “participativa” ou “processual” que as singulariza é invisibilizada em favor da forma.
Notas de Rodapé
- ARANTES, Otília; ARANTES, Paulo. Um ponto cego no projeto moderno de Jürgen Habermas: arquitetura e dimensão estética depois das vanguardas. São Paulo: Editora Brasiliense, 1992. p. 88-90
- FERRO, Sérgio. A história da arquitetura vista através do canteiro: três aulas de Sérgio Ferro. São Paulo: GFAU, 2010. p. 21
- FERRO, Sérgio. Arquitetura e trabalho livre. São Paulo: Cosac & Naify, 2006. p. 215-218
- Idem p.222
- Tradução livre de ROWE, Colin. Dominican Monastery of La Tourette, Eveux-sur-Arbresle, Lyon. The Architectural Review Magazine, Junho de 1961. p. 401-410
- COHEN, Jean-Louis. O futuro da arquitetura desde 1989. São Paulo: Cosac Naify, 2013. p. 326
- FERRO, Sérgio. Arquitetura e trabalho livre. São Paulo: Cosac & Naify, 2006. p. 221
- FERRO, Sérgio. A história da arquitetura vista através do canteiro: três aulas de Sérgio Ferro. São Paulo: GFAU, 2010. p. 29-30
- TAFURI, Manfredo. (1975). Arquitetura e Historiografia: uma proposta de método, in: Desígnio: revista de história da arquitetura e do urbanismo, São Paulo, n. 11/12, março de 2011. p. 22
- FOUCAULT, Michel. (1970). A ordem do discurso. São Paulo: Edições Loyola, 1996