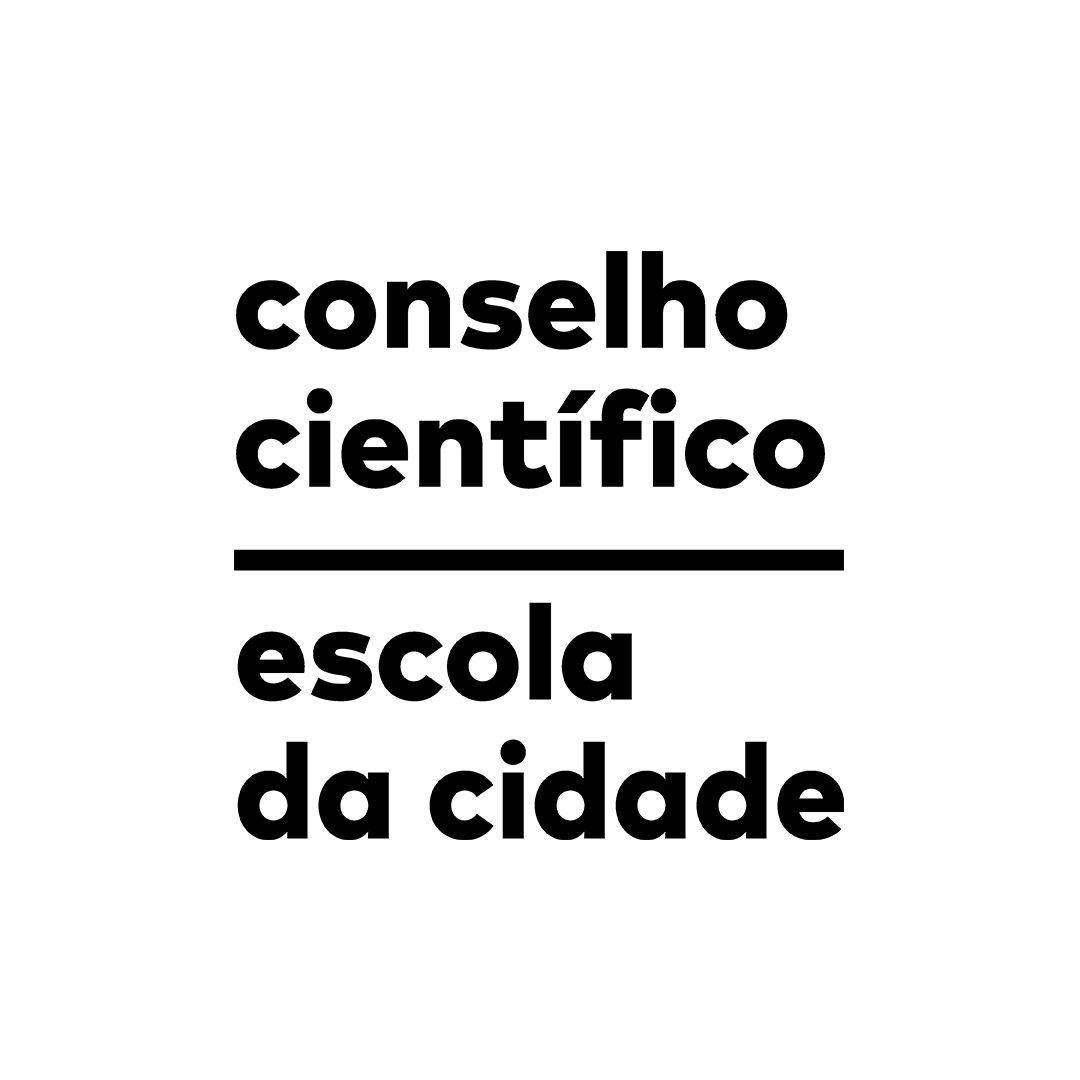Neste texto, publicado originalmente na revista Urbânia 3 (São Paulo: Editora Pressa, 2008), os associados da Usina CTAH procuraram estabelecer o contexto histórico e alguns pressupostos importantes a respeito dos mutirões habitacionais e da autogestão praticada pelos movimentos populares no Brasil, procurando divulgar essas experiências – e as problemáticas associadas a elas – para um público mais amplo.
Os canteiros de obra geridos pelos movimentos populares nas cidades e em assentamentos de reforma agrária, mobilizando fundos públicos para a construção de habitações, escolas e espaços coletivos, foram e talvez ainda sejam lugares de experimentação em diversos níveis. Esses “mutirões” representam um locus de invenção de práticas autonomistas e de fortalecimento das organizações populares, com repercussões visíveis, a começar pela própria qualidade do espaço ali inventado e construído – muito diferenciado dos conjuntos habitacionais convencionais ou da construção por conta própria pelos moradores de periferia.
O encontro entre universitários e o “povo brasileiro”, que se esboçava na véspera do golpe de 1964 e que fora bruscamente interrompido, parecia, a partir da segunda metade dos anos 1970, finalmente estar ocorrendo na prática – e a luta por moradia era um desses encontros. Eram sobretudo arquitetos e assistentes sociais que partiam para as periferias e favelas procurando estabelecer um novo tipo de vínculo, uma militância prática e cotidiana, configurando certa organicidade com as comunidades e movimentos em formação. Era ainda um período de repressão aberta do regime militar e, por isso mesmo, definia por parte dos movimentos urbanos uma desidentificação com o aparelho do Estado, ao mesmo tempo em que demandava deste mais recursos para políticas sociais.
O lema da autogestão como alternativa para a organização dos trabalhadores, sempre associado a uma disputa pela repartição da riqueza socialmente produzida, por meio da utilização do fundo público, ocupações de terras e manifestações de todos os tipos, aparece com essa condição histórica peculiar: cobra uma política pública e ao mesmo tempo recusa a intervenção do aparelho estatal como agente implementador (de cima para baixo). Há, assim, um caráter aparentemente paradoxal na reivindicação de uma autogestão que é dependente do fundo público, constituindo um campo de semi-autonomia, altamente conflituoso, que oscila entre a necessária repartição da riqueza e uma perda progressiva de independência de suas organizações. Essa “autogestão à brasileira” esteve associada também a uma cultura organizacional e a valores do cristianismo progressista das comunidades de base, muito mais do que a uma motivação política anarquista ou socialista.1
A chamada “redemocratização” do país, num quadro de crise da dívida externa e consequente redução de gastos públicos, colocou à prova as práticas autonomistas de gestão popular que, aos poucos, foram sendo resignificadas. As novas políticas públicas que começam a ser definidas num contexto de abertura democrática associada à crise do desenvolvimentismo e à intervenção direta de organismos multilaterais, como o FMI, a ONU e o Banco Mundial, inesperadamente começam a verificar “virtudes” na capacidade dos pobres de se responsabilizarem por sua própria reprodução social. Ao mesmo tempo, ocorrem as primeiras vitórias eleitorais do Partido dos Trabalhadores (PT), com a conquista de diversas administrações municipais, fato que estimula uma inesperada aliança estatal com os movimentos sociais e a invenção democrática das políticas públicas pós-ditadura, entre elas a de habitação – cujo grande campo experimental, com os mutirões autogeridos, foi a administração de Luiza Erundina na prefeitura de São Paulo (1989-1992).
A promessa de uma transição democrática para um país mais integrado e equitativo, entretanto, carecia de base material para de fato acontecer. O crescimento da esquerda e de suas organizações ocorria em paralelo à crescente inviabilização da formação nacional e mesmo de qualquer horizonte de desenvolvimento – a não ser, como sempre, na condição de território para especulação, predação e negócios transnacionais. As novas políticas públicas pós-regime militar irão se deparar com o desafio de combater a pobreza num quadro de crescente escassez de recursos – o que levará ao desenvolvimento de mecanismos avançados de gestão de populações pobres num quadro de desmanche social. O Brasil e, em especial, o PT e o terceiro setor tornaram-se uma máquina de produzir “boas práticas”, quase sempre inócuas do ponto de vista de uma transformação estrutural mais ampla.
Em linhas gerais, esse é o desastre com que nos defrontamos e no qual se insere o debate sobre as iniciativas populares de autogestão de fundos públicos em políticas sociais, como os mutirões habitacionais. O imbróglio atual está em se conseguir definir o significado dessa “autogestão” num quadro de catástrofe social e desresponsabilização do Estado em relação aos custos de reprodução social da classe trabalhadora. Enfim, guardaria a autogestão ainda a dimensão da velha política da luta de classes e de constituição de um “poder popular” no sentido de uma ruptura anticapitalista – ou ao menos de resistência consciente a este sistema – ou teria ela definitivamente deslizado para o campo das novas formas de administração da pobreza e “culpabilização das vítimas” num quadro político conservador e neoliberal?
O problema da indistinção discursiva
A construção de ações do movimento social fora do Estado, sem prescindir da utilização do recurso público (o que leva aos seus paradoxos), é um espaço importante para o fortalecimento das lutas e práticas populares – com a construção de um outro poder. Um nó que, tratado em termos de welfare, não desata: é uma esfera pública pelo avesso, pela negação da sua não-existência no Brasil. Estamos falando em luta contra a ordem e não em gestão reformista da ordem. Se um programa de reformas está impedido de se realizar na periferia do capitalismo, o ceticismo em relação ao papel do Estado como locus da transformação social parece o mais apropriado e, nesse contexto, os projetos que se pretendem autonomistas devem ser observados como importantes espaços de experimentação e de possível radicalização da luta popular.
Entretanto, nada disso parece estar claro no momento em que governos e instituições multilaterais estão defendendo a autonomia dos pobres para “ajudarem a si mesmos”. Algumas das confusões semânticas com que nos deparamos remontam aos anos 1970, quando o próprio Banco Mundial começa a apoiar com entusiasmo a autogestão em programas sociais, o que ele denomina de self-help. Para uma população à margem da economia formal e parcialmente estagnada, políticas de baixo custo e que envolvam o trabalho gratuito dos beneficiários aparecem como práticas alternativas factíveis e responsáveis diante das intervenções estatais faraônicas e deficitárias dos países em industrialização. Dar “poder aos usuários” e beneficiários das políticas públicas, ao mesmo tempo em que essas passam por um enxugamento de gastos, passa a ser um lema do Banco, glosando as palavras de ordem do arquiteto anarquista inglês John Turner.2
O fato é que na conturbada década de 1970, os Estados autoritários e modernizadores passaram a ser alvo tanto das críticas de liberais quanto da esquerda. Produziu-se, nesse momento, uma inusitada convergência entre grupos opostos, mas que reivindicavam algo parecido: a livre organização das populações em seus territórios. Nas agendas e documentos do Banco parece ocorrer uma espécie de cooptação de ideias e palavras de ordem da esquerda – uma tática que Vera Telles caracterizou como um “deslizamento semântico” (as mesmas palavras passam a significar outras coisas), e que também foi empreendida na construção do léxico gerencial-solidário dos anos neoliberais. Não apenas o Banco sequestra palavras da esquerda, mas esta passa a reproduzir seu discurso gerencial e de “boas práticas”, formando uma espécie de “língua única”, na qual não se distingue mais quem a profere.
Nos anos 1990, mais uma vez o Banco recomenda aos governos políticas de self-help, emolduradas agora pela retórica da “solidariedade” e apoiadas por ONGs. Como afirmou Pierre Bourdieu, assistimos a um episódio assustador que “permite ‘acusar a vítima’, única responsável por sua infelicidade, e lhe pregar a ‘auto-ajuda’”.3
Passamos a assistir a um bate-boca entre as classes no qual já não se sabe mais quem é quem pois todos falam as mesmas coisas.4 Entretanto, se atravessarmos o campo discursivo para analisarmos mais detidamente as práticas, podemos recobrar alguma capacidade de distinção. Não é difícil reconhecer nas ações dos movimentos populares iniciativas que não podem ser cooptadas discursivamente: as ocupações de terras e órgãos públicos, o sentido de enfrentamento, o embate em relação aos detentores de poder econômico e político, a crítica ao modelo de desenvolvimento, estruturas independentes de formação de militantes, gritos de guerra e místicas que encenam uma outra história, enfim, tudo que diz respeito à construção de um “poder popular” com alguma autonomia e com aspirações anticapitalistas.
Diferentemente das políticas neoliberais, que deliberadamente trazem soluções pré-concebidas para uma demanda focalizada e passiva, os mutirões fazem parte de um longo processo de luta do movimento popular não só por suprir a necessidade básica do teto, mas por permitir o fortalecimento da sua organização e a conscientização dos militantes. Nessa luta, o fundo público, enquanto acúmulo de riqueza socialmente produzida, está sendo disputado em todos os seus significados.
Essa ação eminentemente política, é importante que se lembre, foi coordenada e bastante combativa na época de sua aparição. Os movimentos sociais, já no início dos anos 1980, reivindicavam independência técnica e organizativa em relação ao Estado, e estabeleciam novos padrões de qualidade do processo produtivo e do espaço construído – uma luta que batia de frente com os padrões consensuais e autoritários de ação pública mercantil, dominada pela república de empreiteiras do Brasil. Estas conquistas, baseadas numa nova forma de relação da população organizada com o Estado, principalmente através da gestão dos empreendimentos, foi fruto de muita mobilização popular, pela reforma urbana e pela transformação do país. Algo bem diferente da solução individual, com poupança própria, precária tecnicamente, adotada nas autoconstruções em loteamentos clandestinos que se espalhavam pelas cidades em crescimento.
Autogestão e mutirão: paradoxos de uma forma futura vivida no presente
A autogestão dos trabalhadores é um tema político recorrente ao longo da história do capitalismo. Foi teorizado e praticado por anarquistas e comunistas, como antecipação da organização futura dos trabalhadores em uma sociedade livre, na qual existiria uma forma avançada de autogoverno, sem a figura do Estado. A ideia de que a autogestão, antes de ser uma forma de comando, seja uma forma de organização que une intrinsecamente pensamento, produção e ação, está explícita tanto nos escritos anarquistas como nos de Karl Marx. Na organização da produção, a autogestão esteve quase sempre associada à forma cooperativa. O mutirão tem heranças dessa forma mas também suas especificidades, que precisam ser mencionadas.
O mutirão autogerido é uma associação de trabalhadores para a produção de uma mercadoria sui generis, que não é produzida imediatamente para o mercado, mas para subsistência. Nele se produz um objeto que cristaliza trabalho e que tem valor de uso (e potencial valor de troca), mas que não foi estritamente planejado com o objetivo da venda e da valorização do capital. Nesse caso, a autogestão não se confronta diretamente com o mercado, mas com o Estado, requisitando um fundo público para alimentar a sua produção para consumo direto dos produtores. Desse modo, ela não internaliza a lógica do mercado, como a cooperativa, e explicita (e nesse sentido externaliza) o conflito com o Estado capitalista, numa disputa pela apropriação da riqueza social. Essa diferença distingue o mutirão de uma empreiteira – onde prevalece a sujeição salarial – e também de uma cooperativa de construção – presa às leis de concorrência –, e por isso precisa ser melhor analisada, para que possamos ter em vista suas possibilidades transformadoras.
O mutirão é um espaço paradoxal de liberdade, como a cooperativa, mas cujos fundamentos são diferentes. Seu limite mais evidente é ser um momento de organização do trabalho efêmero, pois finalizada a produção do bem de consumo, não se altera estruturalmente a relação de dependência daquela população em relação à sua venda de trabalho no mercado. Nesse sentido, o mutirão não poderia ser comparado de fato com a cooperativa como alternativa continuada ao assalariamento. Entretanto, como exercício de reflexão, é instrutivo confrontar os dois momentos produtivos (o MST vivencia ambos, por exemplo), dadas suas diferenças, de modo a ressaltar qual a validade experimental do mutirão.5
A entrada dos sem teto no movimento tem um propósito material claro: a construção da casa, a produção de um item básico de subsistência. O mutirão lhes é apresentado como a alternativa defendida pelo movimento popular para a produção da moradia – apesar dos motivos dessa “opção” nem sempre serem debatidos de forma aprofundada. O processo de conscientização se dará na longa caminhada para a obtenção da casa. Ou seja, a ação política não está dada de princípio ou diretamente no resultado, mas nos meios e formas de obtê-lo, na miríade de conflitos e possibilidades que vão forjando uma possível consciência crítica do processo. O ponto de partida é de ruptura: marchas, ocupações, acampamentos, etc. O momento seguinte é inevitavelmente de integração ao solicitar a participação na política pública: o acesso a fundos para financiar a obra das habitações. O recurso é limitado e autorizado pelo Estado, que tem ainda poder de vetar deliberações do movimento e opções tecnológicas, além de parar a obra a qualquer momento, estrangulando-a financeiramente.
A integração na política pública tem seus dilemas: pode derivar para a cooptação, para o pragmatismo ou para o enfrentamento, o que, neste caso, dificultará a liberação de recursos. Caso o movimento não invista numa formação política ampla, capaz de exercitar em cada militante sua capacidade de compreensão crítica dos conflitos que está vivendo no dia-a-dia, a oscilação entre combate e integração, entre resistência e assimilação pode pender para um único lado. Ao mesmo tempo, se essa disputa decisiva com o Estado não se travar, voltamos ao mundo da autoconstrução, da poupança própria e do mercado.
A assessoria técnica que apoia a ação do movimento, por sua vez, tem um papel extremamente delicado: o de preservar um conhecimento técnico que dificilmente pode ser socializado. Para Michael Albert, a autogestão significa que cada agente deve tomar parte na tomada de decisão, e isso, na mesma proporção em que é afetado pelas suas consequências.6 Nesse sentido, o conhecimento especializado deve ser difundido ao máximo para que cada agente envolvido possa tirar suas próprias conclusões. Mesmo que a assessoria procure sempre coletivizar o seu saber, ainda há limites claros – num contexto em que a imensa maioria dos militantes não teve educação básica que lhe permita manusear instrumentos elementares do conhecimento (matemática, física, geometria, lógica, escrita etc).
O pressuposto técnico no mutirão, inclusive pela sua relativa liberdade, é a experimentação de novas formas e meios de produção e, consequentemente, de produtos. Porém isso é um pressuposto ainda da assessoria, que não necessariamente é plenamente compartilhado com os mutirantes. Trata-se, por isso, de uma aliança entre agentes de origens diferentes, técnicos com formação universitária e povo organizado. Desta forma, a assessoria está necessariamente em terreno pantanoso: a dificuldade de coletivização dos conhecimentos e seus pressupostos de experimentação e desenvolvimento da técnica e da estética acabam por limitar a vivência dos processos autogestionários. Mesmo procurando sempre o diálogo com a autogestão dos mutirantes, situação permanentemente reposta nas etapas de projeto e obra, a assessoria ainda concentra o saber técnico – e, de forma correlata, parte importante do poder de decisão do grupo. Minimizar o papel dos agentes técnicos, o que seria saudável, ainda não é possível. De outro lado, em uma sociedade altamente colonizada pela lógica do capital, privada de criatividade autônoma e dominada pelo fetiche da mercadoria, deixar tudo a cargo da “demanda” (ou do consumidor), apenas como forma de demonstrar – muitas vezes até cinicamente – que ela tem “poder de escolha”, acaba por reiterar, na verdade, o que já é dado, pelo capital, como natural. Como proclama a propaganda malufista: “O sonho de todo favelado é o Cingapura”. Por que então fazer diferente?
Nesse sentido, como ainda não há uma fusão do saber técnico no corpo do próprio movimento popular – objetivo a ser perseguido, e para o qual o MST tem, particularmente, se empenhado – é importante que o diálogo entre esses aliados ocorra de modo aberto e crítico, mas não antagônico. Para tanto, as assessorias técnicas devem ser, também, coletivos autogeridos. A Usina, assessoria da qual participamos, é, por exemplo, um grupo radicalmente horizontal, em que todas as decisões – das administrativas, às projetuais e políticas – são tomadas coletivamente, em reuniões onde todos têm igual direito a voz e voto. Busca-se também um rodízio de funções, alternância de quem representa a entidade publicamente e isonomia salarial (todos recebem o mesmo valor por hora de trabalho), independente da experiência, função ou responsabilidade. Isso não nos exime de outras diversas contradições cotidianas, entre elas a dificuldade de sobreviver com esse trabalho e lidar com um papel híbrido de profissionalismo remunerado e militância. Entretanto, essa estrutura nos coloca em posição de alguma igualdade frente às associações e movimentos com os quais trabalhamos – podemos dialogar sobre autogestão, por tentarmos praticá-la.
No mutirão, na assessoria técnica ou na cooperativa, evidentemente, não se pode falar em autogestão plena (só possível noutra sociedade), mas em aproximações, verificações, testes do que ela poderia vir a ser. Noutros momentos, a realidade do mercado, nua e crua, como, por exemplo, na contratação de empreiteiros convencionais que praticam relações de trabalho precarizadas para fazer a obra do mutirão avançar, em paralelo ao trabalho autogerido – essa é uma espécie de sombra que acompanha a experiência e para a qual, em geral, movimento e assessoria fecham os olhos – com exceção de algumas iniciativas que procuraram, na ausência de cooperativas de construção, uma pulverização em um número maior de pequenas empreiteiras geridas pelos seus próprios “donos” – que, necessariamente, trabalhavam na produção e não apenas no gerenciamento da mão-de-obra.
Embora estas contradições realmente existam – necessariamente, pois não estamos falando de dentro de um sistema socializado livremente, mas sim do capitalismo – é importante chamar a atenção para o que ali é ensaiado. Talvez pela própria imperfeição e estranhamento desta forma-mutirão, que coletiviza e não produz deliberadamente mercadorias para a venda dentro do capitalismo, ela tenha um efeito brechtiano de desnaturalização das outras formas de organização capitalista do trabalho, em especial das tradicionais empreiteiras.
Qual a estranha novidade do mutirão? Não se está produzindo mercadorias com o objetivo imediato de troca e valorização de capital (mesmo que indiretamente esse valor de uso seja socialmente apropriado pelo capital, na medida em que abriga força de trabalho) – o que lhe confere uma qualidade outra. Esta distinção, combinada à relativa horizontalidade do trabalho no canteiro e coletivização das decisões, ao uso de riqueza social acumulada nos fundos públicos e uma perspectiva técnica diferenciada, são pontos nevrálgicos que permitem certa ruptura com a lógica do sistema capitalista – o que não é desprezível politicamente. Logicamente o mutirão não traz, por si só, a possibilidade de transformar o sistema, porém, as relações de produção que nele se demonstra e experimenta podem constituir alternativas ao modo de produção capitalista. Dentro deste horizonte ele coloca temas importantes de discussão.
A predominância do uso sobre a troca não é um tema secundário, pois indica o que poderia ser a produção de um espaço para além das formas de produção capitalistas, no qual o valor de uso e a preservação física e do saber do trabalho fossem preponderantes nas decisões de projeto e execução. No momento em que os polos uso-troca são invertidos, toda a produção passa a ser pautada pela qualidade dos materiais e dos espaços (como produto final) e pela adequação das técnicas às exigências do trabalho (como processo de produção). A mentalidade empresarial capitalista de aumento de produtividade e da exploração do trabalho e redução da qualidade do produto e do seu tempo de vida deixaria de dominar a produção. A desvinculação entre forma e conteúdo, intrínseca ao sistema capitalista, também seria questionada: com uma nova maneira de produção, necessariamente os espaços produzidos são diferenciados. As técnicas adotadas não podem ser mais as mesmas, ou ao menos não pelos mesmos motivos. A adequação da técnica ao trabalho e ao produto final faz com que ela adquira outro papel na produção, e não significa em absoluto uma regressão, pois as técnicas mais avançadas podem ser dispostas, desde que estejam de acordo com as definições dadas pela autogestão.
Quando o uso prevalece, a experimentação tem mais campo para se desenvolver. Ela deve ser medida de acordo com a decisão coletiva e as técnicas adequadas, mas tem parâmetros de limitação mais largos relativamente à produção para a troca. Além disso, esses parâmetros são altamente justificados social e politicamente, não economicamente. A forma-mutirão-autogerido ainda coloca uma questão importante: a vinculação necessária entre forma e conteúdo permite uma reflexão ética sobre a técnica, o que o capitalismo baniu desde sua origem. O atual aparato tecnológico não nega seu caráter autoritário, “o barulho peculiar da fábrica abafa o próprio pensamento”.7 Na autogestão, necessariamente, as técnicas de produção devem ser diferentes, reumanizando o homem ao invés de transformá-lo num autômato.
Como lembra o arquiteto Sérgio Ferro, ao contrário do ritmo fabril das indústrias, a produção da arquitetura, próxima ao saber operário, ainda semiartesanal, ainda uma manufatura, incentiva a criatividade pessoal e coletiva – esta característica lhe permitiria ser a mais radical das artes, como experimentação de livres produtores em diálogo.8 Esta sua característica faz com que o campo da arquitetura, como espaço de livre controle dos produtores, guarde estas e outras possibilidades muito interessantes – como obra única, territorial, tectônica, a ser usada, vivida, transformada, que responde a necessidades físicas e espirituais.
A dimensão social do trabalho também aparece, e com ela todas as dimensões da sociabilidade. Entre elas cabe ressaltar a questão de gênero: antes de ser uma questão autônoma trazida de cima para baixo, ela aparece na prática, no momento em que as mulheres se colocam a priori como iguais. Essa mudança abrupta da sociabilidade traz diversos questionamentos no nível do cotidiano destas pessoas, do trabalho ao casamento. A segurança no trabalho, a prevenção de acidentes e a diminuição da fadiga também são questões importantes a serem enfrentadas, uma vez que a construção civil é um dos espaços mais violentos de produção, com os maiores índices de mortes e acidentes. No mutirão, a sobrevivência e bem-estar dos companheiros passa a ser um objetivo real (não para fugir das multas e ações trabalhistas, como fazem as empreiteiras), simplesmente porque se quer preservar a todos até o fim do processo – sem o que não faria sentido a luta.
Trata-se aqui de mudanças que se dão em diversas escalas. Na sociabilidade, na relação política entre indivíduos, na relação entre estes e a sociedade, nas relações de produção e no tipo de produto criado. Não se trata, portanto, de revolução social propriamente dita. O que precisamos nos perguntar é se estas mudanças não acumulam práticas relevantes para a constituição de um poder popular. Se elas não criam um campo de possibilidades de organização e sociabilidade impossíveis no sistema capitalista – e por isso mesmo um contra-poder.
O mutirão autogerido não é modelo de política habitacional universal e nunca se apresentou assim. Ele é um espaço de resistência e organização, de visualização de uma prática de novo tipo. Não existe poder popular que se sustente apenas em marchas, ocupações, convenções, programas, teorias. Ele precisa se realizar no cotidiano, na resposta a necessidades básicas. Isso se sabe há algum tempo, aqui na América Latina, ao menos desde a Sierra Maestra, e também em nossas Comunidades Eclesiais de Base. Só há prática radical se o intelectual estiver de fato ao lado do povo, buscando soluções coletivas para as coisas mais prosaicas (abrigar-se) às mais altas do espírito (a discussão sobre arte, socialismo, etc.). A produção da arquitetura nesse contexto quer, por isso, restituir-se não apenas como “teto”, mas como produção coletiva do espaço, livre, como arte. Experiências desse tipo só se multiplicariam, de fato, na transição revolucionária. Por enquanto, são laboratórios que precisam ser cuidadosamente trabalhados e analisados.
Notas de Rodapé
- A não ser indiretamente, pelo intercâmbio com as organizações uruguaias de cooperativismo habitacional e por parte de alguns dos técnicos que apoiavam as iniciativas – o nome de uma de suas principais organizações de assessoria já revela a posição: Ação Direta.
- Sobre as agendas do Banco e o papel ambíguo de Turner, ver DAVIS, Mike. As ilusões do construa-você-mesmo. In: Planeta Favela. São Paulo: Boitempo, 2006 e ARANTES, Pedro. O ajuste urbano: as políticas do Banco Mundial e do BID para as cidades latino-americanas. Dissertação de mestrado. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP). São Paulo, 2004.
- BOURDIEU, Pierre. Contrafogos. Táticas para enfrentar a invasão neoliberal. Rio de Janeiro: Zahar, 1998. pp. 15-16.
- ARANTES, Paulo. Esquerda e direita no espelho das ONGs. In: Zero à Esquerda. São Paulo: Conrad, 2004. Em seminário convocado pela Caixa Econômica Federal e pela Financiadora de Estudos e Projeto – Finep para discussão de uma intrigante “Rede de Tecnologias Sociais” – do qual a Usina participou –, um eminente professor universitário defendia que, o fato de qualquer indivíduo da classe média contratar um projeto, agenciar mão-de-obra, viabilizar um financiamento e administrar um canteiro de obras, fazia dele um “agente de autogestão”.
- A casa, no meio urbano, pode ser compreendida como o “lugar de reprodução da força de trabalho”, distinto do lugar da produção. Os mutirões experimentam o canteiro de obras como “lugar da produção” apenas enquanto são realizadas as obras. Só eventualmente as moradias prontas serão utilizadas como locus de produção (quando os moradores, a partir de estratégias de sobrevivência, montam salões de beleza, mecânicas de automóveis ou pequenas oficinas e comércios em suas moradias). Já os assentamentos de reforma agrária promovem a superposição entre lugar de produção e reprodução de força de trabalho, dadas as características do padrão de existência no campo.
- ALBERT, Michael. Buscando a autogestão. In: Autogestão hoje: teorias e práticas contemporâneas. São Paulo: Faísca Publicações Libertárias, 2004.
- BOOKCHIN, Murray. Autogestão e tecnologias alternativas. In: Autogestão hoje: teorias e práticas contemporâneas. São Paulo: op. cit.
- FERRO, Sérgio. Arquitetura e trabalho livre. São Paulo: Cosac Naify, 2006.