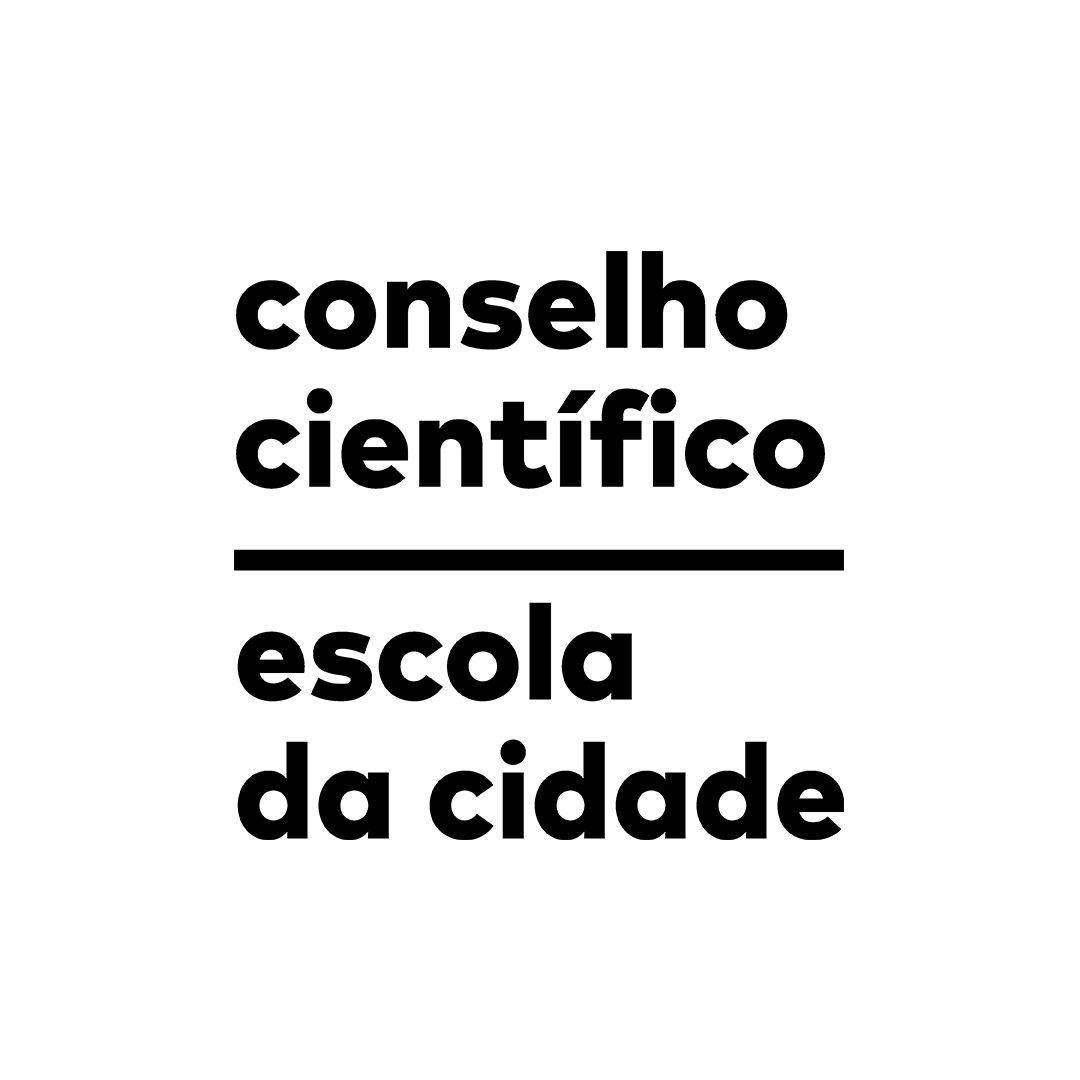A Usina CTAH organizou, em outubro de 2004, um seminário na FAU USP com o propósito de debater experiências de produção de moradias por mutirão e autogestão em São Paulo, Belo Horizonte e Fortaleza que vinham sendo estudadas pela assessoria1.
Um dos convidados foi o sociólogo Francisco de Oliveira, que apresentou a conferência O vício da virtude: autoconstrução e acumulação capitalista no Brasil – posteriormente publicada na revista Novos Estudos . Em sua fala, Francisco de Oliveira situou os mutirões autogeridos dentro do campo da autoconstrução, estendendo a estas experiências sua leitura – formulada no ensaio A economia brasileira: crítica à razão dualista , de 1972 – a respeito do papel desempenhado pela autoconstrução urbana na acumulação primitiva de capital no Brasil2. Levando em conta os dados preliminares da pesquisa que estava sendo realizada pela Usina – que demonstravam que a maior parte dos mutirantes era formada por desempregados –, o sociólogo se posicionou firmemente contra a generalização dos mutirões como política de habitação3:
Vocês têm todo o direito de discordar das minhas agressões, mas, se a solução do mutirão se generalizasse, nós estaríamos caminhando para um inferno urbano. Se ela se universalizar, será a negação da solução da habitação. Como fez a Catarina da Rússia, seria pintar de verde e amarelo todas as favelas do Brasil. É nisso que o mutirão vai dar quando for transformado em política oficial. Por enquanto, e felizmente, ele é só a vitrine da virtude. Generalizar-se seria rumar no sentido contrário. Mesmo porque o paradoxo é que, para o mutirão transformar-se em solução universal de política pública, supõe que todos estejam desempregados. O que é um formidável tiro pela culatra. Ou como diz o título inicial, o mutirão é o vício da virtude.
Naturalmente, a posição tão francamente contrária aos mutirões apresentada pelo sociólogo produziu um enorme debate a respeito dessas experiências. Muitos debatedores colocaram em questão o possível desastre anunciado por ele caso a solução dos mutirões se generalizasse, além de outros aspectos secundários de sua fala, mas o cerne de seu argumento – a assertiva de que o mutirão autogerido contribui tanto quanto o tradicional para o rebaixamento dos salários dos trabalhadores – não foi questionado até a publicação de um artigo de Sérgio Ferro em resposta à conferência, em novembro de 2006.
Nesse texto – intitulado Nota sobre “O vício da virtude” –, Ferro relativiza o papel da autoconstrução na queda do valor da força de trabalho, argumentando que este rebaixamento depende sobretudo do abundante exército de reserva existente no Brasil e da manutenção estratégica de setores atrasados, como a própria construção civil.
Depois de contrapor outros aspectos da argumentação de Chico de Oliveira, Ferro consolida sua defesa dos mutirões autogeridos chamando atenção para a dimensão política dessas experiências4:
Para terminar, quero indicar outra afirmação com a qual discordo, mas sem insistir: avanço em área em que sou ainda mais amador, a política. Diz o Chico que o mutirão cria uma “comunidade ilusória” porque “não subsiste senão pelo lado das carências”. Lendo isso, pulei, lembrando do final do Manifesto do Partido Comunista que todos conhecemos: “os proletários não arriscam senão a perder as correntes que os aprisionam… Proletários de todos os países, uni-vos”. A união que Marx prega é a dos que não têm mais nada a perder, dos totalmente carentes. Fiel aqui a Hegel, para quem toda positividade autêntica só pode advir da negatividade determinada e radical, esticada até seu limite de ruptura. De outro ângulo, Marx, na Resolução do I Congresso da AIT, defende as cooperativas operárias de produção, nas quais inclui uma heresia teórica dentro do capitalismo mesmo, a igualdade de salários dos cooperantes. Nas “Reivindicações do Partido Comunista na Alemanha”, propõe “ateliês” nacionais, também à margem do sistema. Sei que mutirão autogerido não é nem cooperativa operária de produção, nem “ateliê” nacional. Mas há sinais que podem gerar pelo menos cooperativas de produção. De qualquer modo, Marx valoriza essas iniciativas menos como solução (não há saída dentro do sistema, essa é a tese de base da “Questão da moradia”, de Engels) mas como meio para consolidar a consciência de classe, da ativa e da desempregada. Tais comunidades não são ilusórias: os carentes de tudo podem sim, e devem, pendurar-se nos próprios cabelos.
Em sua resposta a Chico de Oliveira – publicada na revista Novos Estudos junto ao texto de Ferro –, João Marcos de Almeida Lopes reconheceu o esvaziamento do conteúdo “utópico” que permeava os primeiros mutirões autogeridos por meio do registro de um diálogo que teve com um mutirante do COPROMO em 1994, quando a Usina ainda participava do processo5:
[…] por volta de 1994, em um grande empreendimento que a USINA assessorou em Osasco — eram 1.000 apartamentos, 50 prédios, financiados pela CDHU, numa área da cidade que afinal o próprio mutirão ajudava a valorizar , um mutirante aproximou-se de mim e, olhando para os primeiros 8 prédios que estavam sendo concluídos, entabulou mais ou menos o seguinte raciocínio: “Veja só, gastei quatro anos da minha vida, lutando e trabalhando por este projeto. Investi aqui mais ou menos 400 reais de dinheiro meu durante estes quatro anos. O financiamento vai ficar em 18.500 reais, aproximadamente, e quero pagá-lo no máximo em doze anos…”. E aí concluía: “e veja você: fácil, fácil vendo este apartamento, hoje, por 50 mil reais. Não é ótimo?”. Considerando que, como arquiteto e assessoria técnica, havia recebido aproximadamente 6% do preço de custo (algo em torno de 10 mil reais) de apenas 8 prédios dos 50 previstos, nem mesmo qualquer convicção militante mais arraigada impediria perceber o quanto eu contribuía para o rebaixamento do meu próprio custo de reprodução, à medida que alcovitava a transformação de um valor de uso em valor de troca. Dessa forma, a impressão que temos hoje é de que ocorreu um profundo esvaziamento de um conteúdo, digamos, utópico, identificável nas concepções originais destes processos de produção de moradia a partir de pressupostos autogestionários. E um aspecto fundamental que a pesquisa sobre os mutirões autogeridos nos mostrou foi como esse esvaziamento se dá em trânsito de mão dupla, comprometendo principalmente as expectativas de alguma transformação estrutural e parecendo fazer restar apenas alguns objetos, pelo menos, “bonitos”.
Mais adiante, entretanto, ele recusa a ideia de um “fim de linha” para as experiências autogestionárias – ainda que deixe em aberto a pertinência ou não do emprego de mão-de-obra mutirante –, afirmando a importância da dimensão política associada à atuação dos arquitetos nas periferias e reivindicando uma aferição “justa” dos ganhos representados pela inovações técnicas experimentadas nos mutirões6:
O “inferno” não será criação dos mutirões, como diz o Chico, nossas metrópoles já são um inferno. Se, como arquitetos, atuamos nas periferias de nossas cidades, ainda pretendemos (pelo menos alguns!) que o ato de projetar e construir se politize. Assim, pouco ajuda condenar o futuro para aqueles que, por pressuposto, têm que pensar, desenhar e construir uma manifestação objetiva, ainda que restrita, desse futuro. É necessário aclarar o caminho percorrido, verificar as reduções e sínteses equivocadas, olhar melhor para a lacuna entre oposições irredutíveis e reinventar a própria ação. Os canteiros de obras “autogeridos” – digamos assim – ainda apresentam questões para as quais ainda não temos a menor noção de significado: qual a eficácia real quando utilizamos a estrutura metálica e outros sistemas pré-fabricados para desonerar o mutirante em quantidade de mão-de-obra por ele aplicada? Em termos de auto-organização da força de trabalho, como se dá o aprimoramento de mecanismos de gestão, execução e controle de obras como possibilidade de uma outra modalidade de articulação profissional? Falta-nos, ainda, uma aferição mais apurada – e justa – dos custos que a “autogestão” alcança e a verificação do impacto que uma “auditoria geral” patrocinada pelo processo de gestão econômica dos mutirões teria não só no âmbito da provisão habitacional promovida pelas empreiteiras como também na própria construção civil como um todo. E etc., etc. É por isso que insistimos que o que está em questão é a autogestão – e não a autoconstrução, ou o mutirão em si mesmo. E não se trata de insinuar novamente o argumento da “virtude”: trata-se, antes de mais nada, de procurar uma visão em paralaxe, procurando ocupar a perspectiva também do lado oposto. Pode ser que a conclusão seja péssima. Mas não acredito no fim de linha: importa-nos, agora, compreender que o desvão é irredutível, que a oposição entre estrutura e objeto é incontornável e é com esta antinomia que, justamente, devemos lidar.
Acompanhando este debate entre os autores, é interessante notar que, dada a extemporânea preocupação de Chico de Oliveira com a “generalização” dos mutirões autogeridos – mais de vinte anos depois de iniciado o Mutirão Vila Nova Cachoeirinha e mais de dez anos depois do fim da administração Erundina, sucedida por governos conservadores que enterraram a política municipal de habitação baseada no estímulo e apoio aos mutirões –, o debate a respeito do “vício” apontado por Chico de Oliveira – a contribuição dos mutirões para o rebaixamento dos salários dos trabalhadores – acabou tendo pouco relevo diante do acalorado debate a respeito da “virtude” dessas experiências.
Partindo de um reconhecimento tácito do esgotamento do projeto de universalização da provisão habitacional por meio dos mutirões autogeridos, os autores a favor dessas experiências ressaltaram dois aspectos virtuosos em defesa de sua continuidade: em primeiro lugar, a politização dos trabalhadores e dos arquitetos; e, em segundo lugar, os ganhos das inovações técnicas experimentadas nos canteiros autogeridos.
Inicialmente tratados de forma isolada, esses dois aspectos começaram a ser fundidos em interpretações posteriores, que passaram a abordar a “virtude” do mutirão nos termos de uma técnica política. Esta posição fica clara num texto publicado pela própria Usina7 em 2008 – dois anos depois do debate travado na revista Novos Estudos –, onde a assessoria defende não apenas a pertinência da autogestão, como havia feito o arquiteto João Marcos de Almeida Lopes, mas também do próprio mutirão.
Nessa leitura, a assessoria trouxe novos elementos para a defesa da “virtude” do canteiro autogerido, arriscando a interpretação de que a adequação da técnica ao trabalho experimentada na “forma-mutirão-autogerido” a colocaria em outro papel no processo de produção8:
Qual é a estranha novidade do mutirão? Não se está produzindo mercadorias com o objetivo imediato de troca e valorização de capital […], o que lhe confere uma qualidade outra. Esta distinção, combinada à relativa horizontalidade do trabalho no canteiro e coletivização das decisões, ao uso de riqueza social acumulada nos fundos públicos e uma perspectiva técnica diferenciada, são pontos nevrálgicos que permitem certa ruptura com a lógica do sistema capitalista – o que não é desprezível politicamente. […] A predominância do uso sobre a troca não é um tema secundário, pois indica o que poderia ser a produção de um espaço para além das formas de produção capitalistas, no qual o valor de uso e a preservação física e do saber do trabalho fossem preponderantes nas decisões de projeto e execução. No momento em que os pólos uso-troca são invertidos, toda a produção passa a ser pautada pela qualidade dos materiais e dos espaços (como produto final) e pela adequação das técnicas às exigências do trabalho (como processo de produção). A mentalidade empresarial capitalista de aumento de produtividade e da exploração do trabalho e redução da qualidade do produto e do seu tempo de vida deixaria de dominar a produção. […] As técnicas adotadas não podem ser mais as mesmas, ou ao menos não pelos mesmos motivos. A adequação da técnica ao trabalho e ao produto final faz com que ela adquira outro papel na produção, e não significa em absoluto uma regressão, pois as técnicas mais avançadas podem ser dispostas, desde que estejam de acordo com as definições dadas pela autogestão. Quando o uso prevalece, a experimentação tem mais campo para se desenvolver. Ela deve ser medida de acordo com a decisão coletiva e as técnicas adequadas, mas tem parâmetros de limitação mais largos relativamente à produção para a troca. […] A forma-mutirão-autogerido ainda coloca uma questão importante: a vinculação necessária entre forma e conteúdo permite uma reflexão ética sobre a técnica, o que o capitalismo baniu desde sua origem.
Nesse ponto, cabe um comentário quanto à historicidade dessa argumentação, na medida em que, entre a fundação da Usina e a data de publicação deste texto, a assessoria técnica se transformou bastante, tanto em função das sucessivas mudanças na conjuntura política – que levaram a uma expressiva diminuição de sua atuação9 –, quanto em função de sua própria dinâmica interna10.
O conjunto dessas transformações levou os arquitetos e técnicos sociais – que passaram a ter mais peso na equipe – a se deter com mais tempo e profundidade no planejamento dos processos de concepção e construção, que passaram a incorporar uma perspectiva de educação popular fortemente baseada na pedagogia freireana. Em outros termos, a Usina procurou reforçar o sentido político de sua própria atuação, procurando contribuir de forma mais efetiva para a formação dos trabalhadores envolvidos nos processos em que atuava11.
Alguns anos depois, esta leitura da “virtude” do mutirão a partir da chave da técnica política encontraria uma formulação melhor acabada na tese de livre-docência do arquiteto João Marcos de Almeida Lopes, intitulada Sobre arquitetos e sem-tetos: técnica e arquitetura como prática política, defendida em 2011. Neste trabalho, o autor procurou articular uma discussão de cunho filosófico a respeito da indissociabilidade das noções de técnica e política (agenciando contribuições de autores tão diversos como Habermas, Simondon, Agamben e Foucault) a uma longa narrativa a respeito das experiências críticas e alternativas realizadas no Brasil sobretudo entre o final dos anos 60 e início dos anos 90 – a experiência da Usina foi tratada apenas tangencialmente.
O argumento central da tese, anunciado nas primeiras páginas e reiterado no final do trabalho, é a desmontagem da noção de técnica como pura racionalidade instrumental – interpretação que impediria a compreensão da dimensão dialógica (nos termos de Habermas) da técnica ou dos processos de subjetivação (nos termos de Foucault) agenciados por ela12:
Chegamos então ao final da primeira década de um novo século obrigando-nos mais uma vez a considerar se realmente fizemos as escolhas certas. E no fulcro desse questionamento, por inúmeras vozes, encontramos o arquiteto atrapalhado com sua insofismável função social: parece que, ao pretender afirmá-la, ela necessariamente deve aparecer descolada de qualquer funcionalidade reprodutiva do arquiteto – aquela que lhe mantém a existência; ao pretendê-la como ação politicamente determinada, reverbera como militância ingênua e fora de lugar por se tratar de uma ação profissional e “racional dirigida a fins” que se intromete no complexo campo da crítica teórica sem o adequado comprometimento com alguma clarividência radical – esta sim, capaz de enxergar as artimanhas dos “deslizamentos semânticos”; quando ela decorre da atuação junto aos Movimentos, os arquitetos tornam-se “viciados em virtude”, “gestores da pobreza”, agentes de um inexorável processo de “filantropização e privatização do pobre”; ou, numa versão mais liberal clássica, coagulam-se como arquitetos que mais se ocupam “com organização política do que com projetos”, empenhados essencialmente em “organizar a população pelos canteiros de obras” – e que, por isso, pensam “pouco em urbanismo”. E o meu principal desconforto é que as consequências dessa operação que decompõe o ‘agir no mundo’ dos arquitetos em dois campos impermeáveis e insolúveis – Técnica: decretada como ação racional objetiva dirigida a fins – e Política: defendida como ação crítica, intersubjetivamente mediada pelo discurso e pelo diálogo –, vem produzindo enormes estragos.
Tradicionalmente, há um persistente melindre que instala em campos inconciliáveis Técnica e Política: em sua versão habermasiana, a Técnica nada mais é que racionalidade instrumental, a base real da categoria trabalho, sempre conspurcado pelas antinomias próprias dos “sistemas de ação racional dirigida a fins” – em suma, um fazer congenitamente alienado das esferas do espírito e inexoravelmente comprometido com as mecânicas empoeiradas do mundo da vida. […]
O que pretendo demonstrar – a partir da crônica do surgimento de um modo de atuação do arquiteto – é que Técnica e Política são, em essência, indissociáveis. E que é justamente o fato de destituirmos a Técnica do campo da práxis propriamente dita, prescrevendo-a exclusivamente como razão instrumental; e de elevarmos a Política exclusivamente à condição de uma abstrata razão dialógica; que os termos da operação ganham sinais opostos, instaurando a impossibilidade de qualquer conciliação genética entre Técnica e Política. Assim, a crescente normatividade imposta aos processos de produção – racionalmente, democraticamente e dialogicamente construídas, diga-se de passagem – parecem congelar, passo a passo, cada movimento que insinue alguma subversão da ordem estabelecida. Parecem colonizar, sorrateira e sistematicamente, todos os cantos de onde poderíamos aguardar ainda alguma invenção.
Ao instituirmos um campo de trabalho junto com o Movimento de Moradia, não perguntávamos quanto à nossa função social. Desejávamos – e isso era claro em nossas falas e práticas – conseguir viver, suficientemente bem, desempenhando nosso ofício, projetando e construindo moradias – para os pobres e com os pobres. Só isso. E, no entanto, restaram-nos inúmeros problemas […].
Sérgio Ferro parece estar de acordo com a importância de esvaziar a noção de técnica como pura racionalidade instrumental, evidenciando claramente sua dimensão política. Ao comentar o rebatimento do debate da Escola de Frankfurt em seu pensamento a respeito da arquitetura, o autor costurou uma relação direta entre esta “razão efetiva” – antítese da razão instrumental –, o trabalho livre que sempre defendeu em seu pensamento e o tempo lento necessário para a experimentação dessa relação virtuosa13:
Marx primeiro, Weber depois, e Adorno e Horkheimer em seguida, fazem a crítica da razão instrumental, da razão estreita e funcional. Ela corresponde grosseiramente ao entendimento em Hegel – e não ao que ele chama de Razão . É a razão parcial, ocupada em certa área e esquecida do resto. A dita organização científica do trabalho é racional dentro de uma perspectiva de rendimento e de exploração do trabalho. Na construção, várias razões instrumentais dão conta de áreas separadas: cálculo estrutural, política de empregos, logística, sequência produtiva, etc. Internamente, podem até ser “lógicas”, mas no conjunto, dada a heteronomia imposta pelo capital, tais “lógicas” se chocam e as razões funcionais entram em contradição. Não há dúvida de que a razão efetiva, que implica e impõe liberdade e autonomia totais, pareça quase irracional para a razão instrumental. Ela será bem menos “produtiva”. A liberdade custa tempo e paciência.
Num texto recente – publicado como prefácio de uma antologia sobre o trabalho da Usina14 – , Ferro argumenta que o canteiro autogerido constitui um dos poucos espaços onde o trabalho livre pode ser experimentado:
O que a interação Usina/mutirantes inaugura, juntamente com outras experiências semelhantes, é uma outra prática da arquitetura que pressupõe (antecipa a posição de) outras relações de produção, totalmente contrárias às que vigoram hoje. […] Todos os gêneros de avaliação de seus resultados são unânimes: eles superam de longe os que o liberalismo selvagem permite hoje ao capital produtivo na produção da casa popular. Sob o ângulo urbanístico, arquitetônico, construtivo, plástico, social, econômico, educativo, democrático, humano, etc., etc., etc., não há comparação possível. A hostilidade patológica que estas experiências provocam nas instâncias do poder e do dinheiro só podem ser explicadas pelo medo subterrâneo que seu exemplo pegue. […] No canteiro autogerido o trabalho abandona a mais pestilenta associação com o que deveria ser seu contrário, o tripalium, o instrumento de tortura do qual o capital derivou o nome e com o qual afastou o antigo, ars , arte, potencialmente contagioso desde que foi reservado para o trabalho livre. No canteiro autogerido e outras experiências semelhantes ele volta a ser, com a linguagem, um dos dois pilares centrais de nossa humanidade. Merece de volta seu antigo nome: arte – man’s expression of his joy in labour15, no perfeito enunciado de William Morris.
Como vimos até aqui, a provocativa conferência O vício da virtude disparou, ou pelo menos catalisou, a produção de um conjunto de discursos a respeito dos mutirões que colocam essas experiências em perspectiva sob dois pontos de vista: o primeiro, que pode ser desdobrado da posição explicitada por Chico de Oliveira, confere relevo a uma certa simbiose entre o mutirão autogerido e a expansão do capitalismo – e por tabela, ao papel do arquiteto na reprodução da ordem; o segundo, que pode ser desdobrado da posição explicitada por Sérgio Ferro e pelos arquitetos das assessorias técnicas, confere relevo à dimensão política desses processos – tanto para os trabalhadores quanto para os arquitetos –, que possibilitaram a experimentação de uma outra técnica – ela mesma, política, conforme as interpretações que acompanhamos.
Naturalmente, essas duas perspectivas de análise passam a incidir fortemente nas interpretações contemporâneas a respeito das experiências dos mutirões, agenciando discursos que pendem para um lado ou para o outro, ou que procuram observar seus objetos simultaneamente a partir das duas lentes. A boa notícia é que esta antinomia – na medida em que não se refere às formas, mas à tensão entre estrutura e ação – tende a estimular sobremaneira a investigação dessas experiências enquanto processos.
A própria experiência do COPROMO, que foi objeto de maior atenção da nossa parte, fornece diversos argumentos que poderiam ser mobilizados tanto por aqueles que se colocam contra como pelos que se colocam a favor dos mutirões.
Como vimos, o próprio João Marcos de Almeida Lopes utilizou o processo de apropriação privada do conjunto como exemplo da dinâmica de transformação do valor de uso em valor de troca, circunstância que poderia ser mobilizada tanto para contrapor a posição de Chico – que afirma categoricamente que o mutirão não cria valor de troca – quanto para relativizar a posição da Usina, que ressalta a predominância do uso sobre a troca nos mutirões.
Outro aspecto interessante de ser notado, à luz da antinomia que acabamos de apresentar, diz respeito ao tempo do mutirão. Enquanto o pensamento de Sérgio Ferro de alguma maneira positiva o tempo lento necessário para a experimentação de uma “razão efetiva” que “implica e impõe” o trabalho livre16, o arquiteto Mário Braga percebe este tempo lento simplesmente como um atraso – dado pela diferença entre o tempo da autogestão e o tempo da produção a partir da heteronomia imposta pelo capital – que prejudica a viabilidade da própria experiência, sendo papel da técnica voltar-se contra este tempo lento17:
Infelizmente, o pior atributo dos mutirões autogeridos é que eles demoram muito tempo. Inclusive, eu tive uma discussão engraçada com o Pedro [Fiori Arantes] sobre isso: a Caixa queria a Usina revestisse os prédios do Mutirão Paulo Freire e ele não queria, argumentando que os blocos cerâmicos aparentes eram a marca do mutirão. E eu falei pra ele que a marca do mutirão autogerido é o atraso, e não a ausência de revestimento. O [Sérgio] Mancini tem uma frase ótima: “Se mutirão fosse fácil, não era a gente que tava fazendo!” [risos]. Então assim, a gente compra essa briga – não só nós da assessoria técnica, mas também a associação – sabendo que é difícil, sabendo que demora, mas a gente tem que ocupar este espaço. Isso [a produção autogestionária] tem que ser feito, e a gente tem que inventar maneiras de fazer isso mais rápido. A escada metálica do COPROMO foi pensada pra isso, mas mesmo assim a obra demorou.
De qualquer forma, nos parece importante ressaltar a interpretação de Sérgio Ferro de que a interação entre arquitetos e sem-teto inaugura uma outra prática da arquitetura.
Essa outra arquitetura – que em nossa opinião poderia ser pensada a partir da ideia de uma arquitetura como processo – é marcada por uma dinâmica singular entre arquitetos e construtores/usuários, que, se por um lado ainda não aponta para a possibilidade de uma efetiva superação das enormes assimetrias que existem entre esses agentes – afirmando, portanto, o papel moderno do arquiteto na reprodução da ordem –, ao menos possibilitam a experimentação de relações alternativas, marcadas pelo permanente tensionamento entre seus respectivos saberes/poderes, aproximando desenho e canteiro – na contramão da produção voltada para o mercado.
Em nossa opinião, este vasto campo de problemas que cercam os mutirões autogeridos – mas que também se referem, de forma mais ou menos direta, às outras experiências críticas ou alternativas que mencionamos anteriormente – constitui uma excelente razão para que estas experiências não sejam silenciadas pela história da arquitetura ou representadas sob os mesmos regimes de visibilidade que vigoram para a produção convencional, em que o interesse pela forma é inversamente proporcional ao interesse pelo processo.
Notas de Rodapé
- Estas experiências foram objeto da pesquisa “Políticas habitacionais, produção de moradia por mutirão e processos autogestionários: balanço crítico de experiências em São Paulo, Belo Horizonte e Fortaleza”, realizada pela Usina CTAH com apoio da Finep (Financiadora de Estudos e Projetos), empresa pública vinculada ao Governo Federal.
- Em sua interpretação, o sociólogo defende que a construção da própria casa pelos trabalhadores – por meio de trabalho não remunerado (sobretrabalho) – permitiu a intensa exploração que garantiu o dinamismo necessário para a expansão capitalista no Brasil a partir dos anos 30. Ver OLIVEIRA, Francisco de. Crítica à razão dualista/ O Ornitorrinco. São Paulo: Boitempo, 2011. p. 35-69.
- OLIVEIRA, Francisco de. O vício da virtude: autoconstrução e acumulação capitalista no Brasil, in: Novos Estudos, São Paulo, n. 74, março de 2006. p. 72.
- FERRO, Sérgio. Nota sobre “O vício da virtude”, in: Novos Estudos, São Paulo, n. 76, novembro de 2006. p. 234.
- LOPES, João Marcos de Almeida. O anão caolho, in: Novos Estudos, São Paulo, n. 76, novembro de 2006. p. 223-224.
- Idem. p. 226.
- Tendo agora como coordenador geral o arquiteto Pedro Fiori Arantes, que sucedeu o arquiteto João Marcos de Almeida Lopes (coordenador entre 1990 e 2004).
- USINA CTAH. Arquitetura, política e autogestão: um comentário sobre os mutirões autogeridos, in: Revista Urbânia. São Paulo, 2008, N. 3, p. 57-58.
- A título de comparação, em sua primeira década de existência, a Usina projetou e/ou acompanhou a produção de mais de 4 mil unidades habitacionais. Na década seguinte, este número foi cerca de quatro vezes menor.
- A partir de 2004, sob a coordenação de Pedro Fiori Arantes, a assessoria adotou a autogestão internamente, estabelecendo uma isonomia salarial entre os associados – independentemente da formação ou da experiência –; criando um fundo único – centralizando os recursos de todos os trabalhos e abolindo o pagamento por trabalho –; e estabelecendo um processo horizontal na tomada de decisões – que passaram a ser uma atribuição coletiva. A nova geração da assessoria também foi marcada por uma maior presença de técnicos sociais e de pessoas ligadas à universidade. Todas essas mudanças foram minuciosamente analisadas pela socióloga Maria Rosa Lombardi. Ver LOMBARDI, Maria Rosa. Políticas de habitação popular, trabalho associado e relações de gênero: a experiência da Usina. São Paulo: FCC/DPE, 2011.
- Esse tema foi pesquisado pela cientista social e educadora Jade Percassi em sua dissertação de mestrado. Ver PERCASSI, Jade. Educação popular e movimentos populares: emancipação e mudança de cultura política através de participação e autogestão. Dissertação de mestrado. Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2008.
- LOPES, João Marcos de Almeida. Sobre arquitetos e sem-tetos: técnica e arquitetura como prática política. Tese de livre-docência. Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos – Universidade de São Paulo. São Carlos, 2011. p. 7-9.
- FERRO, Sérgio (2008). História da arquitetura e projeto da história. Entrevista a Felipe Contier, in: Desígnio: revista de história da arquitetura e do urbanismo, São Paulo, n. 11/12, março de 2011. p. 116.
- VILAÇA, Ícaro; CONSTANTE, Paula (orgs.). Usina: entre o projeto e o canteiro. São Paulo: Edições Aurora, 2016. p. 27-29
- Em tradução livre: “arte – manifestação da alegria do homem no trabalho”.
- FERRO, Sérgio (2008). História da arquitetura e projeto da história. Entrevista a Felipe Contier, in: Desígnio: revista de história da arquitetura e do urbanismo, São Paulo, n. 11/12, março de 2011. p. 116.
- Entrevista concedida ao autor em 02/02/2015.