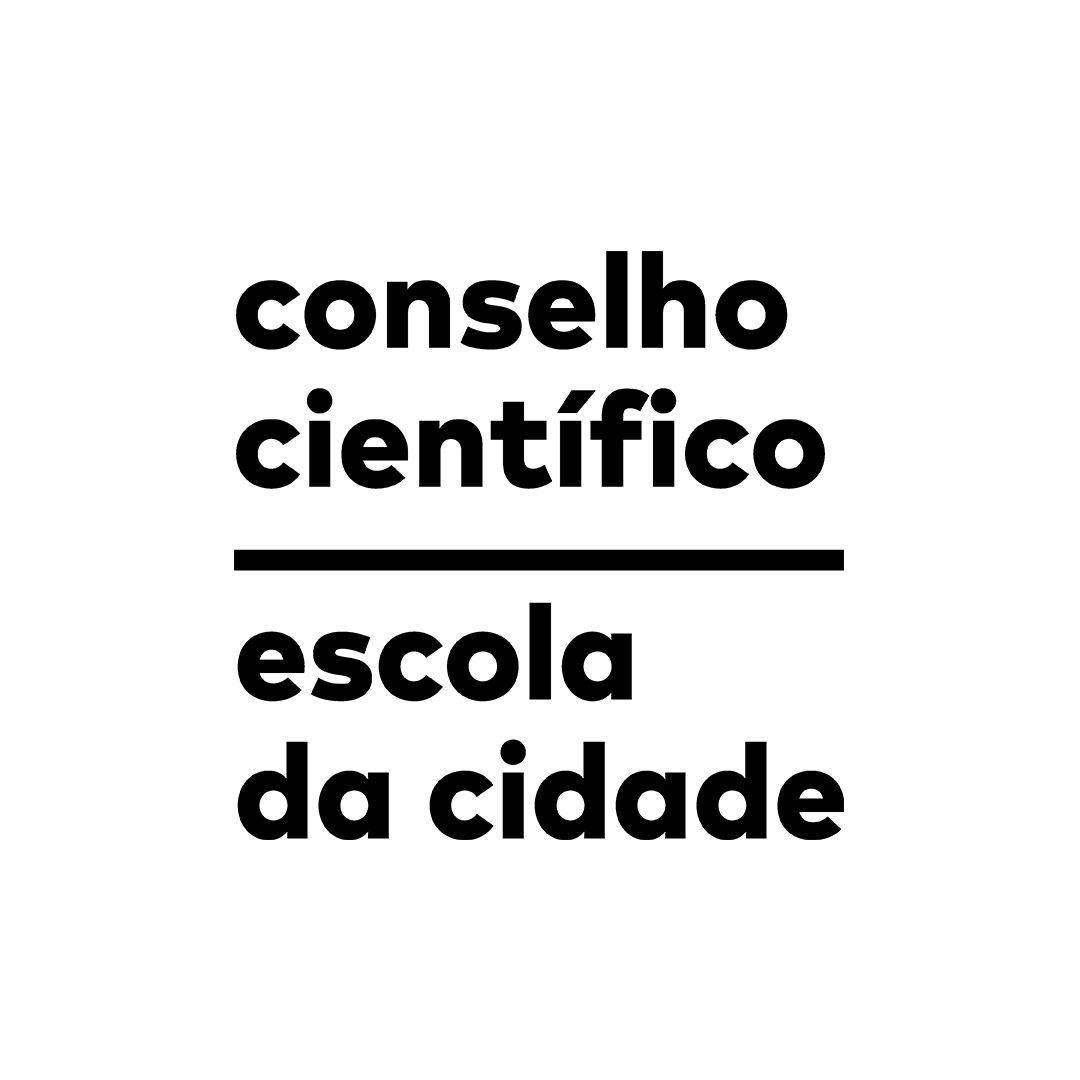Uma introdução
Esta série de artigos se dedica à convergência de três aspectos fundamentais da economia capitalista global e sua relação com o trabalho tanto na área rural quanto na urbana. O primeiro desses aspectos é o fato geralmente reconhecido de que o capital contemporâneo é menos constrangido por limites impostos pelo espaço, pela geografia e pelo tempo do que em períodos anteriores. Sendo a lealdade das empresas do século XXI, antes de mais nada e principalmente, para com seus acionistas, a capacidade de “fazer as malas e ir embora de repente” é uma moeda de troca forte usada para obter concessões do estado e, especialmente, do trabalho organizado. Além disso, as decisões das empresas multinacionais do século XXI de operar em uma escala global de que seus predecessores coloniais sequer poderiam imaginar, são tomadas em outros países ou continentes, distantes do ponto da produção. Isso aumentou dramaticamente a assimetria de poder entre o capital e o único componente do processo produtivo com capacidade de protestar, resistir ou interrompê-lo: o trabalho.
Em segundo lugar, os rápidos avanços da tecnologia aceleraram a substituição das tarefas manuais por máquinas, facilitaram modelos de produção menores que reduzem a força de trabalho e a transmissão instantânea de informações através de redes virtuais permitiu que os capitalistas controlassem e coordenassem um espectro de tarefas amplamente dispersas entre forças de trabalho, quase sempre motivadas pela supressão dos custos com o trabalho. A terceira dimensão da economia contemporânea explorada aqui, no entanto, fornece um importante contraponto aos fenômenos mencionados e aos discursos excessivamente prescritivos da automação, da digitalização ou, na verdade, ao “fim do trabalho”. Isso porque para cada nova aplicação tecnológica, seja o aproveitamento da energia solar nos telhados de nossas casas, o carregamento de baterias para nosso carro elétrico, ou para nossos telefones celulares, existe uma cadeia produtiva associada, um período de construção e quase sempre alguma indústria de trabalho intensivo, algum extrativismo. Minas de lítio na Bolívia, extração de cobalto no Congo, florestas e famílias destruídas, por trás dessas economias “novas”, “flexíveis” e “verdes”. Onde, por exemplo, grandes projetos de infraestrutura ou de energia exigem consideráveis investimentos iniciais, ou projetos agro-industriais requerem extensões de terra e de água adequadas, a natureza da empreitada não é tão facilmente transportável, a opção de “fazer as malas e ir embora de repente” não é tão viável. A indústria é, ao menos no curto prazo, relativamente fixa.
No entanto, algumas empresas aprenderam a lição dos períodos anteriores de concentração industrial, onde se podia organizar uma força de trabalho estável e regional com relativa facilidade, onde bairros se formavam em torno dos locais de trabalho e das forças de trabalho, as atividades culturais e sociais estavam ligadas ao trabalho, aos sindicatos e outros movimentos organizados. Os altos e baixos da indústria automobilística, das mineradoras e fábricas têxteis são bons exemplos disso. O capital contemporâneo insiste na flexibilidade do trabalho, ora coagindo para obtê-la, ora aplicando-a. O capital contemporâneo visa a organizar homens e mulheres desempenhando tarefas essenciais de maneira a oferecer a menor resistência à acumulação de riqueza ao mesmo tempo que limita a capacidade desses trabalhadores de militar por seus próprios interesses. Na Europa, basta pensar nas economias de Espanha, Itália, Irlanda, Grécia e Reino Unido, onde se revela a normalidade cada vez maior do trabalho temporário, dos turnos de meio-período, contratos de zero hora [sem garantia de salário, o trabalhador não tem um mínimo de horas a cumprir, mas deve estar disponível para quando a empresa precisar], que foi consagrado na legislação e está na origem do fenômeno dos ‘uber jobs’, enquanto os migrantes continuam sendo fundamentais tanto como mão de obra para o funcionamento dessas economias, quanto como bodes expiatórios para as mazelas sociais em tempos de economia conturbada.
No Brasil, um país de escala continental, as desigualdades regionais que mantiveram historicamente uma rotação interna do trabalho sempre recorreram, para fornecer essa flexibilidade, a regimes de emprego inescrupulosos, como artigos posteriores explorariam ainda mais. Após um breve período, entre 2003 e 2010, em que o Brasil foi indicado pela OECD como um dos poucos países (ao lado de Bolívia, Venezuela e Equador) a reduzir o abismo da desigualdade, esse abismo vem se aprofundando novamente sob o atual regime. Além dos cortes nos serviços públicos e nos pagamentos, um dos bastiões da lei trabalhista, admirado por muitos analistas estrangeiros, foi destruído para maximizar a flexibilidade do trabalho. Ainda estamos para ver o que significará precisamente o fim de qualquer limite para a terceirização, quando 1,5 milhões dos trabalhadores com piores salários já têm algum tipo de dívida para com seus empregadores, ou quando apenas 34,7% dos trabalhadores rurais possuem algum tipo de documento de trabalho legal.
Os dados do Ministério do Trabalho e do Emprego deixaram claro, no entanto, que existe uma relação inversa entre os esforços para erradicar o trabalho em condições de quase escravidão, e a consolidação das condições flexíveis de trabalho em favor do empregador Nos últimos vinte anos no Brasil, 90% dos 50 mil trabalhadores encontrados em condições de quase escravidão eram terceirizados.
Nos artigos que se seguem ouviremos trabalhadores rurais da produção de açúcar e etanol em São Paulo e Goiás, aqueles que protestaram contra as condições de trabalho na construção da hidrelétrica no Acre, trabalhadores haitianos da construção e da agricultura em São Paulo e no Paraná, e também trabalhadores dos movimentos de lutar pela terra tanto do Brasil quanto da Escócia decididos a encontrar sua autonomia duante dessa relação capital-salário. O propósito desta modesta contribuição é tornar visíveis as implicações muitas vezes invisíveis dos novos desenvolvimentos vistos por um espectro de instituições estatais e multinacionais como progressos mas que se apoiam em uma exploração indefensável e ainda maior de recursos naturais e de seres humanos. E também tornar visíveis as lutas daqueles que vivem, enfrentam e resistem a essa expansão das fronteiras agrícolas e industriais, imaginando e criando uma realidade diferente. Nossa aspiração é que os leitores compartilhem as conclusões dos colaboradores de que essas relatos não são ‘interessantes’, mas vitais, que injustiça não deve ser enfrentada apenas por eles, mas que a humanidade requer uma co-produção mais decidida do conhecimento através das fronteiras que nós mesmos construímos. Para a comunidade dos pesquisadores, profissionais envolvidos em planejamento urbano, construção, educação, outros setores emergentes da economia que não aceitam o status quo, os relatos nos desafiam a considerar como romper barreiras entre nós e como, ao lado de comunidades, organizações sociais, organizações dos trabalhadores, e informam a construção de alternativas muito necessárias.
Pois, segundo Ursula Huws,
“vista da perspectiva das mulheres, e, a bem dizer, da perspectiva da maioria da força de trabalho em muitos países em desenvolvimento, a precariedade é a condição normal do trabalho no capitalismo. Diante das enormes assimetrias entre capital e trabalho, o que precisa ser explicado não é tanto como essa precarização veio a existir, mas como é possível que em determinadas épocas e em determinados locais, alguns grupos de trabalhadores conseguiram se organizar efetivamente para conquistar algum grau de segurança econômica e estabilidade ocupacional.”
Huws, U. (2011) ‘Passing The Buck: Corporate Restructuring and the Casualisation of Employment’, in Work, Organisation, Labour and Globalisation, 5:1 pp 1-10.