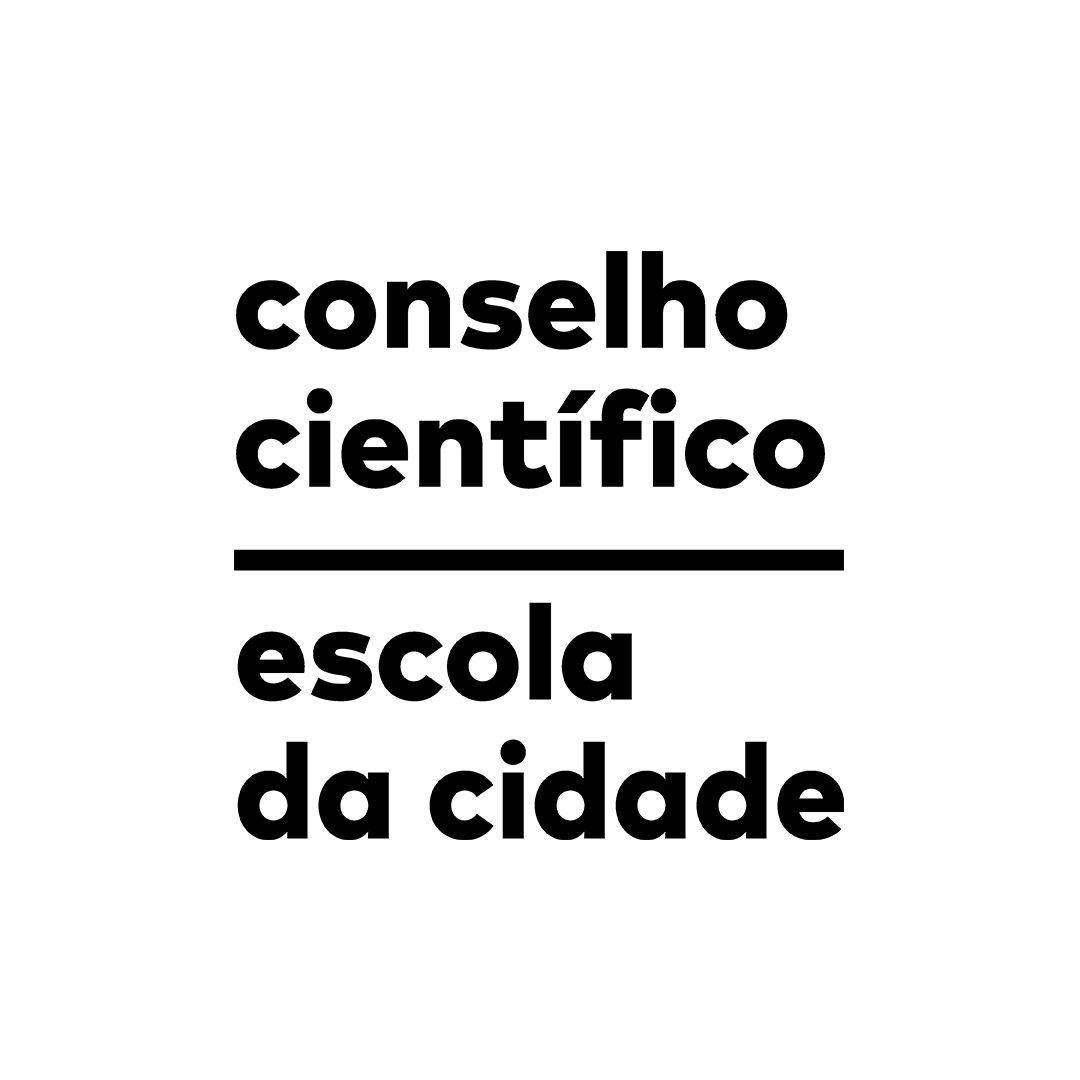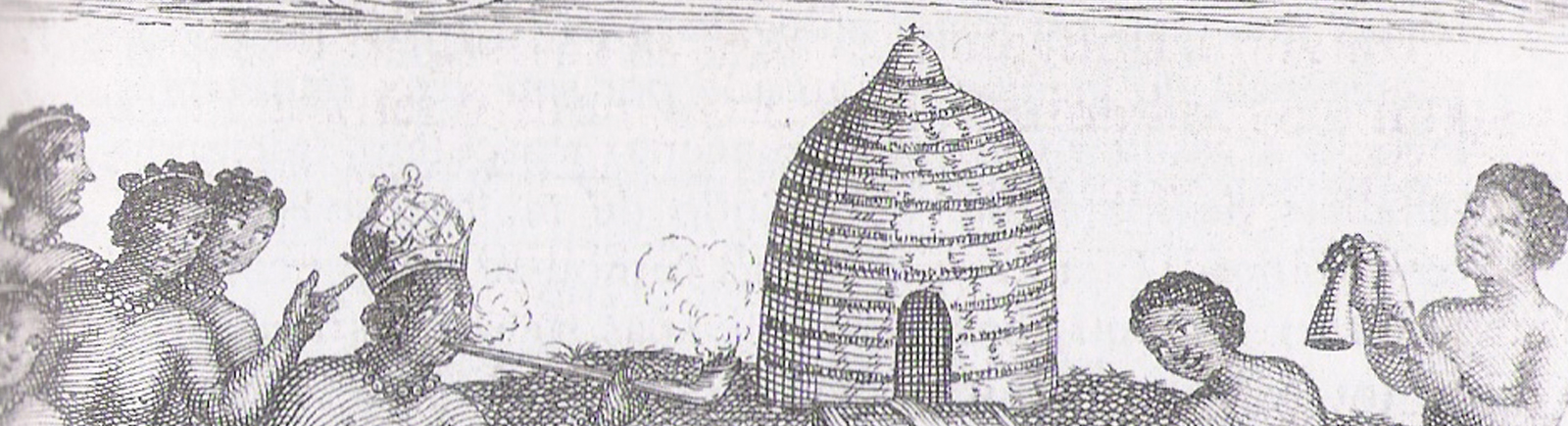
Começo por três evocações que representam formas distintas de viver e pensar a diáspora:
Por que me fez Deus um pária e um estrangeiro em minha própria casa?
(…) somos ainda hoje uns desterrados em nossa terra.
Nós, crianças do futuro, como poderíamos nos sentir em casa nos dias de hoje?
Na primeira frase, William Du Bois fala da diáspora como dupla consciência cindida: um americano, um negro:
Sensação estranha (…) sensação de se estar sempre a olhar para si mesmo através dos olhos dos outros, de medir a nossa alma pela bitola de um mundo que nos observa com desprezo trocista e piedade. (…) duas almas, dois pensamentos, dois anseios irreconciliáveis; dois ideais em contenda num corpo escuro que só não se desfaz devido à sua força tenaz.
Sentimento expresso em The Souls of Black Folk, Estados Unidos da América, 1903, noventa anos depois projetado, por Paul Gilroy, como utopia de libertação no Atlântico Negro. Na segunda frase, Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil (1936), fala desde uma perspectiva de estranhamento europeu, que busca uma síntese própria, branca e modernista, entre a natureza americana e a cultura ibérica. Por último, Friedrich Nietzsche estabelece o desterro como condição humana na modernidade, como devir, vir-a-ser. Partimos de barco, singrando a Calunga Grande, para investigar alguns significados e experiências históricas relacionadas às palavras “diáspora” e “colonização”.
A diáspora judaica
A palavra grega “diáspora” significa dispersão, espalhamento. Deriva do termo grego diasperien. O prefixo “dia-” significa “através de”, “ao longo de”, “durante”, “por meio de”, “por causa de”. Reveste as acepções de separação, dissociação, dispersão, movimento e passagem. “-sperien” refere-se à “semente”, “germe”, “grão”, “sêmen” e as ações de “plantar” e “semear”. A “diáspora” estava associada às ideias de imigração e colonização da Ásia Menor e do Mediterrâneo durante a Antiguidade.
A primeira utilização da palavra como sinônimo de exílio aparece na versão grega da torá, chamada Septuagint, no livro do Deuteronômio (capítulo 28, versículo 25). Foi por meio da memória da escravidão e da perspectiva de conquista da Terra Prometida que se estabeleceu a aliança entre Deus e o povo judeu, e por meio desta constituiu-se sua identidade político-religiosa. A colonização da Palestina seria garantida por meio da sujeição e exploração dos povos autóctones. O Pentateuco legitimava a conquista e a subordinação dessas populações e foi apropriado com esse sentido durante a expansão atlântica e a construção do Estado de Israel – marcos fundamentais da construção das ideias de “modernidade” e de “Ocidente”.
Esse sentido da colonização pode ser lido na seguinte passagem do Êxodo (cap. 23, vv. 29-33):
Não os expulsarei da sua frente num ano só, para que a terra não fique deserta nem as feras se multipliquem. Eu os expulsarei pouco a pouco, até que você se multiplique e tome posse da terra. Eu marcarei as fronteiras do seu país, desde o mar Vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o rio Eufrates. Entregarei em suas mãos os habitantes da terra, para que você os expulse de sua frente. Não faça aliança com eles, nem com seus deuses. Não os deixe habitar em sua terra, para que eles não façam você pecar contra mim, adorando os deuses deles, que serão uma cilada para você.
Diáspora ou holocausto?
Os protestantes substituíram as imagens religiosas pelas palavras da bíblia e procuraram estabelecer uma interpretação estrita de seu livro sagrado. A versão protestante e anglo-saxã da conquista da América destacou a analogia com a conquista da Terra Prometida, em que os colonos não deviam se misturar (genética e culturalmente) com as populações indígenas ou africanas. A miscigenação e o sincretismo com essas populações eram a grande ameaça à autoridade de Deus. Foi a primeira referência para o apartheid anglo-saxão.
Para o catolicismo, a legitimidade da colonização e da sujeição de outros povos dependia da autorização papal. O tráfico europeu de escravos africanos foi autorizado pelo papa Nicolau V por meio da bula Romanus Pontifex, de 1455, nos seguintes termos:
muitos guinéus e outros negros, capturados pela força, e alguns pela troca de artigos não proibidos ou por outro contrato legítimo de compra, foram trazidos a estes reinos citados; dos quais, neles, um grande número se converteu à Fé católica, esperando-se que, com ajuda da divina clemência, se continue com estes progressos, de tal forma que estes povos se convertam à Fé ou, ao menos, que se salvem muitas almas em Cristo.
A escravidão africana recebia a chancela papal uma vez que viabilizava a conversão à fé católica, justificando o transporte dos negros da África para os espaços de domínio cristão. A colonização ocorre desde uma perspectiva europeia, em que a ocupação e exploração da terra dependiam da sujeição dos indígenas e do tráfico de escravos africanos. Este mesmo argumento pode ser observado na seguinte passagem do sermão 14, da série Maria Rosa Mística, do padre Antônio Vieira, proferido aos escravos de um engenho da Bahia, em 1633:
deveis dar infinitas graças a Deus por vos ter dado conhecimento de si, e por vos ter tirado de terras, onde vossos pais e vós vivíeis como gentios; e vos ter trazido a esta, onde instruídos na Fé, vivais como Cristãos, e vos salveis. (…) a Mãe de Deus antevendo esta vossa fé, esta vossa piedade, e esta vossa devoção, vos escolheu entre tantos outros de tantas e tão diferentes nações, e vos trouxe ao grêmio da Igreja, para que lá [na África] como vossos pais, vos não perdêsseis, e cá [no Brasil] como filhos seus, vos salvásseis. Este é o maior e mais universal milagre de quantos faz cada dia, e tem feito por seus devotos a Senhora do Rosário. (…) porque o maior milagre e a mais extraordinária mercê que Deus pode fazer aos filhos de pais rebeldes ao mesmo Deus, é que quando os pais se condenam, e vão ao inferno, eles não pereçam, e se salvem.
Neste trecho, a superação da alienação ocorre pela conversão ao cristianismo e o africano, de povo livre maldito, torna-se, por um milagre, o povo escravo escolhido. As estimativas de Philip Curtin, em The Atlantic slave trade – A census, falam em mais de dez milhões de africanos desembarcados no Novo Mundo em 350 anos de tráfico europeu de escravos. Dos quais, quatro milhões vieram para o Brasil. As estimativas atuais destacam que um número semelhante de indivíduos morreu no longo caminho desde o apresamento nos sertões africanos até o desembarque na América. Vinte milhões? Diáspora ou holocausto? Por que o “Ocidente” não reconhece os holocaustos africanos e indígenas? Fundadores dos estados modernos, de matriz imperial, e do capitalismo selvagem. Nas palavras do martiniquês Aimé Césaire:
Aquilo que [o cristão burguês do século XX] não perdoa a Hitler, não é o crime em si, o crime contra o homem, não é a humilhação do homem em si, é o crime contra o homem branco, é a humilhação do homem branco, é o de se ter aplicado à Europa processos colonialistas que até então eram reservados aos árabes da Argélia, aos coolies da Índia e aos pretos da África.
Uma leitura historiográfica
A renovação do pensamento sobre a história colonial a partir da década de 1980 esteve relacionada, nos espaços acadêmicos, à intenção de superar o paradigma marxista, que subordinava os estudos da colonização a uma perspectiva econômica. Em um contexto político mais amplo, essa conjuntura histórica se definiu pela crise do otimismo europeu acerca de sua própria sociedade, depois da Segunda Guerra Mundial e dos processos de independência na Ásia e na África, que levaram ao questionamento do papel da história como ciência legitimadora dos projetos racistas, nacionalistas e imperiais euro-americanos. A consolidação das Nações Unidas, da Comunidade Europeia e da hegemonia norte-americana no mundo, a partir do fim da década de 1970, foi o ponto de chegada desse processo, que reconfigurou as relações de poder em âmbito internacional e estabeleceu novos discursos político-científicos.
Neste contexto, houve uma inversão do sentido histórico tradicionalmente construído para descrever o relacionamento entre a Europa, a África e a América. Enquanto a nova historiografia política europeia rejeitou as noções relacionadas ao moderno conceito de “Estado” para caracterizar o poder na Europa, esses termos foram adotados por grande parte da historiografia africanista. Os estados europeus passaram a ser descritos pela ausência de centro decisório, por meio de uma visão corporativa e mesmo “descerebrada”; incapazes, portanto, de racionalizar sua administração política e imperial. Essa construção historiográfica estava de acordo com a perspectiva de um projeto “federalista” europeu definido no processo de consolidação da Comunidade Europeia e de “descolonização” de regiões da Ásia e da África. A historiografia africanista, por sua vez, descreveu a emergência dos Estados, como o Congo e o Ndongo, por meio de uma centralização política influenciada pela presença europeia. Neste caso, a historiografia deu aos estados africanos contemporâneos uma legitimidade histórica anterior à partilha e divisão imperial europeia dos séculos XIX e XX. Em relação às sociedades americanas, essa nova perspectiva da história política levou à caracterização dessas sociedades como quase autônomas, com um direito próprio, que negociavam em pé de igualdade com o rei, constituindo uma versão tropical do “Antigo Regime”.
As contribuições dessa nova historiografia política são inegáveis, particularmente pela possibilidade de um entendimento mais acurado dos mecanismos e da racionalidade política dos séculos XVI e XVII, do envolvimento de agentes americanos e africanos nesse processo, que permite a superação de um entendimento unívoco dos processos de dominação colonial. Sua consequência perigosa é o esvaziamento dos processos de dominação europeu na modernidade e no contexto de desenvolvimento do capitalismo, em que as “agências” americanas e africanas acabam por criar uma ilusão de que os sistemas modernos e contemporâneos de dominação foram o resultado de uma configuração econômica e política legitimada e construída pelas diferentes forças políticas, que agiram de forma consciente, levando em conta os contextos históricos e políticos internos, e em pé de igualdade.
O lugar em que esse perigo se revela mais patente diz respeito aos processos de dominação sobre as populações africanas e indígenas na colonização. As sociedades e autoridades africanas deixam de ser vistas como “vítimas” do tráfico europeu de escravos – que significaria uma ruptura com o processo de desenvolvimento social e político do continente – e se transformam em “agentes” que aderem, voluntariamente, ao novo sistema econômico internacional que se desenvolvia nas margens do Atlântico e se tornam responsáveis pelo seu destino histórico.
O holocausto indígena, por sua vez, é apresentado como o resultado de uma hecatombe biológica, como um processo de dominação controlado e organizado pelas próprias lideranças indígenas, ou por uma elite crioula que, em contradição com os anseios morais e humanitários da Igreja e das Coroas ibéricas – que, segundo esta historiografia, esteve na origem dos direitos humanos e do direito internacional moderno –, agiam de forma autônoma motivados pela ambição e pelas necessidades da terra. É importante reconhecer a historicidade da historiografia política que se desenvolveu entre as décadas de 1980 e os anos 2000, e analisar o processo de reconfiguração das relações de poder e das formas de dominação, atualmente legitimadas pelas noções de democracia, liberdade e direitos humanos.
Outro campo da história que se desenvolveu nos últimos anos foi o dos estudos culturais e literários. Autores como Paul Gilroy e Stuart Hall propuseram novas formas de pensar a diáspora. Para Hall:
O conceito fechado de diáspora se apoia sobre uma concepção binária de diferença. Está fundado sobre a construção de uma fronteira de exclusão e depende da construção de um ‘Outro’ e de uma oposição rígida entre o dentro e o fora. Porém, as configurações sincretizadas da identidade cultural caribenha requerem a noção derridiana de différance – uma diferença que não funciona através dos binarismos, fronteiras veladas que não separam finalmente, mas são também places de passage, e significados que são posicionais e relacionais, sempre em deslize ao longo de um espectro sem começo nem fim.
No caso brasileiro, a valorização da ideia de diáspora esteve relacionada a retomada da noção de mestiçagem, como em Antônio Risério. A valorização do sincretismo e da miscigenação ainda se sobrepõe à violência da história, como amnésia, anistia. Com uma postura marcadamente antiacadêmica, Risério se insere em uma tradição literária modernista brasileira, uma espécie de intelectual tropicalista. Nos movimentos culturais, o tropicalismo, particularmente na música, mostrou-se uma potência criadora, mas suas versões intelectual e política são fracas, se aproximando da pura ideologia. Embora reconheça que o âmbito da luta política e histórica ainda é preto e branco, tenho dificuldades em ser envolvido pelos extremos desses discursos, os racialistas ou os mestiços diaspóricos, que acabam por criar um novo antagonismo, e remetem muito mais a uma disputa política intelectual, do que a vontade de pensar e transformar.
Outras perspectivas para colonização e para diáspora
Em diferentes contextos coloniais, os negros – “da terra”, africanos ou mestiços; escravos, libertos ou livres – se apropriaram da bíblia e de diferentes aspectos da ideologia ou do pensamento dominante, transformando mecanismos e discursos de dominação em formas e textos de libertação. Albert Raboteau destaca, por exemplo, que “a apropriação da história do Êxodo foi para os escravos uma maneira de articular sua consciência de identidade histórica como povo…” Os negros subverteram radicalmente os significados construídos historicamente pelo domínio colonial. Podemos fazer um exercício semelhante em relação à palavra “colonização”.
Como define Alfredo Bosi, a palavra “colonização” deriva do verbo latino colo, em que o particípio passado é cultus (culto) e o particípio futuro culturus (cultura). Colo significa “eu moro”, “eu ocupo a terra”, “eu trabalho”, “eu cultivo o campo”. E cultus, “eu cultuo os mortos”. Nas palavras de Gordon Childe, “a terra na qual repousam os antepassados é considerada como o solo do qual brota cada ano, magicamente, o sustento alimentício da comunidade.” Culturus projeta essas ações para o futuro – “o que se vai trabalhar”, “o que se quer cultivar”. Bosi define cultura como “conjunto das práticas, das técnicas, dos símbolos e dos valores que se devem transmitir às novas gerações para garantir a reprodução de um estado de coexistência social.” Está presente nessa definição o ideal pedagógico voltado para a formação do adulto na pólis e no mundo, no sentido da paideia grega.
A ideia de colonização fundamentada nas ideias de colo – ocupação e cultivo da terra –, de cultus – culto dos antepassados e da fertilidade –, e de culturus – projeto e construção de uma sociedade nova, por meio da educação –, permite uma subversão radical da história, em que os africanos, indígenas e seus descendentes se tornam os principais agentes de nosso ser e de nosso devir histórico.
Encerro este texto com três outras evocações– respectivamente de Cyril James, Thomas Eliot e Aimé Césaire – propondo que a utopia do Atlântico Negro não se limita ao lugar de libertação dos negros, é um lugar de libertação de todo homem e toda mulher.
A negritude é apenas o contributo de uma raça para o encontro onde todos lutarão pelo novo mundo da visão do poeta.
Aqui o passado e o futuro são conquistados e reconciliados…
(…) e há lugar para todos no encontro da conquista.